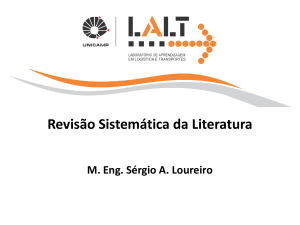UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA Ficção histórica japonesa como ponte entre o historicismo e o narrativismo Cauê Magalhães Abrantes Pinheiro caueabrantes@hotmail.com RESUMO: Um dos principais temas abordados nos estudos da história da historiografia diz respeito à maneira como o passado é representado através da narrativa histórica. No Ocidente podemos identificar dois paradigmas relevantes ao discutir essa questão: o Historicismo e o Narrativismo. Mas será que essa inquietação existe em produções historiográficas de outros países, em outras matrizes culturais? Analisaremos, brevemente, o conflito e discussões em torno desses dois paradigmas, estabeleceremos que na tradição japonesa alguns desses conflitos são encarados sob uma outra perspectiva diferente, a da ficção histórica. Será apontado em um exemplo mais atual dessa tradição, possíveis caminhos de análise que poderiam contribuir para construir novos caminhos para a entre as filosofias de pesquisa histórica e de narrativa histórica. PALAVRAS-CHAVE: historicismo, narrativismo, ficção histórica, Japão, representância. ABSTRACT: One of the major issues addressed in the studies of the history of historiography concerns is the representation of the past through historical narrative. In Western context, there are two relevant paradigms identifiable, when discussing this issue: Historicism and Narrativism. However, does this concern exist in historiographical productions from other countries, within different cultural frameworks? Conflicts and discussions sorrounding these two paradigms will be briefly analyzed, establishing that, in Japanese tradition, some of these conflicts are approached from a different perspective, that of historical fiction. It will be pointed out, through a more recent example from this tradition, possible paths of analysis that could contribute to building new bridges between the philosophies of historical research and historical narrative. KEYWORDS: historicism, narrativism, historical fiction, Japan, vertretung. O que faz algo ser uma escrita histórica? O que diferencia um texto histórico de um texto ficcional? Essa é uma inquietação bastante comum para os historiadores. A referencialidade e a busca pela verdade são critérios essenciais para a produção de um texto histórico. Muitas vezes, podemos compreender o trabalho histórico como uma combinação de duas etapas distintas: a pesquisa e a apresentação no formato narrativo. Mas será que essa inquietação existe em produções historiográficas de outros países, em outras matrizes culturais? Vivemos sob a égide eurocêntrica e academicista que impõe, problemas, questões, paradigmas como, de alguma forma, universais. A própria noção de universal pode ser posta em xeque, já que a concepção de universal é uma construção. A história foi, e é, alinhada em uma narrativa, única, linear, teleológica, como se, antes disso, nem mesmo história houvesse. A conquista e ocupação europeia é causa e justificativa, e como consequência passa a ser o modelo histórico, o qual todas as outras sociedades devem seguir. Mas será que é o único caminho possível para produção historiográfica? Exploremos, brevemente então, evolução da disciplina histórica, passando pelo historicismo e ao narrativismo. Assim como críticas ao historicismo, principalmente em relação à sua visão eurocêntrica e simplificação da história. Ao narrativismo, por sua vez, destacaremos a importância das figuras de linguagem e das tramas narrativas na construção do discurso histórico. E vejamos se esses paradigmas podem ser aplicados a outras realidades, de outras produções culturais. Quem sabe poderemos construir pontes entre esses paradigmas? Rekishishugi to “monogatarishugi”: historicismo e narrativismo O termo historicismo tem múltiplos significados e usos, mas neste texto será utilizado para se referir à consciência histórica científica dos séculos XIX e XX. Aqui o entendemos como: a prática de desenvolver um método que permita contrastar a história das ciências naturais, através da especialização, mediante o pré-requisito teórico-metodológico de um estudo rigoroso das fontes, a fim de estabelecer história com ciência.1 A profissionalização da história resultou, assim, na produção de importantes obras e no surgimento de revistas históricas, levando ao aumento significativo do número de trabalhos históricos no século XIX. Outro fator que contribuiu para esse crescimento, possivelmente, foi a consolidação dos Estados Nacionais europeus. Na Alemanha, por exemplo, historiadores estavam envolvidos em campanhas e movimentos de unificação. Essas questões ajudaram a moldar o que ficou MARTINS, Estevão de Resende (org.). A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do Século XIX. São Paulo: Contexto, 2010, pg. 6. 1 conhecido como o "século da História", embora isso não signifique que houve harmonia entre as escolas históricas em relação a concepções de método, eventos e até mesmo a própria ciência histórica. O historicismo pode ser entendido como uma filosofia da pesquisa histórica que contribuiu para a profissionalização da disciplina. No entanto, isso não significa que essa abordagem da história tenha sido amplamente aceita. No século XX, o contínuo desenvolvimento das pesquisas levou grupos a contestarem esse paradigma, inclusive considerando-o como não científico e marcado por um "realismo ingênuo". Um dos principais grupos que contestaram essa perspectiva foi o dos Annales, da França, que se concentraram na análise dos textos e dos fatos. Com o surgimento da história econômica e social, que abordava longas durações e se baseava em estruturas e mentalidades, suas teses se contrapuseram à história narrativa, que era considerada uma história centrada em eventos políticos. Contudo as práticas do historicismo perduraram no século XX, como analisado por Dipesh Chakrabarty, é alvo de críticas pertinentes. Chakrabarty argumenta que esse tipo de abordagem histórica possui limitações significativas ao tentar compreender e abarcar a complexidade das experiências históricas não ocidentais e não europeias. Uma crítica central é sua propensão a estabelecer o mundo ocidental como a medida universal de desenvolvimento. Essa abordagem histórica está intrinsecamente ligada ao projeto colonial e ao eurocentrismo, pressupondo que o progresso humano segue uma trajetória linear com a Europa como o ápice dessa evolução. Isso ignora as experiências de outros povos e culturas, reforçando a noção de superioridade do Ocidente em relação ao restante do mundo.2 Chakrabarty argumenta que esse historicismo, também falha ao desconsiderar as diferenças culturais e a diversidade das experiências históricas. Ao tentar encaixar todas as sociedades em uma única narrativa histórica, essa abordagem ignora as particularidades, lutas e perspectivas específicas de cada contexto cultural. O resultado é uma simplificação excessiva da história, que não permite uma compreensão abrangente e precisa dos eventos históricos.3 Outra crítica importante é a ênfase exagerada na linearidade temporal e na ideia de progresso. Chakrabarty argumenta que a noção de progresso linear supõe que todas as sociedades seguem uma trajetória semelhante de desenvolvimento, ignorando as diferenças históricas e culturais. Além disso, essa visão deixa de reconhecer a existência de múltiplas histórias e formas de existência simultâneas, limitando a compreensão e interpretação dos Chakrabarty, Dipesh. Al margem de Europa: Pensamiento poscolonial y diferencia histórica. Tradução: Alberto E. Álvarez e Araceli Maira. Tusquetes Editores, Barcelona, 2008. 3 Idem. 2 eventos históricos. Todos os outros povos que não estão na parte da frente dessa linha teriam que esperar sua vez na sala de espera da história, nas palavras do próprio teórico. O narrativismo surge como uma reação à filosofia analítica, que procurava impor às ciências humanas as "leis gerais" das ciências naturais, buscando assim uma unidade científica. De acordo com Paul Ricoeur, os narrativistas buscam enfatizar o caráter configurador da narrativa, ao contrário dos historiadores dos Annales, que se concentram principalmente no aspecto episódico. Aquilo que se tornou secundário na ciência histórica, ou seja, a forma como a história é apresentada, em detrimento da pesquisa4, torna-se o foco central das reflexões do pensamento histórico. Dentro do paradigma narrativistas, destaca-se Hayden White, na obra Metahistória explora a "teoria dos tropos" para investigar o que ele chama de "imaginação histórica", estabelecendo assim uma abordagem narratológica da história. White destaca o papel fundamental das palavras e expressões que aproximam a história da literatura, como "imaginação histórica", "estória da história", tropos e figuras de linguagem. Ele equipara o discurso historicista do século XIX, representado por Burckhard, Ranket, Tocqueville e outros, com as obras dos filósofos da história, como Hegel, Marx e Nietzsche. White classifica esses pensadores em categorias tetraquádruplas, relacionando-os tanto aos historiadores quanto aos filósofos. White argumenta que as grandes interpretações históricas do século XIX eram essencialmente manifestações linguísticas, resultantes de dispositivos poéticos básicos chamados tropos. Esses tropos atuavam dentro das tramas narrativas, classificando, hierarquizando e organizando os fatos históricos. Ao evidenciar que a interpretação e a análise histórica são, em sua essência, "figuras de linguagem", White desloca a história do campo das ciências para o das narrativas literárias. Ele destaca que as figuras de linguagem e as tramas narrativas não são apenas recursos retóricos, mas sim componentes estruturantes do discurso histórico. Assim, as interpretações históricas são formas pré-estruturadas de enredamento, ou seja, de construção de tramas narrativas. Antes de aplicar seu aparato conceitual à análise histórica, o historiador configura mentalmente o campo histórico, tornando-o um objeto de percepção5. A partir dessa prefiguração, as imagens do passado podem ser construídas, o que implica que a "imaginação histórica" é resultado da combinação dos elementos que compõem a interpretação histórica, entrelaçados nos tropos fundamentais. White então estabelece uma distinção 4 5 Rüsen, Jörn. História Viva. Brasília: Ed. UnB, 2007, pg. 22 White, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica do século XIX. São Paulo: EDUSP, 1992, pg.44. fundamental entre a informação histórica, obtida nas fontes, e a interpretação histórica, que organiza esses dados na forma de enredo e argumento. Para White, ao falar de "imaginação histórica" ou "imagens do passado", a imagem em si recebe uma atenção especial. Embora o autor apresente análises das imagens geradas pelos historiadores e filósofos do século XIX, usando termos como "ondas" e "metástases"6, White argumenta que essas operações não são imagéticas em si, mas sim imaginárias. A imaginação é ativada discursivamente e tem como base estrutural os tropos, que permitem que os paradigmas separados no imaginário sejam transformados em imaginação histórica, funcionando como um "método de produzir imagens"7. Os tropos são as bases estruturais e estruturantes do discurso e da interpretação histórica, mas não são as próprias imagens geradas. Originados na retórica, os quatro tipos padrões pelos quais os historiadores classificam o material histórico possuíam, cada um, quatro divisões internas de inserção classificatórias em tipos de tropos (metáfora, metonímia, sinédoque, ironia), modos de enredamento (romance, tragédia, comédia, sátira), modos de argumentação (formalismo, mecanicismo, organicismo, contextualismo) e modos de implicação ideológica (anarquismo, radicalismo, liberalismo, conservadorismo). As figuras de linguagem, segundo White, permitem classificar em ordens, classes e gêneros distintos de fenômenos, sendo operações do sentido figurado. White esclarece que os tropos são desvios do sentido literal que não são sancionados pelo senso comum ou pela lógica, mas que geram figuras de linguagem ou de pensamento. Os tropos instauram novos sentidos, expressando o que não poderia ser expresso de outra forma. O discurso é o meio pelo qual o tropo realiza plenamente essa operação, prefigurando as imagens formadas na prosa histórica. White considera o tropo como a alma do discurso histórico. Em suma, a história, para White, é uma exposição narrativa marcada por estilos, argumentos e ideologias, onde as figuras de linguagem dominantes, baseadas nos quatro principais tropos - metáfora, metonímia, sinédoque e ironia - são utilizadas na composição de imagens. Essa abordagem dá origem à "imaginação histórica", que permite a produção de múltiplas retóricas sobre o passado por meio da articulação dos recursos discursivos, gerando uma diferenciação de significado em relação ao passado. E é da convergência dessas linhas – teorias da história e reflexões sobre a ficção histórica – em cruzamentos que ocorrem em diversos sentidos, que resulta a operação de selecionar as obras ficcionais recentes e refletir sobre os modos de ficcionalização do passado histórico que praticam ou atualizam. A esse 6 7 White, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica do século XIX. São Paulo: EDUSP, 1992, pg. 260. Ricouer, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: EDUNICAMP, 2007, pg. 265. aporte teórico mesclaram-se mais duas vertentes de operadores analíticos, em decorrência dos encaminhamentos permitidos pelos textos de criação. Mobilizaram-se conceitos recorrentes nos estudos culturais, tais como identidade e comunidade, e estudos sobre os modos de atuação e narrativização da memória. Nihon no rekishishôsetsu no dentô: tradição da ficção histórica japonesa Neste trecho, examinaremos duas obras e exploraremos como a tradição japonesa pode oferecer uma perspectiva fascinante sobre as tensões entre o historicismo e o narrativismo, e como essas questões na concepção de História no Japão, parecem que não são problemas, ou até mesmo questões conflitantes. A primeira obra é Eiga Monogatari ("Tale of Flowering Fortunes” ou “Flowering Tales”)i na tradução em inglês, uma obra literária que se destaca como crônicas da vida aristocrática no período Heian (794-1185). Com seus 40 capítulos escritos entre 1028 e 1107; sendo traduzido de uma forma peculiar, pois em 1980 os 30 primeiros capítulos foram traduzidos para o inglês por William McCullough e Helen Craig McCullough como “A Tale of Flowering Fortunes”, e posteriormente os últimos 10 por Takeshi Watanabe em 2020. A obra como um todo apresenta as experiências e eventos vivenciados pela aristocracia da época, com uma narrativa que foca nos desafios, alegrias, relacionamentos e aspirações da nobreza da época. Já a segunda obra é Okagami (Grande espelho), proporcionando um vislumbre da sociedade do mesmo período, Heian, também, composto por 40 volumes, esse texto clássico, escrito por um autor desconhecido, é considerado, também, uma crônica histórica. A obra retrata as vidas e os feitos de membros da nobreza japonesa do século XI, especialmente da corte imperial de Kyoto. Ele abrange um período de quase dois séculos, desde o século IX até o início do século XI. Durante o período Heian a corte imperial de Kyoto floresceu como um centro cultural e político. A aristocracia desempenhou um papel crucial na sociedade, estabelecendo normas de comportamento, valores estéticos e relações de poder complexas. O período Heian foi marcado pela produção de uma literatura sofisticada, como poesia, prosa narrativa e diários pessoais. Em Eiga Monogatari encontramos um retrato detalhado da vida aristocrática deste período. E não apenas através dados crus sobre taxas de natalidade e mortandade, ou de figuras famosas que ganharam ou perderam seus títulos, mas também, ao mesmo tempo, através de poesia e, o mais interessante, conversas privadas dessas mesmas figuras, mesmo aquelas mantidas em locais onde nenhuma testemunha poderia ter ouvido.8 Por exemplo, o texto nos revela a prática do amor cortês, que é descrito como um jogo de trocas poéticas e mensagens codificadas, onde a expressão dos sentimentos amorosos ocorria por meio de palavras cuidadosamente selecionadas. Essa forma de amor idealizado e platônico é exemplificada pelas histórias de encontros secretos, desejos reprimidos e declarações poéticas apaixonadas entre amantes. Aborda também as obrigações familiares, um exemplo é a descrição de casamentos arranjados para fortalecer alianças políticas, frequentemente acordos estratégicos, nos quais a escolha do parceiro visava fortalecer relações políticas e garantir a preservação das linhagens aristocráticas. Esses casamentos eram parte integrante da vida aristocrática e influenciavam diretamente as relações sociais e a políticas da época. Eiga Monogatari pode permitir a compreensão de alguns aspectos da história e da cultura japonesas. Por exemplo, a obra nos proporciona uma compreensão mais aprofundada da estética valorizada no período. Através de descrições poéticas e cerimônias, somos apresentados à valorização da beleza, da harmonia e da sutileza que permeavam a vida aristocrática. Assim a estética refinada era um valor central na sociedade aristocrática, refletindo-se nas artes, na poesia e até mesmo nos arranjos florais, que eram considerados expressões de um gosto refinado9. Além disso contribui para a compreensão da própria literatura. A obra exemplifica a transição da poesia clássica para a prosa narrativa, mostrando a evolução da escrita e a adaptação de novas formas literárias, sendo um exemplo de prosa narrativa que emergiu, marcando uma mudança na literatura japonesa e estabelecendo uma nova forma de contar história10. A obra também documenta a importância da tradição oral e da transmissão de conhecimento e narrativas na sociedade da época. Okagami, escrito um pouco mais tarde, começa com dois homens extremamente velhos, um com 180 anos de idade e o outro 170 anos, relembrando eventos de muito tempo atrás, algo que demonstra elementos místicos e fantásticos na própria narrativa, onde coloca indivíduos com alguma capacidade mágica (devido a sua longevidade) ao mesmo tempo que relembram 8 Keene, Donald. Shiba Ryotaro (1923–1996). In: Five modern Japanese novelists. Columbia University Press, 2005 pg.94 9 Sorte Junior, W. F. (2018). Uma análise de valores estéticos japoneses do período Heian: Miyabi e Mono No Aware. Estudos Japoneses, (40), págs. 81-100. 10 Okimoto, Mariana O contexto de surgimento do romance de Heian: poligênese e historiografia. / Mariana Okimoto. Curitiba, 2022. histórias mais antigas do que eles mesmos, apontando a características mais marcantes da obra, sua abordagem de contar a história através de uma lente subjetiva. Ao contrário de muitas crônicas históricas que buscam uma objetividade factual, a obra mostra claramente suas preferências e opiniões. Isso pode proporcionar uma perspectiva única sobre a vida da aristocracia japonesa da época. Um exemplo marcante dessa característica é a descrição detalhada das cerimônias e rituais religiosos realizados na corte imperial de Kyoto. O texto relata que as festividades sagradas foram conduzidas com grande pompa e esplendor, com inúmeros rituais que refletiam a profunda espiritualidade da época (Okagami, Volume 2). Essas descrições fornecem um registro precioso das práticas religiosas da aristocracia japonesa, permitindo-nos compreender a importância da espiritualidade e do culto aos deuses na vida cotidiana. Outro exemplo é a detalhada forma de como a etiqueta e as interações sociais da nobreza japonesa são descritas. Por exemplo, a descrição de uma cerimônia de chá realizada na corte imperial, relatando que "os convidados se curvavam respeitosamente antes de beber o chá, seguindo as regras estritas de conduta da época" (Okagami, Volume 15). Essas descrições fornecem uma compreensão sobre a importância da cortesia e da etiqueta na sociedade aristocrática do período, demonstrando o valor atribuído às normas de comportamento e aos rituais de interação social. Além disso, a obra é uma fonte valiosa para os estudiosos interessados em compreender a evolução da língua e da escrita japonesas. O texto é uma das primeiras obras a usar a linguagem vernácula japonesa, conhecida como "kana", em vez do chinês clássico, que era a língua oficial da corte na época. Isso torna o "Okagami" uma referência fundamental para a história da língua japonesa e seu desenvolvimento literário. Eiga Monogatari e Okagami são crônicas históricas subjetivas com intenções de demonstrar o amor cortês, as obrigações familiares e a estética refinada, apresentam-se como uma tentativa de oferecer uma visão autêntica e vívida da aristocracia do período Heian, a partir delas pode-se compreender as tradições e os valores dessa própria aristocracia japonesa, assim como sua influência na literatura e seu papel na evolução da língua japonesa. Sem esquecer a influência dessas obras que permeiam até a atualidade. A reflexão sobre a interação entre narrativas literárias e história pode se basear em duas frentes de referências. A primeira aborda as relações gerais entre essas duas áreas, enquanto a segunda teoriza especificamente sobre a ficção que dialoga intensamente com a história, podendo ser chamada de romance histórico. O elemento distintivo nesse contexto é que a ficção histórica se caracteriza por uma forma particular de intertextualidade. Reconhecemos que a busca pela originalidade é ilusória na criação literária, criar na literatura significa estabelecer diálogos entre textos. No entanto, generalidades, por sua natureza definitiva, nos deixam sem palavras, frustrando nossos esforços como escritores e leitores. É necessário encontrar brechas para atribuir significado à produção de novas combinações de palavras, a novos textos. A tarefa de quem estuda consiste em investigar quais tipos de textos se entrelaçam em cada atualização e com quais resultado11. No contexto da ficção narrativa que pode ser classificada como histórica, o caráter intertextual é específico e está intrínseco no adjetivo atribuído a ela. Dentro desse palimpsesto, algumas ou muitas camadas contêm textos históricos, e até mesmo documentos, conforme é reconhecido nos estudos humanísticos atuais. Nesse sentido, a terminologia e os conceitos Gerdad Genette se mostram operacionais. A narrativa ficcional histórica é compreendida como um hipertexto que necessariamente tem a história como hipotexto. Ambos conceitos derivados da teoria literária e referem-se à relação entre diferentes textos: hipotexto é o texto original, anterior e que serve de base para outro texto, a referência primária que inspira ou é incorporada em um novo trabalho, podendo ser um texto literário, histórico, científico ou qualquer outro tipo de texto que seja fonte de inspiração para uma obra subsequente, pode ser reconhecido por meio de alusões, citações diretas ou indiretas, paráfrases ou elementos temáticos que são incorporados ao novo texto; quanto ao hipertexto é o texto que resulta da intertextualidade com o hipotexto, é uma nova obra que faz referência, dialoga ou se baseia no texto original, podendo expandir, reinterpretar, reimaginar, comentar ou subverte-lo, criando uma relação de interdependência entre os dois textos, pode ser uma reescrita, uma resposta, uma paródia, uma continuação ou qualquer forma de transformação do texto original. Esses conceitos foram originalmente aplicados à literatura, mas também podem ser utilizados em outras áreas, como história, filosofia, cinema, entre outras. A relação entre hipertexto e hipotexto permite uma compreensão mais profunda da intertextualidade e das influências mútuas entre diferentes obras literárias ou textos em geral. É importante lembrar também que abordar um romance a partir de sua relação com a história não implica em rotulá-lo definitivamente como um subgênero específico, como o romance histórico, encaixando-o em uma categoria fixa e permanente. A inclusão de uma obra em um determinado conjunto não impede automaticamente sua inclusão em outros conjuntos, resultantes de diferentes formas de agenciamento. As possibilidades não são mutuamente 11 Genette, Gérdard. Palimpsestes. Paris: Seuil, 1982. exclusivas. Ao analisar a interação entre ficção e história, é necessário considerar a mudança no padrão dessas relações decorrente das teorias da história que surgiram, em especial, pelos estudos de Hayden White. Rekishishôsetsu soshite daiyaku o tsutomeru: ficção histórica e representância Vejamos o caso particular do autor Shiba Ryôtarô, que ganhou extrema popularidade graças as suas obras, e que para tal, era necessária uma tradição cultural deste tipo de produto cultural, a ficção histórica.12 Tanto que as editoras como a Shinchōsha, Bungei shunju, Shōgakukan, que chegaram a estrar entre as sete maiores editoras do Japão, possuem vários livros, desse subgênero literário, publicados. Para escrevê-las o escritor acumulou uma grande documentação, a fim de se familiarizar com os fatos considerados oficiais por trás das histórias que escreveria; ao mesmo tempo que intuiu o que as personagens de suas histórias pensaram ou haviam dito em determinada ocasião. Os trabalhos resultantes foram considerados divertidos e populares a ponto de se tornarem bestsellers. Muitos leitores japoneses encontraram em seus romances não apenas a emoção de uma boa história, bem contada, mas também o prazer de “ter seu passado restaurado para eles”. Nas palavras do próprio autor “a herança japonesa já havia sido totalmente descartada ou então reduzidos à fantasia infantil de filmes de época”13. Para os seus leitores as figuras do passado que Shiba Ryôtarô traz em suas orbas não são fictícias; muitos descobriram que a história de seu país não consistia apenas no heroísmo de guerreiros armados com espadas, esses tinham inteligência e ideais, e se eles usassem suas espadas, não era simplesmente para mostrar sua habilidade em combate. Eles eram em sua maioria desconhecidos para seus leitores, mas Shiba Ryotaro os fez conhecidos. Essa passagem nos leva a estabelecer uma conexão com os estudos de Hayden White A fim de imaginar ‘o que realmente aconteceu’ no passado, portanto, deve primeiro o historiador prefigurar como objeto possível de conhecimento o conjunto completo de eventos referidos nos documentos. Este ato prefigurativo é poético, visto que é precognitivo e pré-crítico na economia da própria consciência do historiador. É também poético na medida em que é constitutivo da estrutura cuja imagem será subsequentemente formada no modelo verbal oferecido pelo historiador como representação e explicação daquilo ‘que realmente aconteceu’ no passado. 14(WHITE, 1992, p. 45). 12 Keene, Donald. Shiba Ryotaro (1923–1996). In: Five modern Japanese novelists. Columbia University Press, 2005 pg.94. 13 Idem, pg.95. 14 White, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica do século XIX. São Paulo: EDUSP, 1992. Seria então essa produção histórica japonesa uma possibilidade de articular a pesquisa juntamente com narrativa históricas? Na produção ocidental a explicação dos dois paradigmas serviu para perceber quando a história se aproxima de seu ideal de ciência, com um método autônomo, e quanto se aproxima da arte, se tornando um “artefato verbal”. Mas a que tudo indica essa dicotomia parece ser parte integral dessas ficções históricas japonesas. Para entender então a essa forma de produção histórica o conceito representância de Paul Ricouer nos ajude. Em determinados momentos, pode parecer que o historiador não será capaz de cumprir sua promessa de representar adequadamente o passado. Nesse contexto, Paul Ricoeur esclarece que essa dúvida não deve se limitar apenas à etapa da representação escrita, mas também abranger sua interação com estágios anteriores, como a explicação/compreensão e a pesquisa documental, assim como a relação entre história e memória. Muitas dessas dificuldades surgem porque a linguagem não é um meio transparente ou um espelho da realidade. Ao contrário, a linguagem seria como a base do conhecimento histórico, o que implica reconhecer a própria inteligibilidade do discurso figurativo da narrativa. Na epistemologia ricoeuriana, embora a atenção aos procedimentos formais seja importante, isso não resulta no isolamento da trama narrativa em si, pois o ato de narrar não perde sua conexão com o real. A fim de compreender a realidade do passado histórico, Ricoeur emprega o termo representância. Ele enfatiza que essa investigação transcende a epistemologia e se insere em uma ontologia da existência histórica conhecida como condição histórica.15. Nas suas próprias palavras: (...)“representância” condensa em si todas as expectativas, todas as exigências e todas as aporias ligadas ao que chamamos em outro momento de intenção ou intencionalidade histórica: ela designa a expectativa ligada ao conhecimento histórico das construções que constituem reconstruções do curso passado dos acontecimentos16. Representância é um conceito fundamental que abrange a capacidade humana de criar, utilizar e interpretar símbolos e narrativas. Ricouer entende a representância como uma atividade que permite a construção de significados e a comunicação entre os seres humanos. A narrativa desempenha um papel central na teoria de representância. Ele considera a narrativa como uma forma privilegiada de representação, pois nos permite dar sentido à experiência humana ao construir uma estrutura temporal significativa. Através da narrativa, organizamos eventos em uma sequência causal, atribuímos significado a eles e construímos identidades 15 16 Ricouer, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: EDUNICAMP, 2007. Idem, pg. 359. pessoais e coletivas. 17A narrativa é uma forma de representância que une passado, presente e futuro, criando um sentido de continuidade e orientação em nossas vidas.18 Representância, reconhece que a interpretação desempenha um papel fundamental. A interpretação é o processo pelo qual atribuímos significado aos símbolos e às narrativas. Ele argumenta que a interpretação não é um ato subjetivo arbitrário, mas um esforço hermenêutico que requer diálogo e reflexão. Através da interpretação, buscamos compreender a intenção do autor, o contexto histórico e cultural, bem como a multiplicidade de significados possíveis. A interpretação, portanto, envolve uma interação dinâmica entre o texto ou o símbolo e o intérprete, onde a compreensão emerge por meio do diálogo entre ambos.19 O conceito não se limita apenas à esfera textual ou literária, mas está presente em todas as formas de comunicação humana. Ela permeia nossa experiência cotidiana, nossas instituições sociais, nossa memória coletiva e nossa compreensão do mundo. Através da representância, construímos significados compartilhados e criamos uma realidade simbólica na qual podemos nos orientar20. Além disso, alguns comentaristas apontam a representância como fundamental para o realismo crítico da epistemologia histórica de Ricoeur, que se situa entre um realismo objetivista e o relativismo, como Oliver Mongin e Johan Michel. Utilizar o termo "representância" em vez de "representação”, tem como objetivo a especificidade da referência ou da interseção entre a realidade e história, com alguns pressupostos. De que a realidade histórica é um vestígio, já que nosso acesso ao passado ocorre por meio de testemunhos ou outras fontes documentais. E que as reconstruções historiográficas são consideradas em relação ao avoir été, o ter sido21. A representância, de acordo com Johan Michel, permite que escapemos dos extremismos do relativismo e do realismo ingênuo22. Podemos achar essa representância nas relações das obras de Shiba Ryôtarô? Em 1863, um grupo de jovens foi organizado pelo Tokugawa Bakufu (março de 1603 a maio de 1868) para formar uma força de segurança chamada milícia, ou grupo, Shinsenii, em japonês Shinsengumi, com o objetivo de subjugar grupos considerados, pelo governo, rebeldes23. Em menos de seis anos, o grupo foi debandado devido estabelecimento do governo Meiji (25 de 17 Idem. Ricoeur, Paul.Temps et récit. 3 tomes. Paris: Éditions du Seuil, 1991. (Collection Points Essais). 19 Ricouer, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: EDUNICAMP, 2007. 20 Ricoeur, Paul. Teoria da interpretação. O discurso e o excesso de significação. trad. de Artur Mourão. Lisboa: Ediçõesd 70, s/d. 21 Mongin, Olivier. Paul Ricoeur. Paris: Seuil, 1994. 22 Michel, Johann. Paul Ricoeur: une philosophie de l’agir humain. Paris: Éditions du CERF, 2006. 23 Matsuura, Rei. Shinsengumi. Tokyo: Iwanami shoten, 2001. 18 janeiro de 1868 a 30 de julho de 1912), sendo marginalizado da história nacional devido à sua postura política, considerada subversiva pelo novo regime, e à contribuição limitada, se é que houve alguma, para a formação da moderna nação japonesa24. Sua história permaneceu um tabu até a década de 1960, mesmo com tentativas por parte de jornalistas e historiadores, como Shimozawa Kan e Hirao Michio, de renovar essa história nos anos 20 quando a cultura de massa japonesa pré-guerra atingiu o ápice e a Restauração Meiji se tornou parte da história nacional25. Shiba Ryōtarō, publica, de forma seriada, entre 1962 e 1964 o romance "Queime! Ó espada", Moeyo Ken, no original, sendo que muitos creditam a popularidade da obra a elevação dos membros do Shinsengumi a heróis contraculturais26. Já que as personagens são representadas com uma estética hiper masculina, ao transformar um grupo de jovens comuns em uma organização guerreiros letais, que conheceriam da glória e até a desgraça, quando das suas mortes nas mãos do exército Meiji. A obra foi serializada em um momento em que a sociedade japonesa exigia conformismo diligente dos indivíduos, ao mesmo tempo que se aflorava uma sociedade de consumo em massa; muitos leitores, frustrados pelas mudanças rápidas sociais e tecnológicas, juntamente com as amarras sociais, foram atraídos pela caracterização desses membros como heróis autônomos, pois não estavam presos a determinações sociais de classe, e anacrônicos, já que lutavam contra a modernização da sociedade japonesa usando armas e valores considerados arcaicos27. A partir de então inúmeras obras envolvendo essa figura histórica, entre romances, filmes, quadrinhos, animações e jogos eletrônicos28, floresceram no Japão. Em especial, a partir de 1998 um festival passou a ser celebrado na cidade de Hino, onde o grupo se organizava. Neste festival pessoas de vários grupos sociais, historiadores acadêmicos e amadores, fãs de animações e quadrinhos, jogadores de videogame, cosplayers (pessoas que gostam de se fantasiar de personagens), além de membros da comunidade e do comércio local, se unem para promover o evento. Miyachi, Masato. Rekishi no naka no shinsengumi [Dentro da História do Shinsengumi]. Tokyo: Iwanami shoten, 2004. 25 Suekuni, Yoshimi. ‘Kokumin bungaku ni natta shinsengumi [A transformação do Shinsengumi em Literatura Nacional]’, Rekishi yomibon, September (2012): 226-231. 26 Miyachi, Masato. Rekishi no naka no shinsengumi [Dentro da História do Shinsengumi]. Tokyo: Iwanami shoten, 2004. 27 Ozaki, Hotsuki. Taishū bungaku [Literatura Popular]. Tokyo: Kinokuniya shoten, 1964. 28 Lee, Rosamond. Becoming-minor through Shinsengumi: A sociology of popular culture as a people’s culture. Semantic Scholar, 2014. Disponível em: www.semanticscholar.org/paper/Becoming-minor-throughShinsengumi%3A-A-sociology-of-Lee/1164773249551ab4b40c76b4e3bf7af89e1a2270. Acesso em: 13/07/2023, pg. 07-10. 24 Em Hino, a capacidade simbólica do Shinsengumi de encarnar diferentes relações facilita a conexão entre indivíduos com desejos e intenções distintas, à medida que se reúnem em um espaço público concreto. Mesmo que esses atores não compartilham uma definição única, encontramos representações desse grupo como uma base em sintonia com as vicissitudes sócio-históricas, permitindo que grupos distintos recontem suas realidades históricas na forma de história e cultura popular, ou melhor dizendo construam seus elementos de representância. Em outras palavras, fenomenologicamente, a obra de Shiba Ryôtarô dá origem a processos de representância do Shinsengumi, que poderiam representar ao mesmo tempo, para os organizadores de festivais locais, eles são underdogs hiper-masculinos com ambições selvagens29, para uma jovem mulher, samurais transformados em vampiros sexys, de um videogame, os quais elementos de queering podem ser encontrados30; para os leitores de um mangá para meninos, eles são jovens socialmente desajeitados, com olhos apenas para seus hobbies e amigos; ou. Ao mesmo tempo, é considerado como história real, que constrói valores reais para pessoas no cotidiano. Os vários interessados podem, assim, trocam suas compreensões pessoais sobre história e realidades sociais, sem a necessidade de alinhar seus interesses, desde que concordem com a indefinibilidade do símbolo, através da interpretação dessas obras históricas ficcionais encontramos significado nos símbolos e nas narrativas, ou seja, representância. Hashiwatashi: construindo pontes O termo hashiwatashi (橋渡し) em japonês pode ser traduzido como construir pontes, tanto no singular quanto no plural, mas também pode ser traduzido como mediação. As obras de Shiba Ryôtarô permitiram que os leitores japoneses se reconectassem com seu passado histórico, suas obras resgataram personagens históricos menos conhecidos, revelando suas inteligências, ideais e motivações, e proporcionaram aos leitores o prazer de ter seu passado restaurado para eles. A representância abrange a capacidade humana de criar, interpretar e comunicar símbolos e narrativas, e desempenha um papel fundamental na construção de significados e na compreensão da experiência humana. A narrativa é uma forma privilegiada de representância, permitindo a organização temporal dos eventos e a construção de identidades 29 Idem, pg. 10-15. Hasegawa, Kazumi. Falling in Love with History: Japanese Girls’ Otome Sexuality and Queering Historical Imagination. Emory University. In: Kapell, M.W., & Elliott, A.B. Playing with the Past: Digital games and the simulation of history. New York: Bloomsbury Academic. 2013, pg. 143-145. 30 pessoais e coletivas. A representância está presente nas obras de Shiba Ryôtarô, que resgatou a história do grupo Shinsengumi, anteriormente marginalizado na história nacional japonesa. Permitiram, ainda, diferentes interpretações e representações desse grupo, conectando pessoas com diferentes desejos e intenções. A representância oferece a possibilidade de trocar compreensões pessoais sobre a história e as realidades sociais, encontrando significado nos símbolos e nas narrativas. Em resumo, as obras de ficção histórica japonesa permitiram que os leitores se reconectassem com seu passado histórico, resgatando personagens e eventos menos conhecidos. Através da representância, diferentes interpretações e significados foram atribuídos a essas obras, promovendo a compreensão e a troca de ideias sobre a história e a realidade social. Podemos, então, construir uma história que integre pesquisa histórica e narrativa histórica. Essa possibilidade nos coloque que os dois paradigmas, a história que se aproxima do seu ideal científico, e a história quando se assemelha à arte, não precisam necessariamente estar tão distantes, em especial quando observamos como referencial textos e experiências históricas de outras matrizes culturais. Mesmo com histórias fictícias e fantásticas povos diferentes aprendem sobre seu passado, sua cultura, seus possíveis lugares socais, como também criam suas realidades e pertencimentos na sociedade e no mundo. Referências bibliográfica CHAKRABARTY, Dipesh. Al margem de Europa: Pensamiento poscolonial y diferencia histórica. Tradução: Alberto E. Álvarez e Araceli Maira. Tusquetes Editores, Barcelona, 2008. GENETTE, Gérdard. Palimpsestes. Paris: Seuil, 1982. HASEGAWA, Kazumi. Falling in Love with History: Japanese Girls’ Otome Sexuality and Queering Historical Imagination. Emory University. In: Kapell, M.W., & Elliott, A.B. Playing with the Past: Digital games and the simulation of history. New York: Bloomsbury Academic. 2013, pg. 143-145. KEENE, Donald. Shiba Ryotaro (1923–1996). In: Five modern Japanese novelists. Columbia University Press, 2005. LEE, Rosamond. Becoming-minor through Shinsengumi: A sociology of popular culture as a people’s culture. Semantic Scholar, 2014. Disponível em: www.semanticscholar.org/paper/Becoming-minor-through-Shinsengumi%3A-A-sociologyof-Lee/1164773249551ab4b40c76b4e3bf7af89e1a2270. Acesso em: 13/07/2023, pg. 07-10. MARTINS, Estevão de Resende (org.). A história pensada: teoria e método na historiografia europeia do Século XIX. São Paulo: Contexto, 2010. MATSUURA, Rei. Shinsengumi. Tokyo: Iwanami shoten, 2001. MICHEL, Johann. Paul Ricoeur: une philosophie de l’agir humain. Paris: Éditions du CERF, 2006. MIYACHI, Masato. Rekishi no naka no shinsengumi [Dentro da História do Shinsengumi]. Tokyo: Iwanami shoten, 2004. MONGIN, Olivier. Paul Ricoeur. Paris: Seuil, 1994. OKIMOTO, Mariana. O contexto de surgimento do romance de Heian: poligênese e historiografia. Orientador: Prof. Dr. Pedro Dolabela Chagas. 2022. Dissertação (Mestrado) Curso de Letras, Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba 2022. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/80994/R%20-%20D%20%20MARIANA%20OKIMOTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 julho de 2023. OZAKI, Hotsuki. Taishū bungaku [Literatura Popular]. Tokyo: Kinokuniya shoten, 1964. SORTE JUNIOR, W. F. (2018). Uma análise de valores estéticos japoneses do período Heian: Miyabi e Mono No Aware. Estudos Japoneses, (40), págs. 81-100. SUEKUNI, Yoshimi. Kokumin bungaku ni natta shinsengumi [A transformação do Shinsengumi em Literatura Nacional]’, Rekishi yomibon, September (2012): 226-231. RICOUER, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: EDUNICAMP, 2007, pg. 265. ___________. Temps et récit. 3 tomes. Paris: Éditions du Seuil, 1991. (Collection Points Essais). ___________. Teoria da interpretação. O discurso e o excesso de significação. trad. de Artur Mourão. Lisboa: Ediçõesd 70, s/d. RÜSEN, Jörn. História Viva. Brasília: Ed. UnB, 2007, pg. 22 WHITE, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica do século XIX. São Paulo: EDUSP, 1992. A tradução desse termo é complexa pois é a primeira palavra é composta por 2 ideogramas 栄(que faz parte de palavras como glória ou prosperidade, e dos verbos prosperar ou ser atraente) e 花 (flor), mas a tradução dos dois ideogramas juntos é “prosperidade” ii Os ideogramas usados para escrever o nome do gupo são dois 新選組 ou 新撰組 (que significam a mesma coisa) o grupo dos novos escolhidos, o termo para grupo ou milícia é usado até hoje para várias finalidades, de grupos empresariais, como Toyotagumi, até para famílias da máfia japonesa, como Yamaguchigumi. i