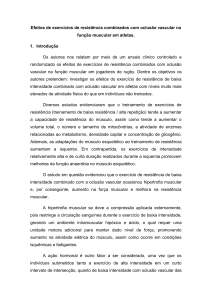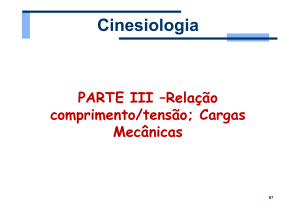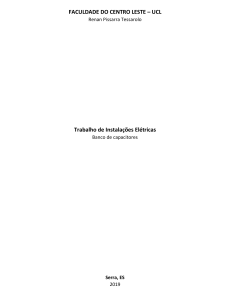Nutrição Esportiva e Funcional: Sistema Muscular e Adaptações
advertisement

‘’ SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 4 2 SISTEMA MUSCULAR ............................................................................... 5 3 4 5 2.1 Contração muscular e fibras ................................................................. 5 2.2 Tecido muscular estriado esquelético .................................................. 6 2.3 Tecido muscular liso ............................................................................. 6 2.4 Tecido muscular estriado cardíaco ....................................................... 6 2.5 Músculo esquelético ............................................................................. 7 2.6 Aporte sanguíneo ................................................................................ 7 2.7 Etapas da contração muscular ............................................................. 8 2.8 Mecanismos da contração muscular .................................................... 9 2.9 Hipertrofia x Hiperplasia ...................................................................... 9 CÂIMBRAS E FADIGA MUSCULAR ........................................................ 11 3.1 Déficit de O2 ....................................................................................... 13 3.2 Definição de VO2Max ......................................................................... 13 3.3 Como o Vo2Max é medido? ............................................................... 14 RECUPERAÇÃO APÓS O EXERCÍCIO ................................................... 15 4.1 Definição de EPOC e sua relação com a intensidade do exercício .... 15 4.2 Limiar de lactato ................................................................................. 16 ADAPTAÇÕES NA UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS DURANTE O TREINAMENTO .................................................................................. 17 6 PROTEÍNAS NA DIETA ........................................................................... 18 6.1 Carboidratos ....................................................................................... 20 6.2 Lipídios ............................................................................................... 22 1 7 ESTRESSE OXIDATIVO, DEFESA ANTIOXIDANTE E ATIVIDADE FÍSICA ...................................................................................................................23 8 9 7.1 O que é estresse oxidativo? .............................................................. 25 7.2 Detecção direta da produção de radicais livres .................................. 25 7.3 Detecção de produtos derivados do ataque de radicais livres ............. 26 7.4 Como é monitorado o dano muscular? ............................................... 26 7.5 Adaptação do sistema antioxidante ao exercício ................................ 26 7.6 Outras adaptações induzidas pelo exercício ...................................... 27 7.7 Relação entre ROS e fadiga muscular ............................................... 27 7.8 Relação entre ROS e lesão muscular e inflamação ........................... 28 VITAMINAS E MINERAIS ......................................................................... 28 8.1 Vitaminas:........................................................................................... 29 8.2 Vitaminas lipossolúveis ...................................................................... 30 8.3 Vitaminas hidrossolúveis .................................................................... 31 8.4 Minerais .............................................................................................. 33 8.5 Macrominerais .................................................................................... 34 8.6 Microminerais ..................................................................................... 34 ADAPTAÇÕES AO EXERCÍCIO EM DIFERENTES POPULAÇÕES ....... 38 9.1 Força .................................................................................................. 39 9.2 Mulheres vs. Homens ......................................................................... 39 9.3 Obesidade .......................................................................................... 40 9.4 Envelhecimento .................................................................................. 40 10 DOPING .................................................................................................... 41 10.1 Doping no esporte ........................................................................... 42 11 ESTEROIDES ANABOLIZANTES ........................................................... 42 11.1 Estimulantes.................................................................................... 43 2 11.2 Anfetaminas .................................................................................... 44 11.3 Metilxantinas ................................................................................... 44 11.4 Hormônios peptídicos ..................................................................... 45 11.5 Eritropoietina ................................................................................... 46 11.6 Suplementos voltados para a hipertrofia muscular ......................... 47 11.7 Hidratação ....................................................................................... 47 12 BIOMARCADORES ESPORTIVOS IMPORTANTES ............................... 49 13 NUTRIÇÃO FUNCIONAL.......................................................................... 50 13.1 Princípios da nutrição funcional ...................................................... 51 14 ALIMENTOS FUNCIONAIS: DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA ......................................................................................................... 54 15 LEGISLAÇÃO APLICADA AOS ALIMENTOS FUNCIONAIS ................... 57 16 PRINCIPAIS ALIMENTOS ESTUDADOS E SUAS ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS ............................................................................... 59 17 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 63 3 1 INTRODUÇÃO Prezado aluno! O Grupo Educacional FAVENI, esclarece que o material virtual é semelhante ao da sala de aula presencial. Em uma sala de aula, é raro - quase improvável - um aluno se levantar, interromper a exposição, dirigir-se ao professor e fazer uma pergunta , para que seja esclarecida uma dúvida sobre o tema tratado. O comum é que esse aluno faça a pergunta em voz alta para todos ouvirem e todos ouvirão a resposta. No espaço virtual, é a mesma coisa. Não hesite em perguntar, as perguntas poderão ser direcionadas ao protocolo de atendimento que serão respondidas em tempo hábil. Os cursos à distância exigem do aluno tempo e organização. No caso da nossa disciplina é preciso ter um horário destinado à leitura do texto base e à execução das avaliações propostas. A vantagem é que poderá reservar o dia da semana e a hora que lhe convier para isso. A organização é o quesito indispensável, porque há uma sequência a ser seguida e prazos definidos para as atividades. Bons estudos! 4 2 SISTEMA MUSCULAR Fonte: Pixabay.com O sistema muscular é composto pelos diversos músculos do corpo humano. Os músculos são tecidos, cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e produção de movimentos. As fibras musculares, por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso, que se encarregam de receber a informação e respondê-la realizando a ação solicitada. 2.1 Contração muscular e fibras Os músculos são órgãos constituídos principalmente por tecido muscular, especializado em contrair e realizar movimentos, geralmente em resposta a um estímulo nervoso e podem ser formados por três tipos básicos de tecido muscular: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular liso e tecido muscular estriado cardíaco. 5 2.2 Tecido muscular estriado esquelético Apresenta, sob observação microscópica, faixas alternadas transversais, claras e escuras. Essa estriação resulta do arranjo regular de microfilamentos formados pelas proteínas actina e miosina, responsáveis pela contração muscular. A célula muscular estriada chamada fibra muscular, possui inúmeros núcleos e pode atingir comprimentos que vão de 1mm a 60 cm. 2.3 Tecido muscular liso Está presente em diversos órgãos internos (tubo digestivo, bexiga, útero, etc) e também na parede dos vasos sanguíneos. As células musculares lisas são uninucleadas e os filamentos de actina e miosina se dispõem em hélice em seu interior, sem formar padrão estriado como o tecido muscular esquelético. A contração dos músculos lisos é geralmente involuntária, ao contrário da contração dos músculos esqueléticos. 2.4 Tecido muscular estriado cardíaco Está presente no coração. Ao microscópio, apresenta estriação transversal. Suas células são uninucleadas e têm contração involuntária. As células musculares cardíacas são capazes de autoestimulação, não dependendo de um estímulo nervoso para iniciar a contração. As contrações rítmicas do coração são geradas e conduzidas por uma rede de células musculares cardíacas modificadas que se localizam logo abaixo do endocárdio, tecido que reveste internamente o coração. Existem numerosas terminações nervosas no coração, mas o sistema nervoso atua apenas regulando o ritmo cardíaco às necessidades do organismo. 6 2.5 Músculo esquelético Antes de prosseguir deve-se recordar que os músculos esqueléticos não podem executar suas funções sem suas estruturas associadas. Os músculos esqueléticos geram a força que deve ser transmitida a um osso através da junção músculo-tendão. As propriedades destes elementos estruturais podem afetar a força que um músculo pode desenvolver e o papel que ele tem em mecânicos comuns. O movimento depende da conversão de energia química do ATP (adenosina trifosfato) em energia mecânica pela ação dos músculos esqueléticos. O corpo humano possui mais de 660 músculos esqueléticos envolvidos em tecido conjuntivo. As fibras são células musculares longas e cilíndricas, multinucleadas que se posicionam paralelas umas às outras. O tamanho de uma fibra pode variar de alguns milímetros como nos músculos dos olhos a mais de 100mm nos músculos das pernas. 2.6 Aporte sanguíneo Durante o exercício, a demanda por oxigênio é de 4.0L/min e a tomada de oxigênio pelo músculo aumenta 70 vezes, 11ml/110g/min, ou seja, um total de 3.400ml por minuto. Para isso, a rede de vasos sanguíneos fornece enormes quantidades de sangue para o tecido. Aproximadamente 200 a 500 capilares fornecem sangue para 2 cada mm de tecido ativo. Com treinamentos de resistência, pode haver um aumento na densidade capilar dos músculos treinados. Além de fornecer oxigênio, nutrientes e hormônios, a microcirculação remove calor e produtos metabólicos dos tecidos. Há estudos utilizando microscopia eletrônica que mostram que em atletas treinados, a densidade de capilares é cerca de 40% maior do que em pessoas não treinadas. Essa relação era aproximadamente igual à diferença na tomada máxima de oxigênio observada entre esses dois grupos. Para entender a fisiologia e o mecanismo da contração muscular, devemos conhecer a estrutura do músculo esquelético. Os músculos esqueléticos são compostos de fibras musculares que são organizadas em feixes (fascículos). 7 Os miofilamentos compreendem as miofibrilas, que por sua vez são agrupadas juntas para formar as fibras musculares. Cada fibra possui uma cobertura ou membrana, o sarcolema, e é composta de uma substância semelhante à gelatina, sarcoplasma. Centenas de miofibrilas contráteis e outras estruturas importantes, tais como as mitocôndrias e o retículo sarcoplasmático, estão inclusas no sarcoplasma. 2.7 Etapas da contração muscular O início e a execução da contração muscular ocorrem nas seguintes etapas: • Um potencial de ação trafega ao longo de um nervo motor até suas terminações nas fibras musculares; • Em cada terminação, o nervo secreta uma pequena quantidade de substância neurotransmissora: a acetilcolina; • Essa acetilcolina atua sobre uma área localizada na membrana da fibra muscular, abrindo numerosos canais acetilcolina-dependentes dentro de moléculas proteicas na membrana da fibra muscular; • A abertura destes canais permite que uma grande quantidade de íons sódio flua para dentro da membrana da fibra muscular no ponto terminal neural. Isso desencadeia potencial de ação na fibra muscular; • O potencial de ação cursa ao longo da membrana da fibra muscular da mesma forma como o potencial de ação cursa pelas membranas neurais; • O potencial de ação despolariza a membrana da fibra muscular e também passa para profundidade da fibra muscular, onde faz com que o retículo sarcoplasmático libere para as miofibrilas grande quantidade de íons cálcio, que estavam armazenados no interior do retículo sarcoplasmático; • Os íons cálcio provocam grandes forças atrativas entre os filamentos de actina e miosina, fazendo com que eles deslizem entre si, o que constitui o processo contrátil; • Após fração de segundo, os íons cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático, onde permanecem armazenados até que um novo potencial de ação chegue; essa remoção dos íons cálcio da vizinhança das miofibrilas põe fim à contração. 8 2.8 Mecanismos da contração muscular A teoria mais aceita para a contração muscular é denominada Sliding Filament Theory, que propõe que um músculo se movimenta devido ao deslocamento relativo dos filamentos finos e grossos sem a mudança dos seus comprimentos. O motor molecular para este processo é a ação das pontes de miosina que ciclicamente se conectam e desconectam dos filamentos de actina com a energia fornecida pela hidrólise do ATP. Isto causa uma mudança no tamanho relativo das diferentes zonas e bandas do sarcômero e produz força nas bandas Z. A miosina tem um papel enzimático e estrutural na ação muscular. A cabeça globular tem atividade de ATPase ativada por actina no sítio de ligação e fornece a energia necessária para a movimentação das fibras. 2.9 Hipertrofia x Hiperplasia Hipertrofia é um aumento no tamanho e volume celular enquanto que Hiperplasia é um aumento no número de células. Ao olhar para um fisiculturista e para um maratonista, nota-se que a especificidade de um treinamento produz efeitos diferentes em cada atleta. Um treinamento aeróbico resulta em um aumento de volume/densidade mitocondrial, enzimas oxidativas e densidade capilar (devido a um aumento no número de hemácias). Nos últimos anos tem se observado o crescimento do uso dos suplementos alimentares de forma generalizada, principalmente por frequentadores de academias. Percebe-se que a mídia auxilia na formação de opiniões relacionadas ao comportamento alimentar, saúde e exercícios físicos e essas informações são cada vez mais propagadas pelos meios de comunicação, facilitando o acesso da população, entretanto, verifica-se que muitas vezes as informações veiculadas são equivocadas e podem gerar transtornos (SANTOS et al., 2016 apud SILVEIRA et al., 2019). Atletas de resistência também possuem as fibras de seus músculos treinados, menores quando comparadas com as de pessoas sedentárias e, por outro lado, fisiculturistas e outros levantadores de peso, têm músculos muito maiores. Sabe-se que o aumento de massa é devido primariamente à hipertrofia das fibras, mas há 9 situações onde a massa muscular também aumenta em resposta a um crescimento no número de células. Apesar de hiperplasia ser uma grande controvérsia entre pesquisadores da área, em modelos animais já foi demonstrado que sob certas condições podem ocorrer tanto hipertrofia quanto hiperplasia das fibras musculares, com um aumento de até 334% para massa muscular e 90% para o número de fibras. Uma das evidências da existência da hiperplasia em seres humanos, é que este processo também pode contribuir para o aumento de massa muscular. Por exemplo, um estudo feito em nadadores, revelou que estes tinham fibras do tipo I e II do músculo deltoide menores que as de não nadadores, entretanto o tamanho deste músculo era muito maior nos nadadores. Por outro lado, alguns pesquisadores mais céticos atribuem o fato de fisiculturistas e outros atletas deste tipo possuírem fibras de tamanho menor ou igual ao de indivíduos não treinados à genética: estes atletas simplesmente nasceram com maior número de fibras. Existem dois mecanismos primários pelos quais novas fibras podem ser formadas. No primeiro, fibras grandes podem se dividir em duas ou mais fibras menores. No segundo, células satélites podem ser ativadas. Células satélite são stem cells (células-tronco) miogênicas envolvidas na regeneração do músculo esquelético. Quando se danifica, estira ou exercita as fibras musculares, células satélites são ativadas. Células satélite proliferam e dão origem a novos mioblastos. Estes novos mioblastos podem tanto se fundir com fibras já existentes quanto se fundir com outros mioblastos para formar novas fibras. 10 3 CÂIMBRAS E FADIGA MUSCULAR Fonte: Pixabay.com Apesar de existirem muitas causas para câimbras musculares ou tetania, grandes perdas de sódio e líquidos costumam serem fatores essenciais que predispõem atletas a essa condição. O sódio é um mineral importante na iniciação dos sinais dos nervos e ações que levam ao movimento nos músculos. Os indivíduos têm uma baixa nas reservas de sódio no organismo e, ao transpirar quando se pratica alguma atividade física. Porém, não se deve apenas associar as câimbras musculares ao déficit do sódio no organismo, existem ainda outras causas potenciais como diabetes, problemas vasculares ou doenças neurológicas. Os atletas atribuem câimbras à falta de potássio ou outros minerais como cálcio ou magnésio e a opinião médica atual não dá apoio a esta ideia. Os músculos tendem a acumular potássio, cálcio e magnésio de forma tal que são perdidos em níveis menores na transpiração, se comparados com sódio e cloreto, sendo que a dieta geralmente fornece quantidades adequadas para prevenir déficits que iriam contribuir para a ocorrência de câimbras. A fadiga pode ser entendida como um declínio gradual da capacidade do músculo de gerar força, resultante de atividade física. Ela resulta de muitos fatores, cada um deles relacionados às exigências específicas do exercício que a produz. Esses fatores podem interagir de maneira que acabe afetando sua contração ou 11 excitação, ou ambas. As concentrações de íons de hidrogênio podem aumentar causando acidose. Os estoques de glicogênio podem diminuir dependendo das condições de contração. Os níveis de fosfato inorgânico podem aumentar. As concentrações de adenosina difosfato (ADP) podem aumentar. A sensibilidade de Ca 2+ da troponina pode ser reduzida. A concentração de íons livres de Ca 2+ dentro da célula pode estar reduzida. Pode haver mudanças na frequência de potenciais de ação dos neurônios. Uma redução significativa no glicogênio muscular está relacionada à fadiga observada durante o exercício submáximo prolongado. A fadiga muscular no exercício máximo de curta duração está associada à falta de oxigênio e um nível sanguíneo e muscular elevado de ácido lático, com um subsequente aumento drástico na concentração de H+ dos músculos que estão sendo exercitados. Essa condição anaeróbica pode causar alterações intracelulares drásticas dentro dos músculos ativos, que poderiam incluir uma interferência no mecanismo contrátil, uma depleção nas reservas de fosfato de alta energia, uma deterioração na transferência de energia através da glicólise, em virtude de menor atividade das enzimas fundamentais, um distúrbio no sistema tubular para a transmissão do impulso por toda a célula e desequilíbrios iônicos. 2+ É evidente que uma mudança na distribuição de Ca poderia alterar a atividade dos miofilamentos e afetar o desempenho muscular. A fadiga também pode ser demonstrada na junção neuromuscular, quando um potencial de ação não consegue ir do motoneurônio para a fibra muscular. O mecanismo exato da fadiga é ainda desconhecido. As cãibras musculares podem ser classificadas em três entidades: idiopáticas, incluindo cãibras noturnas nas pernas; parafisiológicas, associadas à gravidez ou induzidas pelo exercício; e sintomáticas, relacionadas com fatores etiológicos como medicação ou doenças (PARISI et al., 2003 apud PALHA et al., 2020). 12 3.1 Déficit de O2 O déficit de O2 é a diferença entre o oxigênio total consumido durante o exercício e o total que teria sido consumido se uma taxa estacionária do metabolismo aeróbio tivesse sido alcançada no início. Uma vez em déficit, o organismo busca outras fontes de O2, como aquele armazenado nos pigmentos sanguíneos e musculares (hemoglobina e mioglobina), energia das fontes energéticas imediatas (ATP, ATP-CP), metabolismo anaeróbio da glicose e do glicogênio (atividades geradoras de prótons de hidrogênio e lactato). 3.2 Definição de VO2Max VO2Max é o volume máximo de oxigênio consumido pelo corpo por minuto durante o exercício realizado no nível do mar. Como o consumo de oxigênio está linearmente relacionado com o gasto de energia, quando medimos o consumo de oxigênio, estamos medindo indiretamente a capacidade máxima do indivíduo de realizar um trabalho aeróbico. De fato, os atletas de resistência são caracterizados por possuir um ótimo sistema cardiovascular e uma capacidade oxidativa bem desenvolvida nos músculos esqueléticos. Precisamos de uma bomba eficiente para enviar o sangue rico em oxigênio para os músculos e também de músculos ricos em mitocôndrias para usar o oxigênio e sustentar altas taxas de exercício físico. É importante também considerar e compreender o papel da capacidade oxidativa do músculo. À medida que o sangue rico em oxigênio passa pela rede de capilares de um músculo esquelético em ação, o oxigênio difunde para fora dos capilares para a mitocôndria, seguindo o gradiente de concentração. Quanto maior a taxa do consumo de oxigênio pela mitocôndria, maior é a extração do oxigênio e maior a diferença entre a concentração de O2 entre o sangue arterial e venoso. O delivery é o fator limitante pois mesmo nos músculos treinados, não se pode usar o oxigênio que não é fornecido. Mas, se o sangue chega aos músculos que não são treinados, o VO2 Max será menor apesar de uma maior capacidade de delivery. 13 3.3 Como o Vo2Max é medido? Para determinar a capacidade aeróbica máxima, devemos seguir condições de exercício que demandam a capacidade máxima de delivery de sangue pelo coração. Para isso, devemos considerar as seguintes características: • Utilizar pelo menos 50% da massa muscular total. Atividades que cumprem este requisito: corrida, ciclismo, remo. O método mais comum no laboratório é a corrida em uma esteira, com inclinações e velocidades diferentes. • Ser independente da força, velocidade, tamanho do corpo e habilidades. • Ter duração suficiente para que as respostas cardiovasculares sejam maximizadas. Geralmente, testes para capacidade máxima usando exercícios contínuos são completados em 6 a 12min. • Ser feito por pessoas motivadas pois os testes para medir VO2Max são muito pesados, porém terminam rapidamente. Eis um exemplo do que ocorre durante um teste. Sua frequência cardíaca será medida e o teste se inicia por uma caminhada em uma esteira a velocidades baixas e sem inclinação. Se você estiver em forma, o teste pode ser iniciado com uma corrida leve. Então, a velocidade e/ou a inclinação da esteira são aumentadas em intervalos regulares (30s a 2min). Enquanto você corre, estará respirando por um sistema de 2 válvulas. O ar entra do ambiente, mas será expirado por sensores que medem o volume e a concentração de O2. Usando estas válvulas, a tomada de O2 pode ser calculada por um computador em cada estágio do exercício. A cada aumento na velocidade ou inclinação, uma massa muscular maior será utilizada em maior intensidade. O consumo de oxigênio irá aumentar linearmente com o aumento de carga. Porém, em algum ponto, o aumento da intensidade não irá resultar em um aumento do consumo de oxigênio. Esta é a indicação de que você atingiu o VO2Max. O valor do VO2Max pode ser dado em duas formas: absoluta, ou seja, em L/min e o valor é tipicamente entre 3 e 6 para homes e 2,5 e 4,5 para mulheres. O valor absoluto não leva em conta as diferenças de tamanho do corpo. Por isso, outra forma de expressar o Vo2Max é na forma relativa, em ml por min por kg. 14 O consumo máximo de oxigênio entre homens não treinados com aproximadamente 30 anos é aproximadamente 10-45 ml/min/kg e diminui com a idade. O indivíduo que faz exercícios regularmente pode aumentar para 50-55 ml/min/kg. Um corredor de ponta com 50 anos pode ter um valor de VO2Max maior do que 60 ml/min/kg. Já um campeão olímpico de 10.000m provavelmente apresenta um valor próximo de 80ml/min/kg. Claramente, o treino é importante, mas a genética favorável também é um fator crítico. 4 RECUPERAÇÃO APÓS O EXERCÍCIO Fonte: Pixabay.com A recuperação pós-exercício é um aspecto bastante importante dentro de todo programa de condicionamento físico, tanto para praticantes e atletas, como para técnicos e diversos profissionais ligados à área da saúde (BARNETT, 2006). Essa etapa do treinamento físico consiste em restaurar a homeostase dos sistemas orgânicos. 4.1 Definição de EPOC e sua relação com a intensidade do exercício Após uma atividade física, os processos fisiológicos do corpo não voltam imediatamente ao estado de repouso. Independente da intensidade do exercício, a 15 tomada de oxigênio durante a recuperação (pós-exercício) sempre excede o valor do repouso. Este excesso é chamado de débito de oxigênio ou Recovergy Oxygen Uptake ou EPOC (Excess Post Exercise Oxygen Consumption- excesso de oxigênio pósexercício). Ele é calculado como: (Oxigênio total consumido na recuperação) - (Oxigênio total que teria sido consumido no repouso durante o período de recuperação se o exercício não tivesse sido realizado) O EPOC tem implicações para a recuperação após o exercício que pode ser feita de forma ativa ou passiva. A forma passiva consiste em repouso, inatividade completa que reduz o requerimento de energia, liberando o O2 para o processo de recuperação. A forma ativa ou cooling down é feita com exercício aeróbio submáximo, dessa forma, o movimento aeróbio contínuo evita a fadiga e facilita a recuperação. 4.2 Limiar de lactato O limiar de lactato é a velocidade em que o indivíduo atinge a concentração mínima de lactato, ou seja, quando a taxa de produção começa a exceder a taxa de remoção. Para determinar o limiar de lactato, podemos utilizar dois procedimentos distintos: • O indivíduo em teste faz corridas de 800m e tem o lactato dosado. A primeira corrida é feita em alta velocidade, a máxima conseguida pelo indivíduo. Após uma pequena pausa, faz-se um ciclo de corridas em velocidades baixas e crescentes intercaladas com curtos descansos. Para isso, é necessário ter um controle de velocidade do atleta e um lactímetro. • Pode ser feito um teste em laboratório, utilizando estágios sucessivos de exercício em bicicleta ergométrica, esteira, etc. Inicialmente, a intensidade do exercício é de 50 a 60% do VO2Max. Cada estágio do exercício tem duração de cinco minutos. Perto do final de cada estágio, a taxa cardíaca e o consumo de oxigênio são registrados e uma amostra de sangue é coletada para a dosagem de lactato. Após essas medidas, a carga do exercício é aumentada e as 16 medidas são repetidas. Após o sexto estágio, obtém-se uma distribuição de intensidades. O limiar de lactato é quando a taxa de produção de lactato excede a taxa de remoção, correspondendo ao consumo de oxigênio de 45ml/min/kg. Geralmente determina-se o limiar de lactato em porcentagem do VO2 Max. A formação de lactato intracelular acontece devido à incapacidade de oxidar o piruvato presente na célula, devido à alta degradação da glicose para atender à necessidade energética demandada pelo esforço físico. Assim, o ácido lático produzido está relacionado ao processo de fadiga e redução da performance do atleta (HALL et al., 2016 apud MOREIRA et al., 2019). 5 ADAPTAÇÕES NA UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS DURANTE O TREINAMENTO Fonte: Pixabay.com A atividade física demanda a maior quantidade de energia, comparada com todas as outras funções metabólicas complexas que ocorrem no corpo. Durante uma corrida de velocidade ou uma competição de nado, por exemplo, o gasto de energia dos músculos ativos pode ser 100 vezes maior que o gasto em repouso. Durante um exercício menos intenso, como uma maratona, o requerimento de energia aumenta para 20 ou 30 vezes em relação com o requerido na ausência de atividade. Dependendo da intensidade e duração do exercício, os três grandes sistemas de transferência de energia existentes no corpo são requisitados em forma diferenciada e a sua contribuição relativa para o exercício é distinta. 17 As principais adaptações do corpo humano durante o treinamento são: • Ocorre alteração na capacidade de utilização dos diferentes substratos energéticos; • Há uma otimização da capacidade de utilização de lipídios pelo músculo, em detrimento dos carboidratos; • Ocorrem também alterações nos sistemas cardiovascular, endócrino e muscular – o objetivo é otimizar a produção de energia através de processos oxidativos. 6 PROTEÍNAS NA DIETA Fonte: Pixabay.com Sempre ouve-se falar que proteínas são importantes, que alguns alimentos contêm proteína, que existem dietas à base de proteína. Mas, afinal, o que é uma proteína? As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas. Alguns aminoácidos devem ser fornecidos através da dieta porque sua síntese no organismo é inadequada para satisfazer as necessidades metabólicas. Eles são chamados aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos são: treonina, triptofano, histidina, lisina, leucina, isoleucina, metionina, valina e fenilalanina. A ausência ou ingestão inadequada de qualquer desses aminoácidos resulta em balanço nitrogenado 18 negativo, perda de peso, crescimento menor em crianças e pré-escolares e sintomas clínicos. Por definição bioquímica, tem-se que: Os aminoácidos são compostos orgânicos formados por um grupo amino (NH3) associado a um grupo carboxila (—COOH). A principal função dos aminoácidos é atuar como subunidades de estruturação de moléculas proteicas (MAHAN et al., 1998, apud MARCHINI et al., 2016, p.13). Os demais aminoácidos são chamados não essenciais e são igualmente importantes na estrutura proteica. Se ocorrer deficiência na ingestão desses aminoácidos, eles podem ser sintetizados em nível celular a partir de aminoácidos essenciais ou de precursores. Aminoácidos conhecidos como condicionalmente essenciais são aqueles que se tornam indispensáveis sob certas condições clínicas. Acredita-se que a cisteína, e possivelmente a tirosina pode ser condicionalmente essencial em crianças prematuras. O aumento da ingestão de proteínas mais que três vezes o nível recomendado não aumenta o desempenho durante o treinamento intensivo. Assim, se numa dieta com excesso de proteínas o músculo não tiver condições de utilizar os aminoácidos para síntese de tecido muscular, as cadeias carbônicas serão usadas na gliconeogênese e o nitrogênio excedente excretado pela urina. O aumento da excreção de nitrogênio leva a uma maior necessidade de água, uma vez que ele é incorporado à ureia e esta à urina. Isto, em longo prazo pode sobrecarregar os rins e causar desidratação. 19 6.1 Carboidratos Fonte: Pixabay.com Os carboidratos são sintetizados pelos vegetais verdes através da fotossíntese, processo que utiliza a energia solar para reduzir o dióxido de carbono. Assim, os carboidratos atuam como reservatório químico principal da energia solar. A suplementação alimentar tem ganhado cada vez mais espaço no ambiente desportivo, terapêutico e recreacional. Compostos energéticos como os carboidratos são amplamente utilizados com diferentes finalidades, especificamente no treinamento de força o uso de carboidratos está relacionado com processos de hipertrofia muscular associados à outros macronutrientes de forma crônica (OLIVEIRA et al., 2014 apud DE MELO, et al., 2016, p. 03). Um consumo adequado de carboidratos é fundamental para pessoas ativas. Quando o suprimento de oxigênio para os músculos ativos é inadequado, o glicogênio dos músculos e a glicose do sangue são as primeiras fontes de energia. Ao estocar glicogênio os carboidratos asseguram energia para exercícios aeróbicos de alta intensidade. Assim, para pessoas ativas é importante uma dieta com 50 a 60% de calorias na forma de carboidratos predominantemente na forma de amido e fibras. Durante treinamento vigoroso e antes de competição o consumo de carboidratos pode aumentar para assegurar reservas adequadas de glicogênio. Algumas características existentes entre os carboidratos simples e complexos são descritos a seguir. 20 CARBOIDRATOS SIMPLES Facilmente/rapidamente digeridos CARBOIDRATOS COMPLEXOS e Lentamente absorvidos absorvidos Fornecem energia imediata, elevando Fornecem energia gradativamente às subitamente a glicose sanguínea células Após seu consumo ocorre pico de não há pico de glicemia após sua glicemia que provoca um pico de ingestão, insulina, dificultando a queima de manutenção da glicose no sangue e gordura e favorecendo o acúmulo desta facilitando colaborando o para emagrecimento, ou evitando acúmulo de gordura Devem ser consumidos com cautela e Pode ser consumido sem restrição em apenas determinados momentos exata de horários, porém não devem ser consumidos indiscriminadamente Pobre em nutrientes (caloria vazia) Rico em nutrientes Dificulta o emagrecimento Favorece o emagrecimento Ex.: balas, chicletes, pirulitos, doces, Ex.: pães e massas integrais, legumes, guloseimas em geral, etc cereais integrais, batata doce, etc É importante ressaltar aqui o que a literatura sobre esse assunto nos aconselha: A quantidade de carboidratos necessária depende do gasto energético diário, do tipo de atividade e do sexo do atleta e das condições ambientais. As recomendações de ingestão diária de carboidratos em gramas devem ser relativas à massa corporal e possibilitar a flexibilidade para que o atleta satisfaça esses requisitos no contexto das necessidades de energia e outros objetivos nutricionais. Um consumo de 5 a 7 g/kg/dia de carboidratos pode satisfazer as necessidades gerais de treinamento, e 7 a 10 g/kg/dia serão suficientes para atletas de resistência. Por exemplo, um atleta de 70 kg pode consumir de 350 a 700 g de carboidratos por dia (DORFMAN, 2013, apud MAHAN et al., 2013, p.1033). 21 6.2 Lipídios Fonte: Pixabay.com Os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e gorduras. Eles não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. Apresentam coloração esbranquiçada ou levemente amarelada. Os lipídios são fundamentais na alimentação para: transportar as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), fornecer a maior quantidade de calorias por grama (9kcal/g), fornecer os ácidos graxos essenciais, etc. Os ácidos graxos essenciais são poli-insaturados e não podem ser sintetizados pelo organismo humano, sendo obtidos a partir da alimentação. Os ácidos graxos essenciais são o ácido linoleico (ômega 6) e o ácido linolênico (ômega 3), mas há dúvidas se o linolênico é essencial. O ácido linolênico participa da formação do ácido araquidônico que é precursor dos eicosanoides. Os ácidos graxos essenciais fazem parte da estrutura dos fosfolipídios que são componentes importantes das membranas e da matriz estrutural de todas as células. O ácido linoleico é comum na maioria dos óleos vegetais. É prudente que não mais que 10% da energia total diária sejam consumidas na forma de ácidos graxos saturados. Para uma boa saúde se tornou comum o uso de lipídios provenientes de fontes vegetais na alimentação como o azeite. Porém, o 22 consumo total de lipídios (ambos ácidos graxos saturados e insaturados) podem constituir riscos para doenças cardiovasculares e diabetes. Portanto, o consumo total de lipídios deve ser reduzido. Uma alimentação feita de forma adequada, sendo ela na sua quantidade e qualidade adequadas e realizada nos horários certos, é indispensável para se obter um bom desempenho ao realizar algum tipo de exercício físico, seja ele com a utilização de pesos ou qualquer outro tipo (MARQUES et al., 2015, apud SOARES et al., 2019). 7 ESTRESSE OXIDATIVO, DEFESA ANTIOXIDANTE E ATIVIDADE FÍSICA Fonte: Pixabay.com O estudo do papel do estresse oxidativo vem atraindo grande interesse por sua associação com o envelhecimento e uma série de outras condições patológicas. A relação entre atividade física, radicais livres e antioxidantes, ainda não está bem estabelecida. Os estudos indicam que em atividades físicas de intensidade média o organismo tem condições de neutralizar os radicais livres produzidos durante o exercício. Porém outros estudos mostram que, durante os exercícios intensos e extenuantes, o sistema antioxidante do organismo não é capaz de neutralizar os efeitos danosos dos radicais livres ao organismo. Neste tópico do estudo introduziremos conceitos básicos sobre radicais livres, danos oxidativos, defesas antioxidantes e discutiremos tópicos relacionados à adaptação (indução de enzimas de defesa antioxidante) lesões e suplementos antioxidantes. 23 O que são: radicais livres, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio? Antes de começarmos a discussão sobre o estresse oxidativo no exercício físico é fundamental que entendamos o significado dos termos radicais livres, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. De maneira geral, tem-se que o oxigênio molecular (O2) é necessário para a sobrevivência de todos organismos aeróbicos. Assim, a obtenção de energia por estes organismos é feita na mitocôndria através da fosforilação oxidativa, onde o O2 é reduzido por quatro elétrons a H2 O. Quando o oxigênio é parcialmente reduzido, tanto na fosforilação oxidativa quanto em outras reações, há a formação de radicais livres, que constituem moléculas com coexistência independente (o que explica o uso do termo “livre”) e que contém um ou mais elétrons não pareados na camada de valência. Esta configuração faz dos radicais livres espécies altamente instáveis, de meia vida relativamente curta e quimicamente muito reativas. O termo espécies reativas de oxigênio (EROs ou ROS: reactive oxygen species) incluem, além dos radicais livres derivados do oxigênio (como o radical superóxido e o radical hidroxila), espécies não radicalares como a água oxigenada (H2O2), o ácido hipocloroso (HOCl), o oxigênio singlete e o ozônio. Durante o exercício físico as ROS podem ser produzidas por diversas fontes, que variam de acordo com o órgão, o tempo de exercício e o tipo de exercício, sendo que muitas das fontes não são exclusivas e podem ser ativadas simultaneamente. Cerca de 5% do oxigênio utilizado pelos organismos, via metabolismo oxidativo, não é utilizado nos ciclos mitocondriais que produzem energia. Esse oxigênio excedente tende a perder dois elétrons na sua última camada, produzindo o radical superóxido ou, também, por ações enzimáticas e metabólicas adicionais, pode formar outros tipos de moléculas desemparelhadas de oxigênio, que são genericamente conhecidas como EROS. Por serem moléculas altamente reativas, o organismo controla a sua degradação através de dois sistemas antioxidantes integrados: um endógeno enzimático, diretamente relacionado à degradação do superóxido em água, e outro exógeno não enzimático, no qual compostos antioxidantes presentes na dieta atuam sobre as EROS produzidas pelo organismo (GOTTLIEB et al., 2011, apud SIMAS et al., 2019). 24 7.1 O que é estresse oxidativo? O estresse oxidativo está relacionado à situações onde os mecanismos celulares pró-oxidantes superam os antioxidantes. É um estado em que há uma elevada produção de espécies reativas. Este estado está comumente ligado a danos celulares como, por exemplo, peroxidação de lipídios, fragmentação de proteínas e ácidos nucléicos. Existem vários fatores que podem induzir o estresse oxidativo. Eles podem ser divididos em dois grupos: • Fatores endógenos: exercício físico, estresse psicológico, inflamação, câncer, etc. • Fatores exógenos: alimentos, álcool, fumo, poluentes ambientais, radiação, etc. O exercício físico pode resultar em diferentes níveis de estresse oxidativo de acordo com a sua intensidade. Exercícios de intensidade baixa ou moderada normalmente estão associados com estresse oxidativo “ameno”, enquanto que exercícios intensos ou extenuantes causam estresse oxidativo “severo”. Estudos mostram que o estresse “severo” resultam em danos oxidativos que podem levar a morte celular, danos teciduais e inflamação. Por outro lado, o estresse “ameno” parece estar relacionado com indução de defesas antioxidantes. Uma forma de verificar se o exercício praticado está sendo danoso ao organismo é quantificar a produção de radicais livres. Infelizmente devido ao seu tempo de vida curto a detecção de radicais livres não e fácil. Por isso, o que se faz é medir as “pegadas” ou resíduos deixados por eles. O estresse oxidativo é visto como um desbalanço entre a produção de EROS e sua degradação pelos antioxidantes segundo a necessidade de cada célula. Nestes termos, o acúmulo ou o descontrole da produção de EROS, ainda que não seja, necessariamente, considerado um fator causal, mas atuando mais com um fator modulador dos mecanismos envolvidos no processo de envelhecimento, está associado a um grande número de condições patológicas (GOTTLIEB et al., 2011, apud SIMAS et al., 2019). 7.2 Detecção direta da produção de radicais livres A quantificação direta de radicais livres em tecidos biológicos é um processo difícil, pois os radicais livres têm uma meia-vida curta (ao redor de micro ou 25 milissegundos) e são altamente instáveis. A técnica utilizada para a detecção é a Ressonância Eletrônica Paramagnética (EPR). 7.3 Detecção de produtos derivados do ataque de radicais livres O monitoramento do estresse oxidativo durante o exercício pode ser feita através da medida de parâmetros relacionados a peroxidação lipídica, danos em DNA, oxidação de tióis, status antioxidante, etc. Os produtos da lipoperoxidação são os marcadores mais utilizados para o monitoramento do estresse oxidativo associado ao exercício. A peroxidação dos ácidos graxos poliinsaturados, presentes nas membranas celulares, podem gerar uma série de subprodutos como hidrocarbonetos voláteis, aldeídos, epóxidos, peróxidos entre outros. 7.4 Como é monitorado o dano muscular? Normalmente o dano muscular é monitorado através da medida da atividade de enzimas como a creatina quinase, aspartato aminotransferase e a lactato desidrogenase no plasma sanguíneo. 7.5 Adaptação do sistema antioxidante ao exercício Ainda que exercícios curtos de alta intensidade apenas ativem determinado sistema antioxidante, existe a possibilidade de que após o exercício a célula produza novas enzimas antioxidantes como uma resposta ao estresse oxidativo a que ela esteve submetida. Após o exercício a enzima Superóxido Dismutase 1 (SOD-1), por exemplo, possui um aumento na quantidade de proteína, entretanto sem alteração na quantidade de mRNA, enquanto a Superóxido Dismutase 2 (SOD-2) produz tanto um aumento na quantidade quanto na atividade da proteína. Até o momento, não existe um consenso em relação ao efeito do exercício sobre a atividade de Catalase (CAT), embora existam artigos demonstrando um 26 aumento na atividade de CAT, a outros que demonstram que não há alteração e alguns que indicam até um decréscimo na sua atividade. Ao contrário das demais enzimas antioxidantes, tem-se demonstrado uma adaptação induzida pelo esporte em relação a Glutationa Peroxidase (GPx), adaptação esta que é músculo específica, sendo que já foi encontrado até um aumento de 45% na atividade de GPx, em músculos do tipo 2a, após o exercício. 7.6 Outras adaptações induzidas pelo exercício Além da indução da atividade de enzimas antioxidantes, estudos mostram que o exercício induz a expressão de proteínas de choque térmico (HSP- Heat Shock Proteins). As HSP também exercem importante papel na proteção das células contra o ataque dos radicais livres. Estudos em ratos, camundongos e humanos submetidos ao exercício têm evidenciado um aumento na quantidade de HSP muscular. As HSPs são chamadas assim por serem proteínas induzidas em resposta ao estresse térmico. Elas funcionam como chaperonas moleculares, associando-se com as proteínas recém-sintetizadas e assegurando o dobramento e o funcionamento correto das proteínas. Acredita-se que o aumento de HSP após o estresse oxidativo facilite a recuperação e o remodelamento celular frente aos danos causados pelos radicais livres. 7.7 Relação entre ROS e fadiga muscular A fadiga muscular está relacionada à diminuição da capacidade do músculo de gerar força e, portanto, está associado à diminuição da performance no exercício. A associação entre ROS e fadiga muscular está em parte relacionada aos danos provocados por ROS no retículo sarcoplasmático e na homeostase do cálcio. Quando um músculo se mostra incapaz de contrair efetivamente, após atividade prolongada, denomina-se fadiga muscular (TORTORA 2016, apud DE REZENDE 2019). 27 7.8 Relação entre ROS e lesão muscular e inflamação As lesões musculares associadas ao exercício normalmente ocorrem após o exercício esporádico, particularmente aquelas que envolvem uma grande quantidade de contrações excêntricas (contrações que envolvem o alongamento da fibra muscular). Exercícios que envolvem contração concêntrica (contrações que envolvem o encurtamento da fibra muscular, como por exemplo o levantamento de peso) parecem causar menos danos. Embora não se saiba ao certo o mecanismo pelo qual ocorre a lesão, o dano inicial está relacionado ao rompimento da fibra muscular e os danos subsequentes são associados à processos inflamatórios e produção de radicais livres. Estudos mostram que o treinamento excessivo causa danos musculares normalmente acompanhados de uma resposta inflamatória aguda, em que se observa a infiltração de neutrófilos e macrófagos no tecido muscular. 8 VITAMINAS E MINERAIS Fonte: Pixabay.com A forma de abordagem desse tópico foi escolhida em virtude da complexidade, importância e quantidade de conteúdo relacionado. Não existe de forma alguma a pretensão de esgotar o assunto, mas também não gostaríamos de passar muito 28 rapidamente, numa abordagem meramente superficial. Pretendemos esclarecer algumas dúvidas e principalmente aguçar o senso crítico para tratar melhor esse assunto tão presente em nosso cotidiano. 8.1 Vitaminas: A descoberta das vitaminas deu origem ao campo da nutrição. O termo vitamina descreve um grupo de micronutrientes essenciais que geralmente satisfazem os seguintes critérios: I. Compostos orgânicos (ou classe de compostos) diferentes de gorduras, carboidratos e proteínas; II. Componentes naturais de alimentos, normalmente presentes em quantidades diminutas; III. Componentes não sintetizados pelo organismo em quantidades adequadas para satisfazer as necessidades fisiológicas normais; IV. Componentes em quantidades diminutas essenciais para a função fisiológica normal (ou seja, a manutenção, o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução); e V. Componentes cuja deficiência específica causa uma síndrome em decorrência da sua ausência ou insuficiência. As vitaminas podem ser divididas em dois grupos: lipossolúveis e hidrossolúveis. • As vitaminas lipossolúveis são absorvidas passivamente e devem ser transportadas com os lipídios dietéticos. Elas tendem a ser encontradas nas porções lipídicas da célula como membranas e gotículas de lipídios. As vitaminas lipossolúveis precisam de gordura para a absorção adequada e são geralmente excretadas com as fezes através da circulação enterohepática. • As vitaminas hidrossolúveis tendem a ser absorvidas pela difusão simples quando ingeridas em grande quantidade e por processos mediados por carreador quando ingeridas em quantidades menores. Elas são cofatores ou cossubstratos essenciais das enzimas envolvidas em vários aspectos do 29 metabolismo. As vitaminas hidrossolúveis são levadas pelos transportadores e excretadas na urina. 8.2 Vitaminas lipossolúveis Vitamina A (retinol; α-, β- , γ-caroteno): • Essencial para o crescimento e desenvolvimento normal e manutenção do tecido epitelial. Essencial para integridade da visão noturna. Ajuda a promover o desenvolvimento normal do osso e influencia a formação normal dos dentes. • Fontes: fígado, rim, gordura do leite, gema de ovo, vegetais com folhas amarelas e verde-escuras, damasco, pêssego. Vitamina D (calciferol): • É um pró-hormônio. Essencial para o crescimento e desenvolvimento normal. Importante para formação e manutenção dos ossos e dentes normais. Influencia a absorção e o metabolismo do fósforo e do cálcio. Tóxico em grandes quantidades. • Fontes: gordura do leite, fígado, gema do ovo, salmão, atum, sardinha. Vitamina E (tocoferóis e tocotrienóis): • Protege os eritrócitos da hemólise. Participação na reprodução, na manutenção do tecido epitelial e na síntese de prostaglandina. • Fontes: germe de trigo, óleos vegetais, vegetais de folhas verdes, gordura do leite, gema de ovo, nozes. Vitamina K (filoquinona e menaquinona): 30 • Auxilia na produção de protrombina, um composto necessário para a coagulação normal do sangue. Envolvido no metabolismo ósseo. Tóxico em grandes quantidades. • Fontes: fígado, óleos vegetais, vegetais de folhas verdes, farelo de trigo. É sintetizada pelas bactérias intestinais. 8.3 Vitaminas hidrossolúveis Tiamina: • Como parte da cocarboxilase, auxilia na remoção de CO2 dos cetoácidos α durante a oxidação dos carboidratos. Essencial para o crescimento, apetite normal, digestão e nervos saudáveis. • Fontes: fígado de porco, vísceras, legumes, grãos integrais, cereais enriquecidos e pães, germe de trigo, batatas. Riboflavina: • Essencial para o crescimento. Desempenha um papel enzimático na respiração do tecido e atua como um transportador dos íons de hidrogênio. • Fontes: leite e derivados, vísceras, vegetais de folhas verdes, cereais e pães enriquecidos, ovos. Niacina (ácido nicotínico e nicotinamida): • Como parte do sistema enzimático, auxilia na transferência de hidrogênio e atua no metabolismo dos carboidratos e aminoácidos. Envolvido na glicólise, na síntese de gordura e na respiração do tecido. • Fontes: peixe, fígado, aves, grãos, ovos, amendoins, leite, legumes, grãos enriquecidos. Ácido pantotênico: 31 • Como parte da coenzima A, funciona na síntese e na quebra de muitos compostos corporais vitais. Essencial no metabolismo intermediário de carboidratos, lipídios e proteínas. • Fontes: ovos, rim, fígado, salmão e fermento são as melhores fontes. Vitamina B6 (piridoxina, piridoxal e piridoxamina): • Como uma coenzima, auxilia na síntese e na quebra de aminoácidos e de ácidos graxos não saturados a partir dos ácidos graxos essenciais. Essencial para conversão de triptofano para niacina. Essencial para o crescimento normal. • Fontes: carne suína, farelo e germe de cereais, gema de ovo, mingau de aveia, legumes. Folato (ácido fólico, folacinas): • Essencial para biossíntese dos ácidos nucleicos – especialmente importantes no desenvolvimento fetal. Essencial para maturação normal dos eritrócitos. Funciona como uma coenzima – ácido tetrahidrofólico. • Fontes: vegetais de folhas verdes, fígado, carne bovina magra, trigo, ovos, peixe, feijão, lentilhas, aspargo, brócolis, couve, fermento. Biotina: • Componente essencial das enzimas. Envolvida na síntese e na quebra dos ácidos graxos e dos aminoácidos pelo auxílio no acréscimo e na remoção de CO2 para ou de compostos ativos, e na remoção de NH2 de aminoácidos. • Fontes: fígado, cogumelos, amendoim, fermento, leite, carne, gema de ovo, a maioria dos vegetais, banana, tomate, melancia, morangos. Sintetizado pelas bactérias intestinais. Vitamina C (ácido ascórbico): 32 • Mantém a substância do cimento intracelular com preservação da integridade capilar. Cosubstrato nas hidroxilações, exigindo oxigênio molecular. Importante nas respostas imunológicas, cicatrização de feridas e reações alérgicas. Aumenta a absorção de ferro não heme. • Fontes: acerola, frutas cítricas, tomate, melão, pimentas, verduras, repolho cru, goiaba, morangos, abacaxi, batata, kiwi. Vitamina B12 (Cianocobalamina): • Envolvida no metabolismo dos fragmentos de carbono único. Essencial para biossíntese dos ácidos nucleicos e das nucleoproteínas. Participação no metabolismo do tecido nervoso. Envolvido com o metabolismo do folato. Relacionado ao crescimento. • 8.4 Fontes: fígado, rim, leite e alimentos lácteos, carne, ovos. Minerais Os nutrientes minerais são mais tradicionalmente divididos em macrominerais (necessidade de ≥ 100 mg/dia) e microminerais ou elementos-traço (necessidade de < 15 mg/dia). Os estudos de pacientes que receberam nutrição parenteral total (NPT) em longo prazo ajudaram a determinar a essencialidade dos elementos ultratraço que são necessários em quantidades em microgramas (mcg) por dia. Os nutrientes minerais são reconhecidos como essenciais para a função humana, mesmo que as necessidades específicas não tenham sido estabelecidas para alguns deles. Os minerais representam de 4 a 5% do peso corporal, ou 2,8 a 3,5 kg em mulheres e homens adultos, respectivamente. Aproximadamente 50% desse peso é cálcio e outros 25% são fósforo, existindo como fosfatos. Quase 99% do cálcio e 70% dos fosfatos são encontrados nos ossos e dentes. Os outros cinco macrominerais estabelecidos (magnésio, sódio, potássio, cloro e enxofre) e os onze microminerais apurados (ferro, zinco, iodo, selênio, manganês, flúor, molibdênio, cobre, cromo, cobalto e boro) constituem os 25% restantes. Os elementos ultratraço, tais como 33 arsênico, alumínio, estanho, níquel, vanádio e silício, fornecem uma quantidade insignificante de peso. 8.5 Macrominerais São aqueles essenciais em teores diários de 100 mg ou mais. Cálcio: • Encontra-se 99% nos ossos e nos dentes. O cálcio iônico nos fluidos corporais é essencial para o transporte de íon através das membranas celulares. O cálcio também pode ser ligado às proteínas, ao citrato ou aos ácidos inorgânicos. • Fontes: leite e produtos derivados, sardinhas, moluscos, ostras, couve de folhas, nabo, mostarda, tofu. Fósforo: • Aproximadamente 80% é encontrado na parte inorgânica dos ossos e dos dentes. O fósforo é um componente de todas as células, bem como dos metabólitos importantes, incluindo o DNA, o RNA, o ATP e os fosfolipídios. O fósforo também é importante para a regulação de pH. • Fontes: queijo, gema de ovo, leite, carne, aves, cereais de grãos integrais e quase todos os outros alimentos. 8.6 Microminerais São aqueles essenciais em teores diários de alguns miligramas ou menos. Magnésio: 34 • Aproximadamente 50% está no osso. Os 50% restantes estão quase inteiramente dentro das células corporais, com apenas cerca de 1% localizado no líquido extracelular. • Fontes: cereais de grãos integrais, nozes, tofu, leite, vegetais verdes, legumes, chocolate. Pesquisas recentes sugerem que a ingestão contínua de magnésio abaixo de 260 mg por dia, em atletas do sexo masculino, e inferior a 220 mg por dia, em atletas do sexo feminino, pode resultar em estados de carência de magnésio, causando rendimento desportivo insuficiente por fadiga precoce (LANHAMNEW et al., 2011; NIELSEN et al., 2006 apud DE REZENDE et al., 2019). Enxofre: • O volume do enxofre dietético está presente nos aminoácidos que contêm esse elemento e que são necessários para a síntese dos metabólitos essenciais. O enxofre funciona nas reações de redução da oxidação como parte da tiamina e da biotina. • Fontes: alimentos com proteínas, como carne, peixe, aves, ovos, leite, queijo, legumes, nozes. Ferro: • Aproximadamente 70% é encontrado na hemoglobina. Aproximadamente 25% está armazenado no fígado, no baço e nos ossos. O ferro é um componente da hemoglobina e da mioglobina e é importante na transferência de oxigênio. Ele também está presente na transferência de soro e em certas enzimas. Não há quase nada de ferro na forma iônica. • Fontes: fígado, carne, gema de ovo, grãos integrais ou enriquecidos, vegetais verde-escuros, melaços escuros, camarão, ostras. Zinco: 35 • O zinco está presente na maioria dos tecidos, com maiores quantidades no fígado, nos músculos voluntários e nos ossos. Constituinte de muitas enzimas e da insulina, o zinco é importante para o metabolismo do ácido nucleico. • Fontes: ostras, marisco, arenque, legumes, leite, farelo de trigo. Cobre: • O cobre é encontrado em todos os tecidos corporais, com volume no fígado, cérebro, coração e rim. O cobre é um constituinte das enzimas, da ceruloplasmina e da eritrocupreína no sangue. Ele pode ser uma parte integrante do DNA ou do RNA. • Fontes: fígado, marisco, grãos integrais, cerejas, legumes, rim, aves, ostras, chocolate, nozes. Iodo: • O iodo é um constituinte do hormônio T4 e dos compostos relacionados e sintetizados pela glândula tireoide. O T4 funciona no controle das reações que envolvem a energia celular. • Fontes: sal de cozinha iodado, frutos de mar, água e vegetais nas regiões sem bócio. Manganês: • A concentração mais alta de manganês encontra-se nos ossos. Concentrações relativamente mais altas também existem na pituitária, no fígado, no pâncreas e no tecido gastrointestinal. O manganês é um constituinte dos sistemas enzimáticos essenciais e é rico nas mitocôndrias das células hepáticas. • Fontes: beterrabas, grãos integrais, nozes, leguminosas, chá. Flúor: 36 • O flúor existe nos ossos e nos dentes. Em quantidades ideais de água e de dieta, o flúor reduz a cárie dental e pode minimizar a perda óssea. • Fontes: água potável (1ppm), chá, café, arroz, soja, espinafre, gelatina, cebolas, alface. Molibdênio: • O molibdênio é um constituinte de uma enzima essencial (xantina oxidase) e de flavoproteínas. • Fontes: legumes, cereais, grãos, vegetais de folhas verde escuras, carnes de órgãos. Cobalto: • O cobalto é um constituinte da cianocobalamina (vitamina B12), ligação existente para a proteína em alimentos de origem animal. O cobalto é essencial para a função normal de todas as células, especialmente das células da medula óssea e dos sistemas nervoso e gastrointestinal. • Fontes: fígado, rim, ostras, moluscos, aves, leite. Selênio: • O selênio está envolvido no metabolismo da gordura, coopera com a vitamina E e age como um antioxidante. • Fontes: grãos, cebolas, carnes, leite; as quantidades dependem do conteúdo de selênio no solo. Cromo: • O cromo está associado ao metabolismo da glicose. • Fontes: óleo de milho, moluscos, cereais de grãos integrais, levedura da cerveja, carnes, águas potáveis (a quantidade varia). 37 No que concerne o consumo alimentar dos praticantes de musculação, fazse necessário identificar o consumo dos alimentos, considerando o nível de processamento. Sendo assim, classificam-se os alimentos em: a) in natura: alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais; b) minimante processados: são alimentos que sofreram baixas intervenções antes de chegarem aos consumidores; c) processados: alimentos fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou diferentes substâncias de uso culinário e d) ultraprocessados: trata-se de alimentos no qual seu processo de fabricação engloba inúmeros métodos de processamento e componentes, muitos destes, de uso exclusivamente industrial (MONTEIRO et al., 2016 apud REIS et al., 2019). 9 ADAPTAÇÕES AO EXERCÍCIO EM DIFERENTES POPULAÇÕES Fonte: Pixabay.com As atividades ou exercícios físicos que realizamos em diferentes situações da vida (cotidiana, laboral, recreativa), assim como os programas de exercício com fins de saúde e sobretudo o esporte competitivo em diferentes idades e níveis de competição, requerem liberação energética leve, moderada ou intensa, dependendo da duração e da intensidade do exercício e da relação carga do exercício-descanso, frequência da atividade, estado de saúde, idade e condição física atuais do indivíduo. Atualmente, em busca de um bom condicionamento físico, qualidade de vida e melhora da estética corporal, uma grande quantidade de pessoas vem buscando a prática de diversas modalidades de exercício físico (REIS et al., 2017, apud SOARES et al., 2019). 38 9.1 Força A massa muscular aumenta de acordo com o ganho de peso desde o nascimento até o fim da adolescência. A massa muscular aumenta inicialmente resultado de intensa hipertrofia e pouca ou nenhuma hiplerplasia das fibras musculares. Em homens o pico do aumento de massa muscular acontece durante a puberdade, quando a produção de testosterona aumenta significativamente. Em mulheres, não acontece este pico. No entanto, o pico de força em homens e mulheres é visto apenas ao final da adolescência. 9.2 Mulheres vs. Homens Na maioria das medidas de capacidade fisiológica e rendimento no exercício, existem diferenças importantes entre homens e mulheres, quando eles são comparados sobre bases absolutas. Isso quer dizer, desconsiderando na medição, diferenças intrínsecas aos sexos e que afetam o rendimento na atividade física, como são a massa corporal, a massa muscular e a massa corporal livre de lipídeos (fat-free body mass). Duas medidas comuns de avaliação do “sobrepeso” de uma pessoa são o peso (ou a massa) corporal e a altura; usado no mesmo sentido é o índice de massa corporal (ou body mass index, BMI). Ambas medições tem a limitação do não considerar a composição proporcional do corpo: a massa corporal é afetada por outros fatores além da gordura do corpo, como a massa muscular e óssea e até o volume do plasma que aumentam com a prática do exercício. A contribuição dos diferentes componentes do corpo é marcadamente diferente dependendo do sexo. Os componentes estruturais maiores do corpo humano são a massa muscular, a massa adiposa e a massa óssea. A massa adiposa é dividida, por sua vez, em lipídeos de armazenamento e lipídeos essenciais. A busca por um corpo esteticamente perfeito e a falta de uma cultura corporal saudável tem levado a população a usar de forma abusiva substâncias que podem potencializar no menor espaço de tempo possível os seus desejos. Dentre essas substâncias os suplementos alimentares têm um destaque primordial (SANTOS & SANTOS, 2002, apud, SANTOS, et al., 2017). 39 9.3 Obesidade Em indivíduos obesos a maior proporção de perda de peso depois de restrição energética (dieta) se deve a uma redução no tecido adiposo. Porém, os obesos possuem um incremento nos níveis de triglicerídeos nas fibras do músculo esquelético quando comparados aos níveis dos não obesos. Desconhece-se a contribuição dos depósitos de triglicerídeos localizados nos tecidos periféricos. Devido a que existe uma correlação entre alto conteúdo de lipídeos no músculo com a resistência à insulina, resulta interessante determinar se efetivamente diminuem pela dieta e/ou pela atividade física. Nas últimas décadas, devido às mudanças na alimentação tradicional e adoção de dieta do tipo Ocidental, a incidência de obesidade, síndrome metabólica e câncer vem aumentando na população brasileira (SCHMIDT et al., 2011, apud WADI et al., 2017). 9.4 Envelhecimento O envelhecimento está associado a mudanças profundas na composição do corpo. A sarcopenia é um conjunto de fenômenos caracterizados por perda da massa do músculo esquelético relacionada com a idade, diminuição na tensão (strength) muscular e incremento na fadiga. A debilidade muscular predispõe a frequentes quedas que podem gerar fraturas de ossos. Por outro lado, devido a que o músculo é um órgão metabólico maior, especialmente na liberação da glicose dos carboidratos ingeridos com a dieta, a diminuição da massa muscular pode contribuir à diminuição de glicose circulante que é observada na velhice. Como consequência podem-se produzir o decrescimento no gasto de energia que pode levar à obesidade e à resistência à insulina. As intervenções que podem ser utilizadas no tratamento ou prevenção da sarcopenia, baseiam-se em dois pilares principais: a nutrição e o exercício físico (MARZETTI et al., 2016 apud OLIVEIRA 2019). A capacidade funcional do músculo depende da qualidade e quantidade de proteínas musculares. Ambas, qualidade e quantidade de proteínas musculares, são mantidas através de um contínuo processo de remodelagem muscular envolvendo 40 síntese e degradação de proteínas. Se a taxa de síntese é menor do que a taxa de degradação de proteínas, a massa muscular pode então declinar. 10 DOPING Fonte: Pixabay.com Doping é caracterizado pelo uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. Na maior parte dos casos, o doping é realizado por pessoas que pretendem potencializar seu rendimento, força, agilidade ou até mesmo perda de peso. A maior parte de pessoas que buscam o doping são atletas de alto rendimento, mas não é incomum vermos pessoas em academias fazendo uso dessas substâncias. Em geral, o doping é realizado na busca por potencializar ganhos que para aquele indivíduo, fisiologicamente já foi atingido em seu máximo, como aumentar força, tolerância à fadiga, aumentar a velocidade de recuperação de lesão tecidual gerada pelo exercício, entre outros. A Agência Mundial Antidoping (WADA) lista as substâncias proibidas aos atletas, assim como as intervenções cabíveis, em listagens regularmente atualizadas, sendo a mais recente de 2017 (WADA 2017 apud DA SILVA 2019). 41 10.1 Doping no esporte Atualmente todas as competições internacionais têm atletas que utilizam drogas (esteroides anabolizantes, hormônios peptídicos, anfetaminas e outros) para melhorar as performances atléticas competitivas. As dopagens além de viciar a ética no desporto também põem em risco sua saúde. Então a dopagem pode ser definida como o consumo de substâncias que aumentam de maneira artificial o rendimento esportivo e que podem prejudicar a saúde do esportista. O Comitê Olímpico Internacional (COI) e as federações internacionais têm um sistema de luta contra a dopagem avaliada em uma ampla lista de sustâncias proibidas e em regulamentos de sanções para determinar aquelas pessoas que tomam as sustâncias qualificadas como "dopantes". A definição que mais concorda com a prática é: "Dopagem é tomar qualquer substância contida na lista oficial publicada pelo COI e o Conselho Superior dos Esportes". 11 ESTEROIDES ANABOLIZANTES Fonte: Pixabay.com Os esteroides anabolizantes são hormônios sintéticos análogos da testosterona. Nos organismos todos são derivados do colesterol, e são transportados através da 42 corrente sanguínea às várias células dos vários tecidos, onde atuam regulando uma longa série de funções biológicas. O uso dos hormônios data da década de 40 e teve início no esporte de levantamento de peso. O homem normal produz cerca de 7 mg por dia de testosterona e para se obter o efeito anabólico, isto é, aumento de massa muscular e diminuição da gordura, muitos atletas utilizam doses supra fisiológicas até 100 vezes maior. Atletas, treinadores físicos e mesmo médicos relatam que os anabolizantes aumentam de forma significativa a massa muscular, força e resistência, podendo melhorar o rendimento de um atleta em até 32%. Apesar dessas afirmações, até o momento não existe nenhum estudo cientifico que comprove que essas drogas melhoram a capacidade cardiovascular, agilidade, destreza ou performance física. Os esteroides anabólicos aumentam a síntese proteica e reduzem o catabolismo; no entanto, o aumento da massa muscular e da força é observado somente em atletas que mantêm uma dieta rica em calorias e proteínas durante a utilização dos esteroides. Os efeitos androgênicos incluem o desenvolvimento das características sexuais secundárias no homem, mudanças no tamanho e na função dos genitais, crescimento de pelos faciais e púbicos. Alguns efeitos adversos associados ao uso de esteroides são irreversíveis, especialmente nas mulheres (TRENTON & CURRIER, 2005, apud MAHAN et al., 2013, p. 1061). 11.1 Estimulantes São drogas que afetam o Sistema Nervoso Central (SNC) e que podem ser obtidas do chocolate (teobromina), chá (teofilina) e café (cafeína), denominadas metilxantinas por sua estrutura química. Além disso temos as estricninas, anfetaminas e derivados (metilfenidato, pemolina). Os estimulantes, como a dextroanfetamina (Dexedrine) e o metilfenidato (Ritalina), têm uma estrutura química similar às monoaminas (neurotransmissores cerebrais), que incluem a norepinefrina e a dopamina. Os estimulantes aumentam a quantidade destas substâncias químicas no cérebro. Além disso, aumentam a glicose no sangue, abrem os condutos do sistema respiratório, aumentam a pressão arterial e o ritmo cardíaco, contraindo os vasos sanguíneos. O aumento da dopamina no corpo está associado com a sensação de euforia que acompanha o uso destas drogas. 43 Os estimulantes cerebrais são elementos que conseguem elevar o estado de vigília e estímulo, podendo também melhorar o humor, o desempenho cognitivo e a depressão. São classificados como naturais – obtidos pela extração vegetal, a exemplo da cafeína – e sintéticos – obtidos por meio de laboratórios, a exemplo do metilfenidato (SILVEIRA et al., 2015 apud SANTANA et al., 2020). 11.2 Anfetaminas As anfetaminas são potentes agonistas catecolaminérgicos (induzem liberação de catecolaminas pelos terminais nervosos). Agem diretamente nos receptores de membrana da adrenalina, noradrenalina e serotonina, e inibem sua recaptura pelos terminais nervosos, o que produz um efeito prolongado ao nível dos receptores, tanto no SNC como na periferia. Os efeitos centrais das anfetaminas se observam no córtex cerebral, no talo cerebral e na formação reticular. Ao agir nestas estruturas produz uma ativação dos mecanismos de despertar, aumento da concentração mental, maior atividade motora, diminuição da sensação de fadiga, inibição do sono e da fome. O uso de anfetaminas tanto em atletas sadios como em diabéticos são um risco muito grande, porque elas agem ativando a glicogênio fosforilase e inativando a glicogênio sintase, estimulando a degradação do glicogênio hepático em glicose sanguínea. Além de estimular a secreção de glucagon e inibindo a secreção de insulina, para reforçar o efeito na mobilização dos combustíveis e inibir o armazenamento, efeito que causaria a morte dos diabéticos. Dentre os diversos exemplos dessas substâncias psicoativas (SPAs), destacam-se as anfetaminas, considerada uma droga sintética, fabricada em laboratório, e que por ser um estimulante do SNC faz o cérebro trabalhar mais rápido do que o normal, deixando as pessoas em um estado hiperativo (MORGAN et al., 2017; NETO et al., 2018 apud SOARES 2019). 11.3 Metilxantinas Os fármacos psicotrópicos como a cafeína, a teofilina e a teobromina são derivados metilados da xantina, sendo esta, por sua vez, uma dioxipurina estruturalmente com o ácido úrico. Estas substâncias ocorrem amplamente na natureza e em muitos alimentos. Além disso, existem vários fármacos que contêm 44 cafeína, que incluem desde antigripais, antitérmicos, antiespasmódico e miorrelaxantes. A cafeína aumenta a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático o qual aumenta a tensão máxima da fibra fadigada no tecido muscular. Um copo de café, contém aproximadamente 150mg da cafeína, café instantâneo aproximadamente 120mg, chá entre 70 e 130mg, e bebidas fracas em cafeína 50 mg. A cafeína é absorvida rapidamente alcançando a maior concentração plasmática em 1 hora após a ingestão, exercendo uma influência no sistema nervoso, cardiovascular e muscular. Após a sua ingestão, a cafeína é rapidamente absorvida pelo sistema gastrointestinal e transportada para todo o corpo, pela corrente sanguínea, atuando como um potente psicoestimulante (FISONE et al., 2004 apud SANTOS et al., 2019). 11.4 Hormônios peptídicos Os hormônios peptídicos são substâncias naturais cuja molécula é formada por dois aminoácidos ligados (um peptídeo). Sua função principal é a fixação de proteínas no organismo. São utilizados em esportes de potência ou força pura, como arremesso, ciclismo, remo e levantamento de peso. A dopagem com hormônios peptídicos (HCG, eritropoietina, LH, insulina, ACTH, etc.) geralmente não são detectáveis nos testes de urina, já que são produzidos pelo organismo de maneira natural, mas na atualidade pode-se produzir de maneira sintética: somatotropina, eritropoietina, gonadotropina, etc. O consumo de alguns hormônios como a gonadotropina coriônica humana (HCG) conduzem a um aumento da produção de esteroides andrógenos naturais (estrógenos, progesterona e testosterona) e é considerada equivalente à administração exógena de testosterona. Este hormônio é produzido durante a gravidez motivo pelo qual muitas atletas procuram engravidar antes das competições. 45 11.5 Eritropoietina A eritropoetina (EPO) é um hormônio endógeno, glicoproteico, sintetizado principalmente nos rins e em uma quantidade menor no fígado. Sua principal função é regular a eritropoiese (BENTO et al., 2003). A EPO produz um efeito substancial nos esportes aeróbicos e de resistência porque aumenta o número de glóbulos vermelhos, aumentando o transporte de oxigênio através do sangue. O consumo de EPO é ainda algo difícil de detectar. Atualmente, o teste de detecção baseia-se na concentração de glóbulos vermelhos no sangue, quando a concentração é alta pode-se supor o consumo da EPO; mas, muitas pessoas de lugares altos, como Quênia, Colômbia e Bolívia têm um hematócrito médio mais alto naturalmente. Uma prática cruel para aumentar o número de hemácias e a capacidade aeróbica dos atletas vem sendo adotada por vários técnicos: os atletas passam longos períodos de treinamento em câmaras de descompressão, com o ar rarefeito provocando hipóxia, que por sua vez, causa a liberação de EPO, então, os mecanismos para a captação de oxigênio pelo sangue são melhorados e maximizados. Porém começaram a ocorrer casos sérios de o hematócrito ficar tão alto que o sangue chega a tornar-se viscoso, provocando dezenas de casos de morte súbita por falha no coração. Segundo a opinião de médicos e dirigentes do COI esta estratégia não é considerada doping. Um outro método de dopagem é a reinfusão sanguínea, que aumenta rapidamente a velocidade de oxigênio máxima. Segundo estudos realizados da reinfusão em atletas durante exercícios submaximal e maximal depois de 24 horas, o aumento da hemoglobina foi de 13.8g/100ml a 17.6g/100ml, o que representou o aumento porcentual de hemoglobina de 27.5%. O mesmo aconteceu com a concentração de hematócritos aumentando de 43.3 a 54.8%. A hipóxia tecidual é o principal estímulo fisiológico para a produção de EPO. Logo, a EPO estimula a produção de eritrócitos e consequentemente aumenta a produção da hemoglobina, aumentando o transporte de oxigênio (O2) para os tecidos A quantidade de oxigênio disponível tem papel fundamental para o desempenho atlético (ELLIOTTI, 2008 apud SIMIONI et al., 2019). 46 11.6 Suplementos voltados para a hipertrofia muscular Os suplementos para hipertrofia muscular incluem aminoácidos, β-hidroxi βmetilbutirato (HMB), creatina, pró-hormônios, glutamina, proteína, pós hipercalóricos, bebidas e barras enriquecidas com proteínas e outros compostos. Os suplementos nutricionais são amplamente utilizados no esporte. Estimativas mundiais do uso destes produtos em atletas ficam entre 40 e 80% da população, sendo que as mulheres utilizam-nos principalmente para corrigir inadequações dietéticas, e os homens com o intuito de aumentar a força muscular e agilidade nos esportes (FROILAND et al., 2004, apud FAYH et al., 2013, p. 28). • Os suplementos pré-treino aumentam o foco, a resistência e a força muscular logo após ser ingerido; • Os suplementos cuja fonte é a proteína de altíssima qualidade contribuem para repor as necessidades proteicas diárias. Sendo assim, há uma contribuição significativa na hipertrofia e na perda de gordura corpórea; • Os suplementos compostos de aminoácidos contribuem para a recuperação e regeneração muscular evitando o catabolismo; • Os hipercalóricos beneficiam pessoas com dificuldade de ganho de massa corporal ou praticantes de atividades extenuantes. O consumo de suplementos nutricionais visa aumentar o desempenho físico, contudo estes produtos não devem ser utilizados como substitutos de refeições ou como única fonte alimentar. Estudos revelam, que frequentemente, indivíduos fisicamente ativos querem resultados imediatos, isso faz com que aumente a procura por academias, bem como pelo consumo de suplementos alimentares, que muitas vezes ocorre sem orientação de um profissional habilitado, que neste caso é o nutricionista especializado em nutrição esportiva (LOPES et al., 2014; MAXIMIANO et al., 2017 apud SILVEIRA et al., 2019). 11.7 Hidratação A água é o maior componente único do corpo. Ao nascimento, a água contribui para aproximadamente 75% a 85% do peso corporal total; esta proporção diminui com 47 a idade e o grau de adiposidade. A água corresponde 60% a 70% do peso corporal total em um adulto magro, mas apenas 45% a 55% em um adulto obeso. O estado de hidratação do atleta é um fator determinante antes, durante e após o exercício. A hidratação adequada contribui para a manutenção da performance, promove um bom funcionamento dos processos homeostáticos requeridos durante o exercício, como na dissipação do calor, bem como facilita a recuperação pós exercício (McDERMOTT et al., 2017 apud MOREIRA et al., 2019). As células metabolicamente ativas do músculo e vísceras têm as maiores concentrações de água; células de tecidos calcificados têm as menores. A água corporal total é maior em atletas que em não atletas e diminui com a idade em decorrência da diminuição da massa muscular. Apesar de a proporção de peso corporal atribuída à água variar com a idade e a gordura corporal, há pouca variação no dia a dia na porcentagem de água corporal no indivíduo. Em condições normais sem exercício, a perda de água é de aproximadamente 2,5 litros/dia, a maior parte sendo perdida pela urina. No entanto, em temperaturas ambientais mais elevadas e quando um exercício intenso é adicionado, a perda de água aumenta para aproximadamente 6 a 7 litros por dia. Os 2,5 litros de água por dia são repostos com bebidas (1,5 litros), alimentos sólidos (750ml) e a água derivada de processos metabólicos (250ml). O exercício físico extenuante realizado em condições quentes ou úmidas, associado aos efeitos de uma alta produção de calor metabólico e sua dissipação insuficiente, podem proporcionar uma desidratação durante treinamentos e competições, além de promover alterações negativas no sistema fisiológico (GOMES et al., 2014 apud SANTOS et al., 2019). 48 12 BIOMARCADORES ESPORTIVOS IMPORTANTES Fonte: Pixabay.com A utilização dos biomarcadores como ferramenta eficaz no controle e no monitoramento do treinamento esportivo é uma realidade. Trabalhar a partir da individualidade biológica têm gerado benefícios a todos os envolvidos na prática esportiva, quer seja atleta quer seja esportista (praticante). Nesse tópico do estudo, veremos quais são os principais biomarcadores esportivos, suas definições e porque os mesmos são importantes. BIOMARCADOR O QUE É? Uma Creatina-quinase PORQUE É IMPORTANTE? enzima Um nível elevado indica excesso de produzida durante o treinamento, que leva a fadiga, danos exercício musculares e risco de lesões Fundamental massa Testosterona densidade na Níveis baixos aumentam gordura muscular, corporal, queda da saúde esquelética e óssea, cardiovascular níveis de colesterol e VO2Máx 49 Proteína indicadora A diminuição de ferro causa lesões, de nível de ferro no aumento no ritmo cardíaco, queda da Ferritina sangue imunidade. Aumento de ferro aumenta processo inflamatório e colesterol prejudicando a saúde cardiovascular Ajuda na síntese e A Vitamina B12 deficiência reduz resistência e reparo celular e leva impede a realização de exercícios de oxigênio aos alta intensidade músculos Relacionada Proteína C à Níveis inflamação muscular reativa elevados indicam doenças cardíacas ou excesso de treinamento, comprometendo o sistema imunológico e impedindo a recuperação do corpo Ajuda a aumentar a Sua falta somada a deficiência de Vitamina D massa óssea e imunidade a cálcio, leva a fraturas por estresse e à osteoporose 13 NUTRIÇÃO FUNCIONAL Fonte: pixabay.com 50 A Nutrição Funcional – atuante no Brasil há mais de 10 anos – conta com o respaldo científico do The Institute For Functional Medicine (IFM – EUA) e do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF) fundado no ano de 2004. A Nutrição Clínica Funcional possui cinco princípios básicos: a individualidade bioquímica, o tratamento centrado no paciente, o equilíbrio nutricional e a biodisponibilidade de nutrientes, a saúde como vitalidade positiva e as interconexões em teia de processos bioquímicos que englobam: os desequilíbrios nutricionais, estruturais e hormonais, o estresse oxidativo, a ecologia gastrintestinal, a detoxificação do organismo, as alterações imunológicas e a interação corpo-mente. O conceito de alimentação muda conforme o conhecimento da população sobre a alimentos saudáveis e seus benefícios. A busca por uma vida saudável leva as pessoas a buscarem novas formas de alimentação tendo em vista sua funcionalidade e sustentabilidade, nesse sentido, podemos perceber em vários setores mudanças profundas, que vieram crescendo nas últimas décadas e levam ao indivíduo o retorno a vida natural (COSTA, 2012 apud DA SILVA LIBERATO 2019). 13.1 Princípios da nutrição funcional As condutas da nutrição funcional são norteadas pelos seguintes princípios básicos: 1- Individualidade bioquímica: princípio base para a terapia nutricional funcional, caracterizado por um conjunto de fatores genéticos, fisiológicos e bioquímicos individuais que orquestra o funcionamento do organismo e as necessidades nutricionais, as quais interagem com fatores ambientais (incluindo hábitos alimentares, toxinas, poluentes, stress mental e atividade física). Assim, cada indivíduo apresenta uma necessidade ou deficiência nutricional específica, que podem ser determinadas pela avaliação de sinais e sintomas que o mesmo apresenta ou pelo meio ambiente ao qual está exposto. Pesquisas vêm sendo realizadas visando desvendar os efeitos metabólicos e fisiológicos dos alimentos funcionais, principalmente em enfermidades como câncer, hipertensão, diabetes, Alzheimer, doenças cardiovasculares, intestinais, ósseas e inflamatórias (STRINGHETA, 2007; VIDAL et al., 2012, apud HENRIQUE et al., 2018). 51 2- Tratamento centrado no paciente: o foco do tratamento nutricional funcional é centrado no indivíduo e não na doença, uma vez que é considerada a inter-relação entre os sistemas orgânicos e a influência sofrida por fatores ambientais, socioeconômicos, emocionais, culturais, alimentares, bem como antecedentes individuais e familiares, utilização de medicamentos e prática de atividade física, indicando a individualidade dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Neste ponto, utiliza-se, conjuntamente, o sistema ATMs (Antecedentes, Triggers, and MediatorsAntecedentes, Gatilhos e Mediadores) para a identificação dos desequilíbrios nutricionais e funcionais e subsequente obtenção do diagnóstico nutricional. Nesse sistema, os antecedentes incluem o histórico de vida e familiar (genético) do paciente; os gatilhos envolvem fatores que podem ser originários de stress físico, mental e oxidativo, traumas, radiação, lipopolissacarídeos bacterianos (LPS) e microrganismos; os mediadores são componentes que podem estar associados a disfunções do organismo, nominados como mediadores químicos (hormonas, neurotransmissores, citocinas, radicais livres), subatômicas (íons), cognitivos ou emocionais (crença em relação à doença, sentimento de medo, ansiedade), sociais e culturais (relações interpessoais profissionais e familiares). A preocupação com uma alimentação saudável, que nutra e promova a saúde, aumenta a preferência dos consumidores por alimentos ricos em nutrientes que possam fortalecer o organismo, prevenir e combater doenças. Assim, o desenvolvimento desses alimentos tem contribuído para a inserção de novas indústrias no mercado de alimentos (BERTÉ et al., 2011 apud DA SILVA et al., 2019). 3- Equilíbrio nutricional e biodisponibilidade de nutrientes: a absorção e a ação dos nutrientes em âmbito celular são dependentes não apenas da adequação da ingestão, mas também da razão de equilíbrio entre estes componentes - os quais agem em sinergia dentro do organismo, da origem do alimento e sua forma de conservação e preparo, da forma química em suplementações, e por fim, da condição absortiva e/ou patológica e da necessidade nutricional individual. Conforme a Organização Pan Americana da Saúde, os fatores de risco relativos às DCNT são semelhantes em todos os países. Atualmente o 52 tabagismo, os alimentos com altas concentrações de gorduras trans e saturadas, o sal e o açúcar em excesso, especialmente em bebidas adoçadas, o sedentarismo, bem como o consumo excessivo de álcool, causam mais de dois terços de todos os novos casos de DCNT e aumentam o risco de complicações em pessoas que já sofrem dessas doenças (GOULART 2011 apud ROMAN et al., 2018). 4- Saúde como vitalidade positiva: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde se refere ao perfeito estado de bem-estar físico, mental e social. O indivíduo deve ser avaliado de forma integral e tratado com o objetivo de modular os desequilíbrios existentes para restabelecer a relação positiva entre os sistemas, atingindo a saúde de forma plena, ou seja, com vitalidade positiva. 5- Inter-relações pela teia de interconexões metabólicas: as interconexões metabólicas caracterizam um modo que permite elencar as inter-relações entre todos os processos bioquímicos do organismo e entre o sistema ATMs, permitindo a identificação dos desequilíbrios metabólicos associados às condições clínicas apresentadas pelo paciente, favorecendo o desmembramento das bases funcionais destes distúrbios para o tratamento de suas causas. O consumo de alimentos está intimamente ligado aos nossos pertencimentos sociais, culturais e tradicionais, o que remete a um processo complexo de tomada de decisão na escolha do alimento (LANDSTRÖM et al., 2007 apud FILBIDO 2019). 53 14 ALIMENTOS FUNCIONAIS: DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA Fonte: Pixabay.com A expressão “alimentos funcionais” foi originada primeiramente no Japão em meados dos anos 80, também denominados alimentos para uso específico de saúde (FOSHU, do inglês Foods for Specified Health Use). Foi resultado de um programa financiado pelas autoridades japonesas com o objetivo de reduzir os recursos financeiros dispensados com a saúde pública, contendo os avanços das doenças crônicas. Não existe uma definição aceita internacionalmente, para o termo “alimentos funcionais” e a maioria dos países não possuem uma definição oficial. Tal fato reflete em diversos conceitos de “alimentos funcionais” encontrados na literatura, que podem englobar os alimentos que sofreram algum tipo de processamento e/ou alimentos in natura como frutas, legumes e cereais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não define alimento funcional, mas sim, define alegação de propriedade funcional e estabelece as diretrizes para sua utilização e as condições de registro para alimentos com alegação de propriedade funcional (COSTA; ROSA, 2016, apud DA SILVA et al., 2019). Desde que sejam avaliadas pela Gerência Geral de Alimentos (GGALI) da ANVISA e comprovada sua segurança de uso e eficácia, o alimento detentor da alegação pode ser disponibilizado no mercado para consumo. As alegações podem ser veiculadas em alimentos e ingredientes para consumo humano, em rótulos e 54 propagandas de produtos elaborados, embalados e prontos para a comercialização e oferta ao consumidor. Um alimento pode ser considerado funcional se for demonstrado que o mesmo pode afetar beneficamente uma ou mais funções alvo no organismo, além de possuir os adequados efeitos nutricionais, de maneira que seja tanto relevante para o bemestar e a saúde quanto para a redução do risco de uma doença. Os alimentos funcionais são alimentos que provêm a oportunidade de combinar produtos comestíveis de alta flexibilidade com moléculas biologicamente ativas, como estratégia para corrigir de forma eficaz os distúrbios metabólicos, resultando em redução dos riscos de doenças e manutenção da saúde do indivíduo. Os alimentos funcionais se caracterizam por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônico degenerativas. O termo funcional está sendo aplicado a alimentos com uma característica diferente, ou seja, de proporcionar um benefício fisiológico adicional, além das qualidades nutricionais básicas encontradas (MAYER, 2007 apud PADIA 2019). Os alimentos e ingredientes funcionais podem ser classificados de dois modos: quanto à fonte, de origem vegetal ou animal, ou quanto aos benefícios que oferecem, atuando em seis áreas do organismo: 1- no sistema gastrointestinal; 2- no sistema cardiovascular; 3- no metabolismo de substratos; 4- no crescimento; 5- no desenvolvimento e diferenciação celular; 6- no comportamento das funções fisiológicas e como antioxidantes. Por meio da alimentação tem se procurado, além de satisfazer as atividades nutricionais básicas, promover saúde e reduzir o risco de doença. Em meio ao cenário do século XXI, os alimentos funcionais passaram a ser vistos como uma estratégia importante para deter o avanço das DCNTs (ROBERFROID M. 2002, apud SILVA et al., 2016, p. 134). Uma grande variedade de produtos tem sido caracterizada como alimentos funcionais, incluindo componentes que podem afetar inúmeras funções corpóreas, relevantes tanto para o estado de bem-estar e saúde como para a redução do risco 55 de doenças. Esta classe de compostos pertence à nutrição e não à farmacologia, merecendo uma categoria própria, que não inclua suplementos alimentares, mas o seu papel em relação às doenças estará, na maioria dos casos, concentrado mais na redução dos riscos do que na prevenção. Os alimentos funcionais apresentam as seguintes características: a) devem ser alimentos convencionais e serem consumidos na dieta normal/usual; b) devem ser compostos por componentes naturais, algumas vezes, em elevada concentração ou presentes em alimentos que normalmente não os supririam; c) devem ter efeitos positivos além do valor básico nutricional, que pode aumentar o bem-estar e a saúde e/ou reduzir o risco de ocorrência de doenças, promovendo benefícios à saúde além de aumentar a qualidade de vida, incluindo os desempenhos físico, psicológico e comportamental; d) a alegação da propriedade funcional deve ter embasamento científico; e) pode ser um alimento natural ou um alimento no qual um componente tenha sido removido; f) pode ser um alimento onde a natureza de um ou mais componentes tenha sido modificada; g) pode ser um alimento no qual a bioatividade de um ou mais componentes tenha sido modificada. O Japão foi o primeiro país a elaborar um processo de regulamentação específica para os alimentos considerados funcionais, onde os define como qualquer alimento que atue positivamente na saúde, no desempenho físico ou no estado mental de um indivíduo em virtude de suas funções nutricionais. No Japão, os alimentos funcionais precisam possuir um selo de aprovação do Ministério de Saúde e Bem-estar japonês (STRINGHETA, 2007 apud HENRIQUE et al., 2018). 56 15 LEGISLAÇÃO APLICADA AOS ALIMENTOS FUNCIONAIS Fonte: Pixabay.com No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), regulamentou os Alimentos Funcionais através das seguintes resoluções: ANVISA/MS 16/99; ANVISA/MS 17/99; ANVISA/MS 18/99; ANVISA/MS 19/99, cuja essência é: a) Resolução da ANVISA/MS 16/99 - trata de Procedimentos para Registro de Alimentos e/ou Novos Ingredientes, cuja característica é de não necessitar de um Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) para registrar um alimento, além de permitir o registro de novos produtos sem histórico de consumo no país e também novas formas de comercialização para produtos já consumidos (BRASIL, 1999); b) Resolução da ANVISA/MS 17/99 - Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança de Alimentos que prova, baseado em estudos e evidências científicas, se o produto é seguro sob o ponto de risco à saúde ou não (BRASIL, 1999); c) Resolução ANVISA/MS 18/99 - Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as Diretrizes Básicas para a Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e/ou de Saúde, alegadas em rotulagem de alimentos (BRASIL, 1999). 57 d) Resolução ANVISA/MS 19/99 - Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos para Registro de Alimentos com Alegação de Propriedades Funcionais e/ou de Saúde em sua Rotulagem (BRASIL, 1999). Além de garantir a segurança do alimento, essas resoluções determinam que as alegações sejam cientificamente comprovadas e não induzam o consumidor ao erro (ANVISA, 2016, apud HENRIQUE et al., 2018). As diretrizes para a utilização da alegação de propriedades funcionais ou de saúde, segundo a ANVISA são: a) A alegação de propriedades funcionais e/ou de saúde é permitida em caráter opcional; b) O alimento ou ingrediente que alegar propriedades funcionais ou de saúde pode, além de funções nutricionais básicas, quando se tratar de nutriente, produzirem efeitos metabólicos e ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica; c) São permitidas alegações de função ou conteúdo para nutrientes e não nutrientes, podendo ser aceitas aquelas que descrevem o papel fisiológico do nutriente ou não nutriente no crescimento, desenvolvimento e funções normais do organismo, mediante demonstração da eficácia. Para os nutrientes com funções plenamente reconhecidas pela comunidade científica não será necessária a demonstração de eficácia ou análise da mesma para alegação funcional na rotulagem; d) No caso de uma nova propriedade funcional, há necessidade de comprovação científica da alegação de propriedades funcionais e/ou de saúde e da segurança de uso, segundo as Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança dos Alimentos; e) As alegações podem fazer referências à manutenção geral da saúde, ao papel fisiológico dos nutrientes e não nutrientes e à redução de risco de doenças. Não são permitidas alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças. O registro de um alimento funcional só pode ser realizado após comprovada a alegação de propriedades funcionais ou de saúde com base no consumo previsto ou recomendado pelo fabricante, na finalidade, condições de uso e valor nutricional, 58 quando for o caso ou na(s) evidência(s) científica(s): composição química ou caracterização molecular, quando for o caso, e ou formulação do produto; ensaios bioquímicos; ensaios nutricionais e ou fisiológicos e ou toxicológicos em animais de experimentação; estudos epidemiológicos; ensaios clínicos; evidências abrangentes da literatura científica, organismos internacionais de saúde e legislação internacionalmente reconhecidas sob propriedades e características do produto e comprovação de uso tradicional, observado na população, sem associação de danos à saúde. Pesquisas vêm sendo realizadas visando desvendar os efeitos metabólicos e fisiológicos dos alimentos funcionais, principalmente em enfermidades como câncer, hipertensão, diabetes, Alzheimer, doenças cardiovasculares, intestinais, ósseas e inflamatórias (STRINGHETA, 2007; VIDAL et al., 2012, apud HENRIQUE et al., 2018). 16 PRINCIPAIS ALIMENTOS ESTUDADOS E SUAS ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAIS Fonte: Pixabay.com Os principais alimentos estudados na nutrição funcional, com seus respectivos compostos ativos e propriedades funcionais, são: 59 Alimentos Componentes ativos Soja e derivados Isoflavonas Propriedades funcionais Ação estrogênica (reduz sintomas da menopausa) e pode levar à prevenção de alguns tipos de câncer) Soja e derivados Proteína da soja Redução dos níveis de colesterol Peixes como sardinha, Ácidos graxos ômega-3 Redução do LDL- salmão, atum, anchova, colesterol e ação anti- truta e arenque inflamatória Óleos de linhaça, soja, Ácido graxo poli- Estimula amêndoas, insaturado – (linoleico) nozes, o imunológico, sistema tem ação castanhas e azeite de anti-inflamatória e pode oliva reduzir o risco de doença cardiovascular Azeite, óleo de canola, Ácido azeitonas, abacate frutas oleaginosas (castanhas, graxo Ação e monoinsaturado (oleico) antiaterogênica, anticancerígena, imunológica, hipotensora nozes, amêndoas) Chá verde, cerejas, Catequinas e resveratrol Podem prevenir certos amoras, framboesas, uva tipos de câncer, inibem a roxa, mirtilo e vinho tinto agregação plaquetária, reduzem o colesterol e estimulam o funcionamento do sistema imunológico Tomate e derivados Licopeno Ação antioxidante, reduz (molho de tomate, suco de níveis tomate), goiaba vermelha, podem prevenir o risco de pimentão certos tipos de câncer, vermelho e de colesterol e 60 melancia (frutas principalmente avermelhadas) próstata Folhas verdes em geral e Luteína e zeaxantina Ação milho protegem o de antioxidante, contra degeneração macular (alterações na visão) Cenoura, manga, Betacaroteno abóbora, pimentão vermelho e Precursor da vitamina A. Ação hipotensiva amarelo, acerola e pêssego (frutas alaranjadas) Couve-flor, repolho, Indóis e isotiocianatos Indutores de enzimas brócolis, couve de protetoras que podem bruxelas, rabanete e proteger contra alguns tipos de câncer, mostarda principalmente o de mama Soja, frutas tomate, cítricas, Flavonoides Podem prevenir o risco de pimentão, certos tipos de câncer. alcachofra, cereja e salsa Ação vasodilatadora, antiinflamatória e antioxidante Aveia, centeio, cevada, Fibras solúveis e fibras Podem leguminosas ervilha, lentilha), (feijões, insolúveis auxiliar na redução do risco para frutas câncer de cólon e o bom com casca funcionamento intestinal. Auxiliam no controle da glicemia (fibras solúveis) e podem aumentar na sensação de saciedade Alho e cebola Sulfetos sulfetos) alílicos (alil Podem auxiliar redução de pressão sanguínea, na colesterol, do risco para câncer gástrico 61 e auxiliar os processos do sistema imunológico Linhaça, noz-moscada Ligninas Podem auxiliar na inibição da formação de alguns tipos de tumores Maçã, manjericão, Taninos Ação antioxidante, manjerona, sálvia, uva, antisséptica caju, soja vasoconstritora Óleos vegetais Esteróis vegetais, Podem estanóis redução e auxiliar de na doenças cardiovasculares Leites fermentados, Probióticos iogurtes e outros produtos bifidobactérias lácteos fermentados lactobacilos – Favorecem funções e gastrointestinais, com redução de obstipação e podem auxiliar na prevenção do câncer de cólon Vegetais como chicória, Prebióticos – Ativação alcachofra e intestinal, favorecendo o frutooligossacarídeos inulina bom da microflora funcionamento do intestino Fonte: Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais 62 17 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ADAM, B.O. et al. Conhecimento nutricional de praticantes de musculação de uma academia da cidade de São Paulo. Brazilian Journal of Sports Nutrition, v. 2, n. 2, p. 24-36, 2013. ARAÚJO, M.F.; NAVARRO, F. Consumo de suplementos nutricionais por alunos de uma academia de ginástica, Linhares, Espírito Santo. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 2, n. 8, 2012. BARBOSA, G.A. et al. A intervenção e acompanhamento nutricional fazem a diferença? Associação entre praticantes de atividade física. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 9, n. 54, p. 525-533, 2016. BARNETT, A. Using recovery modalities between training sessions in elite athletes. Sports Medicine, Auckland, v. 36, no. 9, p. 781-796, 2006. BENTO, R.; DAMASCENO, L.; NETO, F. Eritropoetina humana recombinante no esporte: uma revisão. Rev Bras Med Esporte, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3: 160-180. 2003. BIESEK, S.; GUERRA, I., ALVES, L.A. Estratégias de nutrição e suplementação no esporte. Editora Manole, 2005. CARVALHO, T.; MARA, L.S. Hidratação e nutrição no esporte. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 16, n. 2, p. 144-148, 2010. CHEMIN, S.M.S.S.; MURA, J.D.P. Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia. São Paulo: Roca, 2008. comprovação de ação ergogênica e potenciais riscos para a saúde. Rev Bras Med Esporte 2009;15(3). 63 DA SILVA PÍCOLI, T.; DE FIGUEIREDO, L.L.; PATRIZZI, Lislei Jorge. Sarcopenia e envelhecimento. Fisioterapia em Movimento, v. 24, n. 3, 2017. DA SILVA, G.R. et al. Imagem corporal e estado nutricional de acadêmicas do curso de Nutrição de uma universidade particular de Alfenas. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 10, n. 56, p. 165-174, 2016. DA SILVA, Tatiana Tavares. Questões éticas na prática da medicina do esporte na contemporaneidade. Revista Bioética, v. 27, n. 1, 2019. DA SILVEIRA, M.A.; BORGES, L.R.; ROMBALDI, A.J. Avaliação nutricional e consumo alimentar de adolescentes praticantes de natação. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 9, n. 53, p. 427-436, 2016. DAS NEVES, D.C.G et al. Consumo de suplementos alimentares: alerta à saúde pública. Oikos: Família e Sociedade em Debate, v. 28, n. 1, p. 224-238, 2017. DE ALMEIDA ANDRADE, L. et al. Consumo de suplementos alimentares por pacientes de uma clínica de nutrição esportiva de São Paulo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 20, n. 3, p. 27-36, 2012. DE MELO, K.N.P; DA SILVA, A.J.; COELHO, R.G. Suplementação prévia de carboidrato e o desempenho no treinamento de força - uma revisão. Ciência Atual - Revista Científica Multidisciplinar das Faculdades São José, v. 8, n. 2, 2016. DE OLIVEIRA, S.F.; RIBOLDI, B.P.; ALVES, M.K. Conhecimento sobre Nutrição Esportiva, uso e indicação de suplementos alimentares por educadores físicos de Caxias do Sul-RS. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, n. 62, p. 141149, 2017. 64 DE REZENDE, Marlos Pereira et al. A influência dos níveis de magnésio na fadiga muscular: uma revisão sistemática. Saúde Coletiva (Barueri), n. 49, p. 1578-1583, 2019. DOS REIS, E.L. et al. Utilização de recursos ergogênicos e suplementos alimentares por praticantes de musculação em academias. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, n. 62, p. 219-231, 2017. DOS SANTOS, E.A.; PEREIRA, F.B. Conhecimento sobre suplementos alimentares entre praticantes de exercício físico. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, n. 62, p. 134-140, 2017. DOS SANTOS, G.M. et al. Análise da rotulagem de suplementos proteicos comercializados na cidade de Teresina-PI. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 12, n. 70, p. 255-261, 2018. DOS SANTOS, M.S.L; GOMES, Jane Sucharski; BIESEK, Simone. Avaliação do perfil antropométrico e consumo alimentar adolescentes jogadores de futsal. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 9, n. 53, p. 463-470, 2016. ELLIOTT, S. Erythropoiesis-stimulating agents and other methods to enhance oxygen transport. British Journal of Pharmacology. USA, v. 154: 529-541. 2008. FAYH, A.P.T. et al. Consumo de suplementos nutricionais por frequentadores de academias da cidade de Porto Alegre. Rev Bras Ciênc Esporte, v. 35, n. 1, p. 2737, 2013. FERREIRA, B.E. Alterações nas concentrações de biomarcadores sanguíneos em ciclistas após competições de meio fundo e contra-relógio individual. 2015. 65 FISONE, G.; BORGKVIST, A.; USIELLO, A. Caffeine as a psychomotor stimulant: mechanism of action. Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS), v. 61, n. 7–8, p. 857– 872, 2004. FURTADO, E.T.F. et al. Hidratação em nadadores. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 10, n. 58, p. 381-389, 2016. GALATI, P.C.; GIANTAGLIA, A.P.F.; TOLEDO, G.C.G. Caracterização do consumo de suplementos nutricionais e de macronutrientes em praticantes de atividade física em academias de Ribeirão Preto-SP. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, n. 62, p. 150-159, 2017. GOMES, L.S.; BARROSO, S.D.S.; GONZAGA, W.D.S.; PRADO, E.S. Estado de hidratação em ciclistas após três formas distintas de reposição hídrica. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Brasília. Vol. 22. Num. 3. p.89-97. 2014. GOTTLIEB M. G. V., MORASSUTTI A. L., CRUZ I. B. M. Transição epidemiológica, estresse oxidativo e doenças crônicas não transmissíveis sob uma perspectiva evolutiva. Scientia Medica. Porto Alegre, volume 21, número 2, p. 69- 80, 2011. GUYTON & HALL. Tratado de Fisiologia Médica. 12ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. HALL, M.M.; RAJASEKARAN, S.; THOMSEN, T.W.; PETERSON, A.R. Lactate: Friend or Foe. PM&R. Vol. 8. Num. 3. 2016. p. S8-S15. HERNANDEZ, A. J. et al. Diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Modificações dietéticas, reposição hídrica, suplementos alimentares e drogas: comprovação de ação ergogênica e potenciais riscos para a saúde. Revista Brasileira Medicina do Esporte, v. 15, n. 2, 2009. 66 KLEINER, S. M.; GREENWOOD-ROBINSON, M. Nutrição para o treinamento de força. São Paulo. Editora Manole, 2002. LANHAM-NEW AS, et al. Sport and exercise nutrition. Chichester: Wiley-Blackwell; 2011. LOPES, C. et al. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física IAN-AF 20152016: Relatório de resultados. 2017. LOPES, I. R.; SOUZA, T. P. M.; QUINTÃO, D. F. Uso de suplementos alimentares e estratégias de perda ponderal em atletas de jiu-jitsu de Ipatinga-MG. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 8. Num. 46. p. 254-263. 2014. MACHADO, Á.S. et al. Efeitos da suplementação com extrato de chá verde sobre biomarcadores de fadiga e desempenho neuromuscular. 2018. MAHAN, L.K; ESCOTT-STUMP, RAYMOND, J.L: Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13ed. São Paulo: Roca, 2013. MARCHINI, J.S. et al. Aminoácidos. ILSI Brasil International Life Sciences Institute do Brasil. São Paulo, 2016. MARQUES NF et al. Consumo alimentar e conhecimento nutricional de praticantes de musculação do município de Itaqui-RS. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 2015;9(52):288-97. MARTINS, A.O. Cortisol e testosterona salivares como biomarcadores de estresse e recuperação em atletas de corrida de aventura. 2013. MARZETTI, E.; CALVANI, R.; TOSATO, M.; CESARI, M.; Di, B. M.; CHERUBINI, A.; et al. Sarcopenia: an overview. Aging Clinical and Experimental Research, p.1-7, 2016. 67 MAXIMIANO, C. M. B. F.; SANTOS, l. C. Consumo de suplementos por praticantes de atividade física em academias de ginásticas da cidade de Sete Lagoas-MG. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. McDERMOTT. B.P.; ANDERSON, S.A.; ARMSTRONG, L.E.; CASA, D.J.; CHEUVRONT, S.N.; COOPER, L.; KENNEY, W.L.; O'CONNOR, F.G.; ROBERTS, W.O. National Athletic Trainers' Association Position Statement: Fluid. MONTEIRO, C. A.; CANNON, G.; LEVY, R. B. NOVA. A estrela brilha. Classificação dos alimentos. Saúde Pública. World Nutrition. v. 7, n. 3, p. 28-40, 2016. MOREIRA, João Pedro Assis; MENDES, Thiago Pires; COSTA, André Gustavo Vasconcelos. Nível de desidratação e concentração de lactato de praticantes de atividade física de alta intensidade. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 13, n. 81, p. 648-656, 2019. MORGAN, H. L.; PETRY, A. F.; LICKS, P. A. K.; BALLESTER, A. A.; TEIXEIRA, K. N.; DUMITH, S. C. Consumo de Estimulantes Cerebrais por Estudantes de Medicina de uma Universidade do Extremo Sul do Brasil: Prevalência, Motivação e Efeitos Percebidos. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio Grande do Sul, v. 41, n. 1, p. 102-109, 2017. NETO, F. C. C. V; FEITOSA, A. N. A; SARMENTO, T. A. B; RIBEIRO, A. G. F. O uso não prescrito de metilfenidato entre acadêmicos de medicina: uma revisão de literatura. Revista Interdisciplinar em Saúde, Cajazeiras, v. 5, n. 4, p. 759-773, 2018. NIELSEN FH, LUKASKI C. Update on the relationship between magnesium and exercise. Magnesium Research. 2006 set; 19(3):180-9. OLIVEIRA, A.L.B. et al. Cinética de aparecimento e remoção de biomarcadores de lesão muscular, inflamação e estresse oxidativo após exercício combinado de alta intensidade. 2011. 68 OLIVEIRA, L.M; AZEVEDO, M.O; CARDOSO, C.K.S. Efeitos da suplementação de creatina sobre a composição corporal de praticantes de exercícios físicos: uma revisão de literatura. Revista Brasileira de nutrição esportiva, v. 11, n. 61, p. 10-15, 2017. OLIVEIRA, Maria de Jesus. Sarcopenia associada ao envelhecimento: fatores que interferem na qualidade de vida do idoso. 2019. PALHA, Cátia; GOUVEIA, Miguel; FERNANDES, Sara Guimarães. Suplementação oral de magnésio na prevenção de cãibras musculares: revisão baseada na evidência. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, v. 36, n. 1, p. 36-42, 2020. PARISI L, PIERELLI F, AMABILE G, VALENTE G, CALANDRIELLO E, FATTAPPOSTA F, et al. Muscular cramps: proposals for a new classification. Acta Neurol Scand. 2003;107(3):176-86. REIS EL et al. Utilização de recursos ergogênicos e suplementos alimentares por praticantes de musculação em academias. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva 2017; 11(62):219-31. REIS, Alexandre Pereira et al. Avaliação do consumo alimentar de macronutrientes e micronutrientes em praticantes de musculação. 2019. SÁ, C.A. et al. Consumo alimentar, ingestão hídrica e uso de suplementos proteicos por atletas de jiu-jitsu. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 9, n. 53, p. 411-418, 2016. SANTANA, Luíza Côrtes et al. Consumo de Estimulantes Cerebrais por Estudantes em Instituições de Ensino de Montes Claros/MG. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 44, n. 1, 2020. 69 SANTOS, A.V.; FARIAS, F.O. Consumo de suplementos nutricionais por praticantes de atividades físicas em duas academias de Salvador-BA. RBNERevista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 11, n. 64, p. 454-461, 2017. SANTOS, Andrea Roberta Silva dos et al. Efeito da suplementação aguda/isolada de cafeína sobre o desempenho de lutadores nos esportes de combate: revisão sistemática. 2019. SANTOS, Andressa Medeiros et al. Nível do estado de hidratação em corredores amadores de rua antes e após uma competição de 25km. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 13, n. 80, p. 573-580, 2019. SANTOS, F. C.; NAVARRO, F. Avaliação dos conhecimentos de nutrição e suplementação por parte de frequentadores de academias e estúdios da cidade de João Monlevade-MG. RBNE-Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Vol. 10. Num. 57. 2016. p. 260274. SANTOS, M. Â. A.; Santos, R. P. dos. Uso de suplementos alimentares como forma de melhorar a performance nos programas de atividade física em academias de ginástica. Rev. Paul. Educ. Fís. Vol. 16. Num. 2. 2002. p.174-185. SANTOS, M.F. et al. Prevalência e perfil quanto ao uso de recursos ergogênicos entre acadêmicos de Licenciatura em Educação Física. Cinergis, v. 18, n. 2, p. 121-124, 2017. SILVA, H. et al. Avaliação do conhecimento em nutrição esportiva de profissionais de educação física em um clube esportivo de São Paulo. RBNERevista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 10, n. 56, p. 241-247, 2016. SILVEIRA VI, Oliveira RJF, Caixeta MR, Andrade BBP, Costa RGL, Santos GB. Uso de psicoestimulantes por acadêmicos de Medicina de uma universidade do sul de Minas Gerais. Revista da Universidade Vale do Rio Verde 2015;13(2):186-92. 70 SILVEIRA, Mariana Gonçalves et al. Conhecimentos de acadêmicos de Nutrição sobre alimentação saudável e Nutrição Esportiva. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, v. 13, n. 78, p. 227-235, 2019. SIMAS, Luisa Amábile Wolpe; GRANZOTI, Rodrigo Otávio; PORSCH, Letícia. Estresse oxidativo e o seu impacto no envelhecimento: uma revisão bibliográfica. Brazilian Journal of Natural Sciences, v. 2, n. 2, p. ágina 80-ágina 80, 2019. SIMIONI, Patricia Ucelli; DA SILVA, Natallia Oliveira; APARECIDO, Luiz Antonio. A Eritropoetina Recombinante no “Doping”: uma Atualização da Literatura. Ciência & Inovação, v. 4, n. 1, 2019. SOARES, Jarlson Pio et al. Conhecimento nutricional e uso de suplementos alimentares por frequentadores de academias de uma capital do nordeste. Nutrição Brasil, v. 18, n. 2, p. 95-101, 2019. SOARES, Ricardo. O percurso das drogas no império da anfetamina. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 26, n. 2, p. 707-709, 2019. TORTORA G.J; DERRICKOSON B. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 14. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2016. 1216 p. WADA- World Anti-Doping Agency. Prohibited list 2017 [Internet]. Montreal: Wada; 2016 [acesso 16 out 2017]. WILSON, M. et al. Effect of glycemic index meals on recovery and subsequent endurance capacity. Int J Sports Med. 2009; 30:898. WOLINSKY, I; HICKSON, J - Nutrição no Exercício e no Esporte. 2ª ed. Ed. Roca, 1996. 71 18 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR BACURAU, Reury Frank Pereira; UCHIDA, Marco Carlos; TEIXEIRA, Luis Felipe Milano. Nutrição esportiva e do exercício físico. Phorte Editora, 2017. BIESEK, Simone; ALVES, Letícia Azen; GUERRA, Isabela (Ed.). Estratégias de nutrição e suplementação no esporte. Editora Manole, 2005. COSTA, Neuza Maria Brunoro; ROSA, Carla de Oliveira Barbosa. Alimentos funcionais: componentes bioativos e efeitos fisiológicos. Editora Rubio, 2016. GUYTON, Arthur C. et al. Fisiologia médica. Madrid: Elsevier, 2006. LORENZETI, Fábio Ricardo. Nutrição e Medici; JÚNIOR, suplementação Luiz Carlos esportiva: Carnevali; aspectos ZANUTO, metabólicos, fitoterápicos e da nutrigenômica. Phorte Editora LTDA, 2011. 72