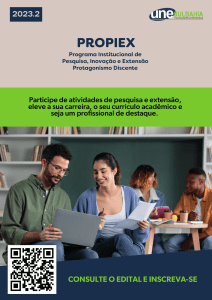Eduardo Chagas Oliveira Ivana Libertadoira Borges Carneiro (Org.) PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES ISBN 978-85-7395-292-6 9 788573 952926 > EM FILOSOFIA E ENSINO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Reitor: Evandro do Nascimento Silva Vice-Reitora: Norma Lúcia Fernandes de Almeida ISBN 978-85-7395-292-6 Departamento de Ciências Humanas e Filosofia: Adriana Dantas Reis (Diretora) Alessandra de Oliveira Teles (Vice-Diretora) Organizadores Eduardo Chagas Oliveira (UEFS) Ivana Libertadoira Boges Carneiro (UNEB) Conselho Editorial Alfredo Eurico Rodrigues Matta (UNEB) Antonio Ianni Segatto (UNESP) Arturo Fatturi (UFFS) Daniela Chagas Oliveira (IFBA) Diogo de França Gurgel (UFF) Edileuza Fernandes da Silva (UnB) Geovana da Paz Monteiro (UFRB) João Carlos Salles Pires da Silva (UFBA) Jorge Freire Póvoas (UCSal / Faculdade Baiana de Direito) Mario Ariel Gonzalez Porta (PUC-SP) Olival Freire Júnior (UFBA) Wagner Telles de Oliveira (UEFS) Comissão de Revisão de Linguagens e Normas Técnicas Ilza Carla Reis de Oliveira Helionardo Oliveira de Carvalho Rebeca Nascimento Tâmara Andreucci Dias de Oliveira PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES EM Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento Volume 1 Textos Organizados por Eduardo Chagas Oliveira Universidade Estadual de Feira de Santana Ivana Libertadoira borges carneiro Universidade do Estado da Bahia Supervisão: Profa. Dra. Suani de Almeida Vasconcelos Composição de Capa Grupo de Estudos em “Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento” Designed by new7ducks/Freepik (adapted) CC0 Creative Commons/Uso Autorizado Fotogafia: Dr. Georg Wietschorke - Bremen/Deutschland In: Pixabay / CC0 Creative Commons / Uso Comercial Autorizado Universidade Estadual de Feira de Santana Avenida Transnordestina, s/n - Novo Horizonte CEP 44.036-900 - Feira de Santana - Bahia Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia Feira de Santana UEFS 2018 ISBN 978-85-7395-292-6 PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES EM Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento Os textos publicados neste livro são de inteira responsabilidade de seus autores. A reprodução parcial é permitida, desde que seja citada a fonte. Ficha Catalográfica – Biblioteca Central Julieta Carteado – UEFS P553 Perspectivas interdisciplinares em filosofia e ensino / Eduardo Chagas Oliveira, Ivana Libertadoira Borges Carneiro [organizadores]. – Feira de Santana : Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia / Universidade Estadual de Feira de Santana, 2018. 165 p. : il. – (Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento ; v. 1). Ebook ISBN: 978-85-7395-292-6 1. Filosofia – Ensino. I. Oliveira, Eduardo Chagas Oliveira, org. II. Carneiro, Ivana Libertadoira Borges, org. III. Universidade Estadual de Feira de Santana. IV. Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia. CDU: 1:37 Elaboração: Luis Ricardo Andrade da Silva – Bibliotecário – CRB-5/1790 Textos Organizados por Eduardo Chagas Oliveira Universidade Estadual de Feira de Santana Ivana Libertadoira borges carneiro Universidade do Estado da Bahia PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES EM Filosofia e Ensino SUMÁRIO Apresentação 09 Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades Afonso Henrique Magalhães de Campos Roberto Leon Ponczek 13 Ser professor: formação e caminhos a seguir Cleide Maria Quevedo Quixadá Viana 27 Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Dante Augusto Galeffi 41 Didática: com a palavra, os professores da educação básica. Liliane Campos Machado Ilma Passos Alencastro Veiga 67 O Silêncio das Vozes nos Currículos: uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica. Silvana Ferreira da Silva Eduardo Chagas Oliveira 81 Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Wilson Nascimento Santos 95 Jovens em desvantagem social e a autoformação Ilzimar Oliveira 111 Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) Gleidson Sena Dias Nacelice Barbosa Freitas 133 Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. O Caso de amor Ágaba e Sady (Cidade da Parahyba, 1923) Iranilson Buriti 153 APRESENTAÇÃO O presente volume da Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento resgata uma predisposição natural dos pesquisadores do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia (NEF) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS): o desenvolvimento do trabalho de matiz interdisciplinar. Seja por meio da Revista Ideação – espécie de “cartão de visitas” do núcleo supra – ou consoante as demais publicações alinhadas à sua proposta, sempre houve uma inquietude favorável à publicação de materiais reconhecidamente transversais. Após a nossa aproximação com o DMMDC – Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento – e com a retomada das atividades do grupo de pesquisas homônimo à coleção, procuramos estreitar laços de cooperação acadêmica com docentes e pesquisadores de instituições de ensino que compartilham desse espírito de articulação em rede, com o fito de promover a produção e a difusão de saberes múltiplos – para além das fronteiras do universo acadêmico. Nessa esfera dos saberes e conhecimentos – formais e não-formais – de natureza acadêmica e não-acadêmica, que promovem uma ampliação de horizontes e criam um amálgama cognoscitivo, sob o amparo de um pensamento polilógico, buscamos mecanismos capazes de favorecer maior visibilidade às múltiplas formas de pensar sobre temas caros à sociedade. Para tanto, propusemos volumes dotados de independência de tratamento, mas capazes de conceder unidade ao conjunto da proposta. Para viabilizar o nosso intento, encontramos na habitual generosidade da Prof.ª. Dr.ª Ivana Libertadoira Borges Carneiro, o amparo que necessitávamos para atrair uma das instituições que formam a rede de cooperação do DMMDC. Docente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por já ter integrado os quadros da UEFS e permanecer colaboradora do NEF, conhece as idiossincrasias das instituições e abraçou imediatamente a proposta que culmina nessa parceria de atividades voltadas à publicação desta coleção. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 10 11 Precisamos reconhecer que a apreensão do espírito contido no projeto do DMMDC foi decisiva para sustentar uma base epistemológica mínima, que nos serviu de força motriz, uma vez que ele se edifica a partir da necessidade de se pensar criticamente – sob uma abordagem interdisciplinar e multirreferencial – os modos de investigação dos processos de geração e difusão do conhecimento. Por esta razão, o volume inaugural da coleção, consagrado às articulações entre Filosofia e Ensino conta com a colaboração de docentes e pesquisadores do quadro do programa. Nesse cenário um nome se destaca: Dante Galeffi. Pensador refinado, ser humano de uma generosidade intelectual sem precedentes, não se furtou a colaborar nesse empreendimento com um capítulo sobre Musicologia e processos inter e transdisciplinares. Sistematizando elementos que – à primeira vista – não se mostram muito próximos entre si, Galeffi articula Identidades sonoras, música, educação e ética tomando como ponto de partida aquilo que ele designa ser uma “questão crucial para os que lidam com a interpretação do mundo em sua epifania fenomenológica”: por que haveria no princípio o verbo e não o silêncio? Os professores Afonso Campos e Roberto Ponczek trazem a discussão para o campo das (inter-)subjetividades e da cultura, com o objetivo de provocar o leitor à uma reflexão sobre currículo. Ao pensar a educação enquanto processo formativo da cidadania, sustentam a necessidade de se (re)conhecer filosoficamente a condição humana e suas implicações nas interações entre os sujeitos. Dentro do mesmo escopo de investigação, propusemos uma reflexão sobre o formal e o real, na práxis pedagógica, com a pretensão de desvelar o Silêncio das Vozes nos Currículos. A partir de uma proposição da professora Silvana Ferreira enfrentamos o desafio de pensar as tipologias e teorias curriculares e suas limitações na crueza do real. Para incrementar a discussão acerca de uma das questões mais críticas da educação na atualidade – a formação de professores da educação básica – contamos com a colaboração das professoras Ilma Veiga e Liliane Machado, que sugerem uma observação atenta acerca da valorização do ensino-aprendizagem na formação docente. A partir de narrativas das(os) professoras(es) no seu ambiente laboral, as autoras discutem a importância da didática na prática docente, tomando como ponto de partida a realidade social e as experiências individuais e coletivas nas quais esses profissionais estão imersos. Acompanhando a relevância da temática, Cleide Quixadá Viana analisa a formação e o fazer docente considerando as influências e os valores que esse profissional apreende no decurso da sua trajetória pessoal e problematizando a questão de como esses elementos são determinantes para a construção da sua identidade e na adoção dos seus posicionamentos. Dentro de uma abordagem análoga, mas reconduzindo as discussões para o plano do perscrutar filosófico, Wilson Santos propõe uma reflexão sobre construções, leituras e perspectivas de realidades. O autor edifica a sua argumentação conforme aquilo que ele sustenta como uma premissa fundamental da discussão: a ideia de que o grande anseio do ser humano é conhecer e dominar a realidade. Não obstante, contamos, ainda, com textos exemplares e complementares às discussões. Ilzimar Oliveira sugere uma reflexão acerca dos Jovens em desvantagem social e a autoformação destacando a relevância da mobilização de recursos – objetivos e subjetivos – necessários à inserção desses sujeitos nos espaços sociais. Com esse objetivo concede destaque à importância da escolarização e da formação profissional dos indivíduos durante a construção da sua identidade. Gleidson Dias Sena e Nacelice Freitas, por outro lado, nos conduzem ao Recôncavo da Bahia – mais especificamente ao município de Cachoeira – com o propósito de nos inserir em uma análise sobre a formação territorial e econômica do Brasil, a partir daquela região. Com isso fomentam uma discussão que margeia a própria formação identitária do povo brasileiro, a partir de uma problematização híbrida, que resgata elementos históricos e geográficos para a fundamentação da proposta. Por fim, contamos com a sutileza de Iranilson Buriti, que tece uma análise sobre a Linguagem Afetiva e as (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. Com rigor depurado, o ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino - Apresentação Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 12 autor se debruça sobre O Caso de amor Ágaba e Sady, na Cidade da Parahyba (1923), para verificar aquilo que poderia ser identificado como um passo Além da “linha da decência”. Em síntese, trata-se de um trabalho plural, em sentido amplo, sem deixar de ser singular em suas especificidades. O presente trabalho se constitui enquanto um convite à reflexão – nos domínios da Filosofia, em sua interface com os demais campos das Humanidades – a partir de múltiplos modos de olhar para o horizonte que se nos abre ao entendimento. Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades. Afonso Henrique Magalhães de Campos 1 Roberto Leon Ponczek 2 SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Pensando currículo: as partes e o todo 3. O nó da cultura: o currículo multifacetado 4. O nó da subjetividade: construindo identidades 5. Considerações Finais 6. Referências Eduardo Chagas Oliveira 1. Introdução A educação, aqui entendida enquanto processo formativo da cidadania, constitui-se e dirige-se para o indivíduo e a coletividade e estabelece-se através das relações políticas, ou seja, na própria sociedade. Neste sentido, é preciso (re) conhecer filosoficamente a condição humana (o que é o homem?) e, no âmbito das ciências humanas, os modos em que as interações entre os sujeitos acontecem. Não é possível, assim, construir currículos – os selecionar através de saberes socialmente relevantes (o que ensinar?) e de que maneira eles serão abordados no processo de ensino-aprendizagem (como ensinar?) –, sem se ter uma compreensão das especificidades do ser humano e das sociedades. Por certo, não é uma tarefa trivial. As transformações sociais, econômicas, políticas e culturais acontecem em ritmo acelerado, ditadas pelo processo de atualização constante dos saberes científicos e tecnológicos e exigem que os princípios pedagógicos norteadores do currículo estejam, de preferência, à frente de seu tempo: sair da zona de conforto 1 ___________ Afonso Campos é professor do Instituto Federal da Bahia e doutorando em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia. 2 Roberto Leon Ponczek é Professor da Universidade do Estado da Bahia e orientador no Doutorado Multidisciplinar e Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento da UFBA. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino - Apresentação Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 14 15 do já conhecido e exercitado, para pensar e experimentar o que ainda está por vir. Discutir currículo, dessa maneira, significa pensar mudanças no modelo de educação (visando o desenvolvimento do ser humano); mudanças de concepções, crenças e posturas do professor e mudanças de posturas e atitudes dos educandos, instituições e família. Um currículo, por depender das interações existentes entre os atores envolvidos, também gravita em torno de interesses que estão constantemente em jogo no processo de ensino-aprendizagem. É possível perceber, na história recente do Brasil, uma postura comum – poderíamos considerá-la “cidadã” – em relação aos assuntos que dizem respeito aos rumos da nação, e aos temas mais corriqueiros da vida em sociedade. O empoderamento dos indivíduos e dos grupos sociais, no contexto da história recente brasileira, revela mudanças estruturais e conjunturais nas formas pelas quais o cidadão percebe e se percebe na complexa teia política do país. Antes, restritas ao que se convencionou chamar de elites econômicas e intelectuais, as decisões políticas na atualidade têm efeito quase imediato no conjunto da sociedade, em virtude da velocidade de divulgação e disseminação da informação via televisão e, principalmente, via internet. Num sentido inverso, a repercussão social de tais decisões também pode ser sentida pelas lideranças políticas de forma imediata, não sendo mais possível desprezar o poder dos meios de comunicação. De igual modo, também na educação, são perceptíveis as mudanças no modo pelo qual as decisões acerca dos processos formativos são definidas. Os debates, implicados na construção do currículo, antes conduzidos às portas fechadas dos gabinetes dos gestores da educação, aos poucos vão se tornando de domínio público. É possível que o currículo tenha ficado tempo demais como objeto de uso pessoal dos gestores das políticas públicas para a educação, excluindo sujeitos diretamente implicados nas suas ações (professores, alunos, família, sociedade), e que isto tenha determinado interpretações e concepções de currículo distanciadas da realidade das escolas. No entanto, as demandas sociais nunca saíram de cena, e faz-se necessária uma abordagem responsável. Neste processo de empoderamento e protagonismo do currículo e dos sujeitos implicados, na sua construção e viabilização no interior das escolas, pelo menos dois entraves fazem-se sentir, de início: a saída da zona de conforto em que professores e gestores da educação se acostumaram e o consequente aumento do trabalho de pensar o currículo, sem tê-lo “pronto”, vindo diretamente de gabinetes; em seguida, e mais grave, a precariedade epistemológica de pensar currículo, fruto do distanciamento de tais sujeitos que compõem o cenário da educação. Fórmulas prontas, produzidas por tecnocratas, tendem a encantar pela facilidade com que são resolvidos os problemas da educação, não sendo claro perceber as falácias em que se sustentam. Como consequência, torna-se difícil para os educadores resistirem aos “modismos intelectuais”, que a todo o momento emergem no âmbito pedagógico. Na atualidade, devemos ainda compreender o currículo como “um dos artefatos educacionais dos mais iluministas, autoritário e excludente” (MACEDO, 2011, p. 15) e nos mantermos firmes nos caminhos possíveis para torná-lo um instrumento de emancipação política e social. Para tanto, pensamos na formação de sujeitos críticos-criativos, capazes de radicalizar, indo até as raízes, na compreensão do currículo e fazê-lo instrumento comum de transformação nas escolas. 2. Pensando currículo: as partes e o todo. Por se tratar de um campo de disputas políticas, a complexidade das variáveis implicadas (econômicas, culturais, políticas, históricas, entre outras) determina uma rede cujos nós 3 estão em constante mudança. Neste sentido, é impossível construir um currículo universal, válido para toda e qualquer realidade, ou mesmo um currículo que não 3 ___________ Temos aqui uma dupla metáfora: os nós, enquanto pontos de ligação entre os interesses econômicos, culturais, políticos, etc.; e os nós, entendido como subjetividade, maneiras possíveis de interpretação e compreensão do todo e das partes que compõem o currículo. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 16 17 comporte mudanças ou ajustes constantes. Em outras palavras, um currículo ideal deve ser fluido e multifacetado. Temos assim, uma primeira aproximação para o entendimento e a construção de um currículo contemporâneo. Por estar inserido em uma determinada cultura e por buscar afirmar uma identidade própria aos sujeitos que nela compartilham valores comuns, faz-se necessário compreendê-lo em suas partes constitutivas, sem perder a perspectiva da totalidade implicada. Cultura e identidade devem estar em consonância com a natureza de qualquer currículo. Uma base comum, onde são instaurados sujeitos singulares e suas identidades. Do ponto de vista filosófico, tomando-se como base o pensamento de M. Heidegger, a fórmula A=A é apresentada como princípio de identidade. Ela não expressa que um elemento se assemelha ao outro, mas que cada “A” é, ele mesmo, o mesmo. Em latim, o “idêntico” (idem) é designado por “to auto”, que significa “o mesmo”. Em cada identidade, reside uma relação “com” e, portanto, existe uma mediação, uma ligação, uma síntese: a união numa unidade. O princípio de identidade diz como todo e qualquer ente é ele mesmo, consigo mesmo, o mesmo (HEIDEGGER, 1977). Em outras palavras, o princípio de identidade fala do ser, do ente, e como princípio do pensamento, vale somente na medida em que é um princípio do ser, cujo teor é: de cada ente, enquanto tal, faz parte a identidade, a unidade consigo mesmo (HEIDEGGER, 1977). Em qualquer situação, sempre que mantivermos algum tipo de relação com qualquer ente, seremos interpelados pela identidade, e, se não acontecesse desta maneira, o ente não poderia jamais manisfestar seu ser como fenômeno. Se não lhe fosse garantida previamente, e em cada caso, a “mesmidade” de seu objeto, a ciência não poderia ser o que é (HEIDEGGER, 1977). Já do ponto de vista social, conforme Silva (2012), a possibilidade de definir identidades e marcar diferenças não pode ser separada das relações de poder, estabelecendo fronteiras demarcatórias e classificatórias, onde é possível incluir ou não incluir o outro. Assim, a identidade e a di- ferença são construídas levando-se em consideração valores subjetivos, que são criados (expressos) por meio de atos linguagem. Através da linguagem, a normalidade é o natural, desejável (a identidade), ainda que sejam indeterminada e instável. Culturalmente, a maioria dos indivíduos quer preservar sua identidade (isto é, não ser diferente), mas essa identidade deve, contudo, ser única ou personalizada (SILVA, 2012). Contudo, outra problematização que aqui se coloca é saber em qual perspectiva se deve compreender a cultura no contexto do currículo, para que ela possa se tornar um fundamento das subjetividades. É relevante destacar que não se trata de hierarquizar culturas possíveis, como menos ou mais apropriadas à produção de subjetividades, mas de como compreender a cultura como substrato do currículo, isto é, de modo a abarcar as demandas sociais que as identidades revelam. O ponto de referência que se deve ter é a heterogeneidade da sociedade, que se faz sentir no microcosmo da sala de aula, ainda que, infelizmente, esta ainda se encontre organizada conforme um modelo fordista-taylorista, a despeito das tentativas de mudanças nas concepções de educação. Tal configuração acentua o descompasso entre a teoria e a realidade da sala de aula, evidenciando relações assimétricas de poder decisório e a manutenção do status quo de uma elite dirigente pouco afeita às mudanças. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades O desafio contemporâneo que se impõe é pensar o currículo a partir da totalidade – representada pela multiplicidade das culturas – em consonância com suas partes – na construção de subjetividades ou individualidades que acolham a existência do outro como diferente. 3. O nó da cultura: o currículo multifacetado A orientação fundamental da escola contemporânea, “formar indivíduos críticos, sujeitos de sua história” (PLATT, 2009, p. 29), estabelece uma fronteira cujo interior circunscreve um ideal de ser humano – ao menos para nossa conjuntura histórica –; mas cuja realização plena se torna ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 18 19 problemática em virtude de sua própria constituição interior: “o que caracteriza o homem é a riqueza e sutileza, a variedade e a versatilidade de sua natureza” (CASSIRER, 1994, p. 25). Antecipando um pouco nossas análises sobre subjetividade, rejeitamos o sentido usualmente atribuído ao conceito de formação. Compreendemos “formação” como construção de si mesmo, tal como pensado por Sartre em sua filosofia existencialista (SARTRE, 2005); o que implica na autonomia e liberdade dos sujeitos que escolhem e decidem sobre tudo que lhes dizem respeito. A formação é compreendida como um processo dinâmico, cuja finalidade não seria meramente técnica, mas, antes, denotaria uma experiência constante de evolução e aperfeiçoamento interior. É importante ressaltar, conforme observação de Gadamer, que a formação não pode ser um fim em sim mesmo: formativo em favor do caráter instrumental operativo das coisas: “a técnica e em geral todo ‘tecnicismo’ tem a inocência do instrumento” (RICOUER, 1968, p. 108). Na formação, as coisas não se constituem em um fim, mas num meio para se atingir um fim mais elevado: o retorno a si mesmo. Declara-se que o homem é a criatura que está em constante busca de si mesmo – uma criatura que, em todos os momentos de sua existência, deve examinar e escrutinar, as condições de sua existência. Nesse escrutínio, nessa atitude crítica para com a vida humana, consiste o real valor da vida humana. “Uma vida que não é examinada”, diz Sócrates em sua Apologia, “não vale ser vivida” (CASSIRER, 1994, p. 12). A formação é uma necessidade humana, quando considerada a ruptura que se opera entre o homem e a natureza a partir da razão. O desenvolvimento das aptidões racionais, elevando-as do imediatismo do mundo natural, exige do indivíduo mais do que a simples satisfação de suas necessidades comuns. Na formação, o indivíduo deve reconhecer o estranho no que lhe é familiar, apropriando-se do sentido das coisas. A formação se dá numa espécie de movimento pendular entre si mesmo e o outro. No sentido técnico de aquisição de conhecimentos específicos, aperfeiçoamento de aptidões e habilidades, a formação perde seu caráter Liberdade e autonomia não são sinônimas, ainda que, do ponto de vista ético racionalista, o exercício da autonomia tenha como uma de suas precondições a liberdade. O conceito de liberdade é mais amplo em termos existenciais, sendo uma condição humana, conforme o pensamento de Sartre. Segundo ele, não há para nós, seres humanos, como “escapar”, fugir ou recusar a liberdade. Ela é nossa “condenação”. Mas, em que sentido essa afirmação pode ser compreendida? No contexto do pensamento sartreano, nós estamos absolutamente à sós (ausência de Deus), não existindo nada que nos determine. Aquilo que somos ou seremos é sempre resultado de todas as nossas experiências de vida: “o homem não é mais que o que ele faz” (SARTRE, 2005). Isso não significa, como já afirmado anteriormente, que haja alguma forma de “determinismo”, agindo sobre os indivíduos, mas em como nós respondemos às circunstâncias da vida cotidiana: “o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós” (SARTRE, 2005). É uma condição humana da qual não há como escapar. Não atribuir a si mesmo a responsabilidade por tais escolhas, ainda conforme Sartre, é agir de má-fé. Assim, a formação que a escola pode propiciar é a disponibilização para os indivíduos de uma série de opções (conhecimentos ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento No fundo, formação não pode ser um objetivo, não pode ser desejada, a não ser na temática reflexiva do educador. É justamente nisso que o conceito de formação supera o mero cultivo de aptidões pré-existentes, do qual deriva. O cultivo de uma aptidão é o desenvolvimento de algo dado, de modo que seu exercício e cultivo são um mero meio para o fim. Assim, o material de ensino de um manual de linguagem é um meio e não um fim. Sua apropriação serve apenas para o domínio da linguagem. Na formação, ao contrário, é possível apropriar-se totalmente daquilo em que e através do que alguém é instruído (GADAMER, 1997, p. 47). 20 21 organizados e a possibilidade de criticá-los criativamente), mas cabe apenas a estes indivíduos, em última instância, realizar a decisão sobre qual opção seguir. Assim, neste ponto de vista, o currículo deve ser compreendido não como possibilitador de uma formação que na prática não acontece, mas como instrumento que pode enriquecer ou empobrecer o campo pelo qual os sujeitos irão construir experiências de vida. A cultura, então, se torna o elemento vital dessas experiências. As pesquisas desenvolvidas por Homi Bhabha (2011) no campo da cultura nos dão a orientação que pretendemos aqui desenvolver para o estudo de currículo. Para este autor, a diversidade cultural deve ser compreendida não apenas como muitas culturas locais isoladas, mas também como produto dos choques inevitáveis entre elas, resultando no que ele denominou de “hibridismo cultural”. Para Bhabha (2011), as identidades teriam como características a fluidez e a transitoriedade, sendo que, quanto mais a tradição é transfigurada pelas novas gerações, mais as diferenças aí presentes seriam redefinidas a partir de novas relações constitutivas. Esta percepção renovada das diferenças poderia naturalizar nos sujeitos a prática do hibridismo cultural. Este acolheria a diferença sem estabelecer hierarquias de valores (BHABHA, 2011). Desta forma, a busca por reconhecimento, que marcaria a percepção identitária, seria mais performática e estratégica do que essencialista. Não significa o abandono, mas uma re-significação dos discursos identitários anteriores, próprio da transitoriedade e hibridez do presente. Tais relações seriam derivadas da subalternização econômica que alguns povos imprimem sobre outros (BHABHA, 2011). Neste sentido, o espaço e a história, nos quais os indivíduos estão localizados, devem ser compreendidos numa perspectiva ampliada que está muito além da sala de aula. Para a realidade brasileira atual, construída inicialmente a partir de uma condição colonial portuguesa, e, posteriormente, já como estado independente, no conflito de pelo menos duas grandes culturas hegemônicas: a europeia e a africana (ainda que de forma bastante assimétrica); compreender cultura no âmbito do currículo se torna uma tarefa complexa. A multiplicidade das culturas existentes, que marcariam a riqueza da diversidade, torna-se motivo de estranhamento da diferença, de lutas políticas, de negações e afirmações, de fronteiras obscuras de práticas ideológicas, ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades [...] mas é precisamente nessas banalidades que o estranho se movimenta, quando a violência de uma sociedade racializada se volta de modo mais resistente para os detalhes da vida: onde você pode ou não sentar, como você pode ou não viver, o que você pode ou não aprender, quem você pode ou não amar (BHABHA, 2005, p. 37). Mas essas “banalidades” se tornam, no currículo (seja ele o idealizado, o real ou o oculto), o lugar privilegiado para a manutenção velada dos esquemas autoritários de uma tradição ideológica dominante, sem direito à uma negociação política. A continuidade de tais esquemas e a impossibilidade de outras vozes ecoarem, torna-se um modo de operar a vigilância e a negação do outro. Reivindicar experiências educativas que privilegiem a diversidade cultural e sua expressão deve ser prioridade de um currículo multifacetado, capaz de estabelecer a integração dos valores de distintas culturas, a capacidade de aprender e adaptarse, a autonomia, liberdade e responsabilidade, entre outros (MUZÁS, s.d., p. 43). Um caminho possível é o currículo interdisciplinar, possibilitado pelo diálogo entre várias formas e origens do conhecimento, que foge da lógica “disciplinar” e hierárquica, rumando para uma nova forma de organização, mais orgânica e integrada. Com a interdisciplinaridade, estabelece-se a flexibilização das atividades desenvolvidas com maior criatividade e cooperação. 4. O nó da subjetividade: construindo identidades Pensar múltiplas culturas e suas interações possíveis, na sociedade e no currículo, exige, antes, pensar o indivíduo, tanto no âmbito da subjetividade, quanto no da identidade. O primeiro conceito sugere a compreensão que possuímos ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 22 23 do nosso “eu” e envolve, nesse processo, sentimentos e pensamentos pessoais conscientes e inconscientes (WOODWARD, 2012, p. 55). O filósofo afirma ainda que “o homem não pode tomar consciência de sua individualidade, a não ser através do meio da vida social” (1994, p. 363). As identidades são construídas dentro de um contexto social em que a subjetividade (o “eu”) está inserida e em constante negociação com outras subjetividades, estabelecendo desta forma as relações sociais. Ao constituir uma identidade, o indivíduo torna-se então um “sujeito”. As práticas e o processo simbólico da cultura, de forma consciente (e mesmo inconsciente), dão ao indivíduo significados no interior de um sistema simbólico. Segundo Cassirer, “não estando mais num universo meramente físico, o homem vive em um universo simbólico. A linguagem, o mito, a arte e a religião são partes desse universo.” (CASSIRER, 1994, p. 48). É neste universo simbólico que o currículo deve refletirse. A percepção e a compreensão do universo simbólico, atrelado ao contexto histórico, exige um novo fazer pedagógico, reestruturado para incorporar, no currículo, paradigmas e premissas adequadas ao novo contexto das sociedades pós-modernas, sem recair nos antigos modelos que requerem tão somente a produção otimizada, em larga escala, de tudo que o mercado consumidor exige. A formação, portanto, deve estar sempre articulada com as exigências práticas do cotidiano, sejam elas de caráter político, econômico, cultural e mesmo tecnológico, sem perder a perspectiva crítica de seus fundamentos. Em outras palavras, uma formação crítica (no sentido teórico-filosófico), descolada do mundo cotidiano, perde seu sentido e significado. Em seu texto “Entre o passado e o futuro”, Hannah Arendt nos adverte para o sentido do que ela nomeia de “crise na educação”, tomando esta crise não num sentido negativo, mas apontando para o seu caráter possibilitador do novo, sem rejeitar as tradições. Esta concepção, no entanto, não pode ser compreendida numa perspectiva positiva da história, em que os fatos vão se sucedendo e o resultado é necessariamente o progresso. É preciso levar em consideração elementos subjetivos Entretanto, nós vivemos nossa subjetividade em um contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos e o qual adotamos uma identidade. Quaisquer que sejam os conjuntos de significados construídos pelos discursos, eles só podem ser eficazes se eles nos recrutam como sujeitos (WOODWARD, 2012, p. 56). Em outros termos, o ser humano procura interpretar a si mesmo e ao mundo em que vive, atribuindo-lhes significados. No entanto, o homem não basta a si mesmo. É preciso, além dos modos intrínsecos ao homem, da compreensão das coisas que o cercam, o estabelecimento de relações com outros indivíduos, através da linguagem, para que essa compreensão, seja ela racional ou intuitiva, se constitua enquanto tal. [...] até certo ponto, existimos graças ao reconhecimento alheio, que nos valoriza, nos aprova ou nos desaprova e nos devolve a imagem de nosso próprio valor; a constituição dos sujeitos humanos é uma constituição mútua por opinião, estima e reconhecimento; o outro me confere sentido, devolvendo-me a trêmula imagem de mim mesmo (RICOEUR, 1968, p. 120-121). Ao considerarmos a relação do indivíduo com o outro e a consequente formação das imagens incorporadas socialmente; o indivíduo absorvido na cultura, se compõe na dinâmica e condições desta própria cultura, explicitando seus valores. As convenções compartilhadas tornam possíveis as sociedades, condicionando-as e formando um mundo próprio nas diversas estruturas e conexões culturais. Cassirer (1994) pondera, [...] não há outra maneira de conhecer o homem senão pela compreensão de sua vida e conduta. Mas o que encontramos aqui desafia a toda tentativa de inclusão de uma fórmula simples e única. A contradição é o próprio elemento da existência humana.” (CASSIRER, 1994, p. 27) ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 24 25 presentes nas relações políticas, econômicas e culturais de qualquer sociedade. Conforme Freire, “(...) não podemos esquecer de que o que somos guarda algo que foi e que nos chega pela continuidade histórica de que não podemos escapar, mas sobre o que podemos trabalhar, e pelas marcas culturais que herdamos” (FREIRE, 2001, p. 23). As recentes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais exigem, por parte das instituições educativas, um currículo que deve incluir algumas competências e habilidades específicas para o século XXI. São elas: a tomada de decisões eficazes, baseadas em critérios racionais, especialmente nos momentos em que se exige maior responsabilidade (incluem-se aí as decisões pessoais, interpessoais, de grupo e organizacionais); desenvolvimento e realização do potencial criativo pessoal através da reavaliação crítica de crenças e valores, fazendo valer o despertar e o fluir de novas ideias; enfrentamento coerente dos desafios cotidianos nas esferas pessoal e social, tanto presentes quanto futuros; relacionamento apropriado com os demais membros da sociedade, reconhecendo a diversidade e a pluralidade; defesa da democracia, enquanto exercício do poder e da responsabilidade cívica por todos os cidadãos; desenvolvimento de atitudes críticas e propositivas, acentuando o diálogo como meio de obtenção de consenso social. A escola, nesta perspectiva, não pode ser apenas um espaço para aquisição de conhecimento livresco. É imprescindível a transformação da prática docente e dos demais sujeitos implicados nos processos educativos (gestores, estudantes, família etc.). samente ligado entre si. As novas relações, estabelecidas entre a educação e as identidades culturais, devem ser o princípio orientador do processo de ensino-aprendizagem. Uma formação docente, crítica em seus fundamentos, permite construir, com os sujeitos, um tipo de autonomia em que os problemas práticos podem ser abordados a partir de um ângulo crítico e criativo, e, por isso, com melhores possibilidades de resultados mais eficientes. Na perspectiva de construção do currículo, conforme anteriormente descrito, é preciso rejeitar o mero acúmulo de informações, produzidas de forma massificada pelos meios de comunicação; em favor do conhecimento construído de forma crítica nos ambientes formais e não formais de educação, visando a formação humanística e cidadã dos sujeitos. A estrutura curricular, ainda vigente em diversas escolas, na qual as disciplinas não dialogam entre si, resulta na perpetuação de uma formação que, se por um lado, é de interesse dos setores produtivos da economia, de outro, dificulta a construção da criticidade e da perspectiva emancipatória. Entendemos que as demandas do fazer educativo contemporâneo exigem mentes sensíveis para compreender as transformações sociais e pôr a educação em consonância com as novas fronteiras culturais. Não existe a última palavra. Os discursos oscilantes, que evidenciam ideologias ou concepções, pesquisas e empreendimentos em educação, necessitam fluir de maneira aberta, não para resgatar algo que evidentemente não se perdeu – a educação e a formação humana existirão enquanto existir a humanidade –, mas para conduzir a própria educação como prática social formativa, criativa e inovadora. Considerações finais A escola da contemporaneidade deve defender, por intermédio de seu currículo, a consciência e o respeito pela cidadania, de modo a abranger não apenas seu entorno próximo, mas também fazer com que se estabeleçam vínculos com a diversidade e a pluralidade das culturas, formando indivíduos que definam responsavelmente sua existência, num contexto ___________ de mundo globalizado e inten- ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 26 Referências ARENDT, Hannah. Entre o Passado e Futuro. São Paulo: Perspectiva, 1999. BHABHA, Homi K. O Lugar da Cultura. Belo Horizonte: EDUFMG, 2005. CASSIRER, Ernest. Ensaio Sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. São Paulo: Martins Fontes, 1994. FREIRE, Paulo. Política e Educação: ensaios. São Paulo: Cortez, 2001. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 1997. MACEDO, Roberto Sidnei. Currículo: campo, conceito e pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2011. MUZÁS, Maria Dolores; BLANCHARD, Mercedes; SANDÍN, Maria Teresa. Adaptación del Currículo al Contexto y al Aula: respuesta educativa em las Cuevas de Guadix. Madrid: Narcea, s.d. PLATT, Adreana Dulcina (Org.). Currículo e Formação Humana: princípios, saberes e gestão. Curitiba: CRV, 2009. RICOEUR, Paul. Verdade e história. Rio de Janeiro: Forense, 1968. SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada: ensaios de ontologia fenomenológica. Petrópolis: Vozes, 2005. SILVA, Tomaz Tadeu da. A Produção Social da Identidade e da Diferença. In. SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2012. WOODWARD, Kathryn. Identidade e Diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2012. Ser professor: formação e caminhos a seguir1 Cleide Maria Quevedo Quixadá Viana 2 SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Um pouco da história para entender o contexto 3. O professor como pesquisador 4. Como fazer? 5. Referências 1. Introdução O presente texto propõe uma reflexão sobre a formação e o fazer docente. A abordagem do tema nos remete às seguintes reflexões: quais influências o professor recebe na construção da sua identidade? Que políticas educacionais são determinantes no fazer docente? De que forma o professor se prepara para o exercício do magistério? Esta preparação acompanha o seu dia a dia? O que é realmente importante para a construção de tal identidade? A história nos ensina que, desde a Antiguidade, na Grécia Antiga, por exemplo, existiram filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles que concebiam e repassavam seus ensinamentos e seus métodos e, assim, “faziam escola”. Sócrates, filósofo grego, nascido em Ática em 470 a.C. e falecido em Atenas em 399 a.C., que se apresentava como “aquele que nada sabe”, definia um método que ficou conhecido como “ironia socrática”, não se tratando de “zombaria”, mas de uma “interrogação”. Apesar do filósofo não ter deixado escritos de suas ideias, estas ficaram registradas por meio dos “diálogos” de Platão, como forma de protesto contra a condenação à morte de seu mestre (JULIA, 1969). Por sua vez, Platão, cujo nome verdadeiro é Arístocles, filósofo grego nascido em Atenas a 428 e falecido entre 1 ___________ Texto reestruturado com base em um texto da autora publicado em 2004 pela EDUECE com o título: “A identidade do professor e o papel da pesquisa no fazer docente. IN: QUIXADÁ VIANA, Cleide Maria et al. Didática. Fortaleza: Ed.UECE, 2004. p.33-42. 2 Professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB). E-mail: cleidequixada@gmail.com ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Pensando Currículo: Cultura e Subjetividades Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 28 29 348-347 a.C., procedente de família aristocrática, foi aluno de Crátilo e discípulo de Heráclito, antes de ser discípulo de Sócrates. Devido a sua teoria racionalista dos conhecimentos e por sua teoria moral da salvação é considerado o pai de toda a filosofia ocidental. Por meio do método de interrogação, ou “maiêutica”, quer mostrar ao interlocutor que ele próprio é capaz de “tirar de si mesmo o verdadeiro conhecimento”. Procura através da “ironia socrática” fazer o interlocutor se colocar em contradição consigo mesmo e mostrar aos políticos, aos poetas e ao povo, que eles não têm conhecimento sobre a essência da poesia e da política (JULIA, 1969). Aristóteles, também filósofo grego, nascido em 384 a.C., em Estagira, na Macedônia, e falecido em 322 a.C., na Eubéia, foi discípulo de Platão por vinte anos. Fundador da escola peripatética, foi o autor das definições de “dedução e de inclusão”, e desenvolveu as noções de “conceito”, de “juízo” e de “raciocínio”, tal como a utilizamos na atualidade. Vale destacar que o desenvolvimento da filosofia da Idade Média aconteceu por conta da sua doutrina, devendo-se mais especificamente à sua lógica e à sua teoria do conhecimento (JULIA, 1969). No que pese a influência das ideias e métodos de grandes filósofos e pensadores ao longo da história da humanidade, no decorrer da história da Educação, esta nos ensina que durante muitos e muitos anos predominou o perfil do professor que reproduzia (ensinava) o saber acumulado, apresentado em livros de alguns poucos que se dedicavam a produzi-los e, com raras exceções, a propagarem suas ideias. Esta é uma prática antiga que, de certa forma, ainda se perpetua na atualidade. E por que predominou e ainda existe esta prática reprodutora no fazer do professor? A quem interessa a perpetuação desta prática? Durante séculos tivemos no País a predominância de um modelo de educação sob a égide da igreja católica e desse plano. O professor era reconhecido como o “dono do saber”, da verdade absoluta, responsável pela propagação de um conhecimento incontestável e inquestionável. O aluno, por sua vez, era um ser passivo que devia assimilar o conhecimento repassado pelo mestre. Vale destacar, ainda, a influência do positivismo, do enciclopedismo e do humanismo nesse modelo que se convencionou chamar entre os estudiosos da Educação de liberal tradicional, o qual influenciou a forma de ensinar, o perfil do professor e do aluno. No que pese a evolução dos modelos que se sucederam na educação brasileira, é possível constatar ainda hoje a influência desse modelo tradicional nos diferentes níveis de ensino. No Brasil contemporâneo, após o movimento desencadeado pela tendência educacional que ficou conhecida como Escolanovismo que veio contrapor-se ao modelo tradicional de educação, embora mantendo o mesmo compromisso de apoio ao status quo; seguindo-se a influência do modelo tecnicista, aclamado no período de três décadas de ditadura militar; nos anos de 1980, com a “abertura política”, o movimento de educadores até então sufocado pelo regime em vigor, emergiu na maioria dos estados do País, desencadeando uma onda de Congressos, Fóruns e Encontros comprometidos com a discussão sobre os rumos da Educação. O cenário que se abria ao novo estimulou a produção intelectual dos nossos educadores, inspirados em boa medida, pela pedagogia conscientizadora de Paulo Freire. Dentre os autores que se tornaram conhecidos nacionalmente podemos citar na área da Didática, disciplina que tem como objeto o estudo do processo de ensino e, consequentemente, do fazer docente, Dermeval Saviani, mentor da tendência pedagógica denominada pedagogia histórico-crítica e José Carlos Libâneo, autor da tendência que ficou conhecida como crítico-social dos conteúdos. Embora estas duas tendências tenham origens comuns, vale destacar que, ao longo das últimas décadas, Libâneo distanciou-se progressivamente das influências e posições de 2. Um pouco de história para entender o contexto Como sabemos, os jesuítas foram os principais responsáveis pela implantação da Educação no Brasil, respaldados por um plano e organização de estudos, o Rátio Studiorum. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Ser professor: formação e caminhos a seguir Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 30 31 Saviani, aderindo ao paradigma que aposta na emergência de uma sociedade pós-moderna, na qual a centralidade do trabalho teria dado lugar à centralidade do conhecimento e da comunicação, ao contrário de Saviani, que, permanecendo no campo do marxismo, reconhece que a sociedade capitalista contemporânea, não obstante o progresso científico-tecnológico que a caracteriza, continua centrada nos relações entre capital e trabalho cindida, portanto, em classes sociais. Tais tendências se tornaram referência no cenário educacional nacional, passando a exercerem influência significativa no fazer de muitos professores e, por que não dizer, no repensar de sua prática. Esta concepção crítica de educação passou a exigir um “outro tipo” de professor e, consequentemente, uma prática diferente da prática reprodutivista, ainda hoje presente na escola brasileira, diga-se de passagem. Entretanto, a citada “abertura política” no Brasil aconteceu em um período de emergência da crise estrutural do capitalismo contemporâneo. Entre os caminhos apontados para a superação dessa crise, economistas do tesouro americano, representantes do Banco Mundial e do FMI apresentaram ao mundo um decálogo de medidas elaborado em 1989, que se convencionou chamar Consenso de Washington. Estava posta a agenda neoliberal para que, principalmente os países devedores de organismos financeiros internacionais promovessem uma reestruturação no modo de produção, para tornar possível um ajuste capaz de responder e garantir o pagamento das dívidas de países devedores aos países credores. Entre os ajustes necessários a essa “nova” ordem, tivemos uma reforma educacional no Brasil, na qual a política educacional passou a ser regulada e atrelada à ótica do mercado, calcada na privatização e no aligeiramento do ensino e na formação do professor, tratando o ensino como mercadoria. Assim, na contramão do debate e da preocupação com este novo horizonte que se delineava, a política educacional no País retomou com mais ênfase a influência do que Freitas (1992) considerou o estabelecimento de um neotecnicismo, que se apresentou com contornos mais refinados do que o da década de 1970. Nesse contexto, a formação do educador, sua identidade, seu fazer, o ensino e o perfil do aluno que se quer formar incorporamse, definitivamente, à lógica da produção de mercadorias. É importante destacar que para o entendimento desta lógica, temos a considerar Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Ser professor: formação e caminhos a seguir Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento ___________ que o trabalho, por se confundir com a própria história de vida e sobrevivência do homem, constitui-se no princípio educativo por excelência, na medida em que está na ligação do trabalho produtivo com a instrução, o meio de transformar a sociedade hodierna. O trabalho como princípio educativo não se coloca acima, mas não se submete aos ditames da produção (QUIXADÁ VIANA, 2004, p. 35). O entendimento do trabalho como princípio educativo justifica-se, ainda, não só pelo fato de se ter tornado, não só meio de vida, mas, ele próprio, a primeira necessidade vital, como nos alerta Marx (1985, p.17). Nesse sentido, há de se considerar para o entendimento das exigências do contexto social, a dupla face do trabalho, em sua dimensão eminentemente antagônica revelada, por um lado, como possibilidade de realização, emancipação e libertação humana e, por outro lado, como cerceamento da liberdade, subserviência ao jugo do capital e dos interesses do mercado, alienação – ou estranhamento – através do qual o homem vê o seu suor objetivado em mercadoria, servindo exclusivamente para garantir a reprodução e acumulação da riqueza privada. Para Marx (1993), a propriedade privada, alicerce de uma sociedade de classes, é responsável pela divisão do trabalho, sendo a divisão do trabalho, ao mesmo tempo, manifestação da propriedade privada. Assim, como bem avalia Manacorda (1991, p.67), a divisão do trabalho condiciona a divisão da sociedade de classes e, com ela, a divisão do homem, e como esta se torna verdadeiramente tal apenas quando se apresenta como divisão entre trabalho manual e trabalho mental, assim como as duas dimensões do homem dividido, cada uma das quais unilateral, são essencialmente as do trabalhador manual operário e do intelectual. ___________ 32 33 Tal divisão, presente no modo de produção capitalista que garante aos proprietários a posse da técnica, do trabalho intelectual, o controle da organização de trabalho e a alienação do trabalhador, se faz refletir na organização do trabalho na escola, que, por sua vez, reflete os interesses e contradições da sociedade capitalista. No sistema educacional, as relações sociais se perpetuam através da dicotomia escola da burguesia X escola do trabalhador, na qual a primeira prepara o aluno para exercer funções de mando e a segunda, para obedecer com subserviência. Jimenez (2003, p.3) atenta para o fato de que na reestruturação do capitalismo, a atividade educacional, sob o domínio das relações mercantis, é solicitada a tomar parte no processo de reprodução da força de trabalho e criação de valores. Nesse sentido, de acordo com a nova (des)ordem do capital, reforçada pelo que Mészáros considera uma crise de acumulação do capital, aprofunda-se o fosso da degradação do trabalho para que se garanta a acumulação do capital, em oposição à concepção de trabalho como elemento fundante da sociabilidade humana, tão consistentemente defendida pela doutrina marxista. O modelo de educação concebido a partir das exigências do projeto neoliberal e de quem o determina, os organismos internacionais capitaneados pelo Banco Mundial, estabeleceu um perfil de trabalhador, professor e aluno baseado em velhos conceitos apresentados na década de 1990 sob uma nova maquiagem, utilizando-se de termos amplamente divulgados nos diferentes meios de comunicação, no discurso oficial e patronal e nas produções acadêmicas, como flexibilidade, polivalência, espírito de equipe, tomada de decisão, qualidade total, competência, habilidades, competitividade, dentre outros, apresentando o que Frigotto (1995) considerou uma reedição da teoria do capital humano. No quadro dessas mudanças, a identidade do professor foi sendo influenciada pelo conceito de professor reflexivo, em seguida pelo de professor crítico reflexivo ou intelectual crítico reflexivo. O conceito de professor reflexivo foi difundido no meio educacional pelo norte-americano Donald Schön, na década de 1980. O citado autor retomou a ideia de experiência e reflexão na experiência de John Dewey e de conhecimento tácito, que é considerado como o conhecimento na ação, de Luria e Polanyi. Schön defende, então, que a formação profissional deve desenvolver-se a partir de uma epistemologia 3 da prática que considera a prática do professor como um momento de construção de conhecimento por meio da reflexão, da análise e da sua problematização. Assim, o conhecimento prático acontece na reflexão da ação, considerando um problema concreto. A partir de Schön desenvolveu-se a produção acadêmica sobre o conceito de professor reflexivo, necessitando, entretanto, ser essa produção criteriosamente analisada para que não se assuma mais uma vez sem a devida clareza, mais um dos sazonais modismos educacionais. Pimenta (2002) aponta os desdobramentos conceituais e a posição crítica de vários autores sobre o assunto. Vejamos: - Liston e Zeichner, por exemplo, criticam o reducionismo do conceito de Schön ao considerar a prática reflexiva de forma individual e não levar em conta o contexto institucional, defendendo uma posição pragmático-reducionista do ensino como atividade crítica, em que a reflexão na prática visa à reconstrução social. - Giroux apresenta a ideia de professor como intelectual crítico por considerar limitada a proposta de Schön. Para Giroux, a reflexão desse intelectual crítico deve ser coletiva e realizar a análise do contexto escolar considerando o contexto mais amplo e assumindo um compromisso com a emancipação e transformação das desigualdades sociais. - Em relação à Giroux, Contreras critica o fato de apesar de Giroux definir com clareza o conteúdo da sua prática, omitir-se de mencionar como é possível se tornar um intelectual crítico e transformador, superando a condição de ___________ 3 Epistemologia: estudo dos métodos de conhecimento que são praticados nas ciências. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Ser professor: formação e caminhos a seguir Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 34 35 técnico reprodutor e até reflexivo individualmente. - Contreras critica a prática do professor que limita sua ação e reflexão ao contexto da sala de aula, sem considerar os condicionantes estruturais do seu fazer. Vale destacar que a discussão sobre o professor reflexivo, que ocupou o cenário educacional na década de 1990, recebeu adeptos e críticas de muitos estudiosos do assunto. No meio de todas as colocações sobre o conceito de professor crítico-reflexivo em contraposição ao conceito de professor tradicional, é oportuno fazer algumas considerações: Qual seria a interpretação dessa frase? Na vida de um professor, ela já é ou poderá vir a ser uma realidade em sua prática pedagógica? O que é preciso fazer para tê-la como princípio didático? O professor pode ser docente e pesquisador ao mesmo tempo? Valorizar a pesquisa como eixo norteador da prática do professor é viver e compartilhar o dia-a-dia com outros professores e alunos e colocar a pesquisa como prioridade na sua formação continuada. Também é importante que o aluno se sinta contaminado pela curiosidade e o prazer de descobrir por meio da pesquisa. 1. a princípio, é importante a reflexão do seu fazer por parte do professor. Entretanto, é fundamental que o professor saiba sobre o que e para que ele está refletindo, e que este fazer refletido seja encarado com referência à totalidade em que se insere (a sociedade do capital) e se coloque a serviço do rompimento de todas as formas de alienação do homem; 2. a reflexão deve ser um caminho para a defesa de um projeto político-social que considere a realidade da luta de classes na luta pela transformação radical da sociedade; 3. a reflexão deve considerar sua intervenção no contexto sócio-político-econômico e histórico no qual se situa e seu compromisso com as classes populares; 4. por fim, é preciso ter clareza de que a reflexão, do ponto de vista do fazer docente, não irá alterar a realidade se esse professor não conquistar, por meio da luta coletiva, o poder de intervenção na base do sistema para ser possível mudar radicalmente os rumos da política educacional vigente e, mais do que isso, as eternas desigualdades sociais se perpetuarão, apesar da reflexão, enquanto perdurar o sistema capitalista. Como fazer? Paulo Freire menciona em seu livro Pedagogia da autonomia (1996, p.32) que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Não é necessário nenhum temor ou preocupação em fazer pesquisa. Aos poucos, o professor descobre que a pesquisa faz parte do seu cotidiano, da sua prática pedagógica, embora ele não se dê conta e não a tenha sistematizada. Pesquisar não é coisa só para cientista. O processo de aprendizagem constitui-se em atividades de indagação, informação, reflexão, busca e desafio para a descoberta de soluções e novos caminhos. Em “O papel mediador da pesquisa no ensino de didática”, André (1997) comenta os tipos de pesquisa utilizados na área da Educação e da Didática, para que o professor investigue a sua prática. A citada autora estabelece uma distinção entre pesquisa científica e pesquisa didática. Para ela, a primeira tem o objetivo de produzir novos conhecimentos, satisfazendo critérios específicos de objetividade, originalidade, validade e de legitimidade perante a comunidade científica (ANDRÉ, 1997, p.20). Já a pesquisa didática deve proporcionar o acesso aos conhecimentos científicos; levar o aluno-professor a assumir um papel ativo no seu próprio processo de formação, e mais, a incorporar uma postura investigativa que acompanhe continuamente sua prática profissional (ANDRÉ, 1997, p.20). Na perspectiva da pesquisa didática, dentre as três formas de pesquisa apontadas por André, temos: a metodologia de pesquisa; a pesquisa do tipo etnográfico e a pesquisa como paradigma de uma prática refletida, a pesquisa-ação. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Ser professor: formação e caminhos a seguir Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento De todo modo, a superação do conceito de professor tradicional, aquele que simplesmente reproduz o conhecimento - o qual, bem entendido, não deve jamais ser desconsiderado ou aligeirado - implica em uma nova postura de professor, na qual este passa a ser um pesquisador do conhecimento e da sua própria prática. 3. O professor como pesquisador 36 37 A metodologia da investigação, que tem como ponto de partida um problema a ser solucionado, uma questão que precisa de resposta ou um projeto a ser executado. O objetivo da metodologia de pesquisa é o de levar o aluno a aprender como observar, como elaborar hipóteses (ou questões), a escolher instrumentos para responder suas hipóteses (ou questões) de trabalho e a saber expor suas conclusões. Dessa forma, o aluno desenvolve a sua autonomia, pois o ensino deixa de ser considerado como transmissão de conteúdo pronto. Outra forma de pesquisa é a do tipo etnográfico, usada para expor e analisar situações didáticas relatadas em pesquisas pelos professores, bem próximas de sua realidade, possibilitando a articulação entre teoria e prática. A pesquisa etnográfica presta-se segundo ANDRÉ (1997, p.27), a servir de texto gerador de um novo texto, a ser produzido pelo grupo de alunos. Uma última forma de se trabalhar com pesquisa, segundo André, seria a pesquisa como paradigma de uma prática refletida. A esse respeito, Perrenoud (1993, p.129) considera que a pesquisa tem um importante papel na adoção de uma prática refletida do professor. A pesquisa como paradigma de uma prática refletida desenvolvida através da pesquisa-ação, que se utiliza também da metodologia investigativa e da pesquisa etnográfica, caracteriza-se, segundo André (1997, p.28), pelo acompanhamento sistemático e controlado de uma ação realizada por um indivíduo ou grupo. Durante a formação inicial do aluno-professor, pode-se trabalhar com a metodologia da análise crítica da memória educativa. Utilizando-se da memória, o aluno-professor é estimulado a refazer o percurso da construção do seu saber no contexto do seu processo de formação, a interpretar a sua história considerando o contexto sócio-histórico que a determinou, visando com isso, repensar o seu projeto de prática docente. Nessa etapa, é interessante a utilização da metodologia investigativa para se discutir a prática docente, através de projetos coletivos que venham a contribuir para a reflexão sobre a prática de cada um. Em relação aos programas de aperfeiçoamento docente e a formação em serviço, a pesquisa-ação apresenta-se como uma proposta de formar o hábito da análise e reflexão sistemática sobre a própria prática do professor. Para este tipo de trabalho é importante que os papéis dos participantes sejam claramente definidos, como também as formas de trabalho com a investigação, o tipo de pesquisa, para que se tenha clareza do objetivo que estamos nos propondo a atingir. Torna-se oportuno destacar, aqui, a nossa posição crítica quanto à investigação e à pesquisa que não toma a análise do seu objeto, considerando o contexto histórico em que este se efetiva e a totalidade em que o mesmo se materializa, como forma de garantir que esta totalidade seja devidamente considerada no processo de investigação da particularidade investigada. Esta preocupação justifica-se a partir da compreensão de que o arcabouço teórico e as categorias de análise se tecem em um processo histórico e os momentos investigados devem manter uma íntima relação com a totalidade do sistema e a análise das novas relações que se estabelecem no modo de produção. Ao discorrer sobre a dialética 4, Frigotto (1991, p.75) chama a atenção para o fato de que “o reflexo não é toda a realidade, mas constitui-se na apreensão subjetiva da realidade objetiva, ou seja, o reflexo implica a subjetividade”. Refere-se o autor, vale destacar, ao conceito de reflexo em uma dimensão genética, sociológica ou gnosiológica 5. Assim, torna-se necessário que a apreensão da realidade seja considerada na sua dimensão histórica e dialética, marcada por antagonismos e conflitos, mas, segundo Frigotto (1991, p.79), marcada por um tríplice movimento: de crítica, de construção do conhecimento novo, e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação, pois, para esse autor, o que é verdadeiramente importante no processo dialético é a crítica e o conhecimento crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento ___________ 4 5 Dialética: arte do diálogo ou da discussão. Gnosiologia: teoria do conhecimento, de suas origens e formas. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Ser professor: formação e caminhos a seguir Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 39 38 e no plano histórico-social. Esta é a justificativa da nossa opção como professora e educadora pelo referencial teórico-metodológico de pesquisa, que não poderia ser outro que não o materialismo histórico-dialético, concebido de forma mais enfática por Marx, na Ideologia Alemã. Nessa perspectiva, tal metodologia só poderá operar-se em um movimento de mão dupla, na relação das partes entre si de forma articulada com o todo, em que uma categoria por si só há que ser considerada insuficiente e inadequada para uma análise do ser social. Na interpretação de Suchodolski (1976, p. 41, v.I), é no materialismo histórico-dialético que “se atinge uma total solução materialista, através das concepções da emancipação do homem e a superação da alienação”. É por esta razão que o materialismo histórico-dialético toma por base para a produção e reprodução da vida social, a estrutura econômica tecida na totalidade das relações de produção, vislumbrando a possibilidade da construção de um conhecimento não mais alienado, como condição sine qua non 6 para a intervenção da práxis 7 humana na construção de um projeto histórico socialista. Assim, pesquisar a prática do professor, prática essa determinada pela correlação de forças presentes no sistema capitalista, só fará sentido se as análises forem tecidas a partir de uma relação íntima com a totalidade do sistema social e das determinações impostas pelo modo de produção capitalista, refletidas dialeticamente no contexto de uma sociedade de classes. Face ao que foi exposto até aqui, nos resta afirmar que: • a compreensão de que as políticas educacionais na atualidade regulam-se pela ótica do mercado, da privatização, no aligeiramento do ensino e na formação do professor, formação esta tratada como mercadoria no 6 Sine qua non: sem a qual Práxis: no marxismo, o conjunto das atividades humanas tendentes a criar as condições indispensáveis à existência da sociedade e, particularmente, à atividade material, à produção. ___________ 7 contexto da agenda neoliberal. • A escola por sua vez, reflete a dupla face do trabalho, em sua dimensão eminentemente antagônica revelada por um lado como possibilidade de realização, emancipação e libertação humana e, por outro lado, como cerceamento da liberdade, como cerceamento da liberdade, alienação, subserviência aos interesses do mercado. Por fim, fica a pergunta para quem é ou se propõe a ser professor: qual é o seu compromisso diante do cenário que se apresenta? Qual caminho a trilhar? Referências ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. O papel mediador da pesquisa no ensino de Didática. In: ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de; OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales (Orgs.). Alternativas do ensino de Didática. Campinas, SP: Papirus, 1997. FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 1995. FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 2 ed. Aumentada. São Paulo: Cortez, 1991. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. FREITAS, Luiz Carlos de. Neotecnicismo e formação do educador. In: ALVES, Nilda (Org.). Formação de professores: pensar e fazer. 7. ed. São Paulo: Cortez, 1992. p. 89-102. JIMENEZ, Maria Susana Vasconcelos. Formação e prática docente no contexto das relações entre trabalho e educação: um exame crítico das teorizações e propostas dominantes no campo da formação do professor. Projeto de Pesquisa. Fortaleza, 2003. (mimeo). ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Ser professor: formação e caminhos a seguir Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 40 JULIA, Didier. Dicionário de Filosofia. Rio de Janeiro: Larousse do Brasil, 1969. MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. Musicologia e processos inter e transdisciplinares: Identidades sonoras, música, edu1 cação e ética MARX, Karl. Crítica ao Programa de Gotha. In: Obras Escolhidas. Lisboa: Avante, 1985, t.III. Dante Augusto Galeffi São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1991. 2 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosófico. Lisboa: Edições 70, LDA, 1993. SUMÁRIO: 1. O Princípio 2. Musicologia e processos inter e transdisciplinares 3. Identidades sonoras – Ecologias sonoras 4. Música 5. Educação 6. Ética 7. Tudo reunido: Polifonia resoluta 8. Referências PERRENOUD, Philippe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação: perspectivas sociológicas. Lisboa: Dom Quixote, 1993. PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. QUIXADÁ VIANA, Cleide Maria Quevedo. A identidade do professor e o papel da pesquisa no fazer docente. In: QUIXADÁ VIANA, Cleide Maria Quevedo et al. Didática. Fortaleza: EdUECE, 2004. p. 33-42. SUCHODOLSKI, Bogdan. Teoria marxista da Educação. Trad. Maria Carlota de Melo. Lisboa: Estampa, 1976. (v. 1) 1. O Princípio Por que haveria no princípio o verbo e não o silêncio? Eis uma das questões metafísicas tradicionais já incapazes de despertar inquietação criadora nos espíritos contemporâneos ávidos por conhecimentos manuseáveis e rentáveis. Mas esta é uma questão crucial para os que lidam com a interpretação do mundo em sua epifania fenomenológica. Pressupor que no princípio é o verbo significa a assunção de um metaponto de vista articulador do sentido primário da ação como criação originária. O verbo é a ação engendradora do tempo e das temporalidades e suas derivações infindáveis e pontuais. Em sua circularidade ontológica, o verbo não se reduz a um efeito sonoro e nem a uma palavra pronunciada. Mas, como verbo, ele também é um som e uma palavra. É simultaneamente o som ensurdecedor do momento inicial do universo e a palavra moduladora das 1 ___________ Texto escrito da palestra proferida na abertura do III Simpósio Nacional de Musicologia e do V Encontro de Musicologia Histórica, patrocinado pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e pelo Centro de Estudos de Musicologia e Educação Musical da UFRJ, em Pirenópolis - GO, em 2013. 2 Professor titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Docente-pesquisador do Doutorado Multi- institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC), responsável pelo Grupo de Pesquisas “Epistemologia do Educar e Práticas Pedagógicas” (CNPq). E-mail: dgaleffi@uol.com.br ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Ser professor: formação e caminhos a seguir Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 42 43 formas e reformas de todos os instantes do tempo, ambos os acontecimentos apenas imaginados e idealizados pela mente humana. Porque para que exista o acontecimento sonoro é preciso existir o órgão receptor dos sons, um ouvido ou aparelho similar. E no início nada havia e muito menos órgãos de captura e ressonâncias sonoras. Mesmo assim, somos capazes de representar o momento inicial como uma grande explosão acompanhada de um estrondoso som que rasga a quietude do silêncio. Algo similar aos efeitos de uma tempestade elétrica em uma cidade rodeada de montanhas. Assim, pela imaginação sonora, projetamos uma imagem do ato inaugural (Big-Bang) como se fora uma grande tempestade elétrica perpassada por uma espécie de grito primal. A imaginação humana permite acolher a imagem do princípio como verbo: som e palavra em sua originária potência criadora. Haveria, pela compreensão do verbo como princípio de tudo, uma primazia do sentido auditivo sobre os outros sentidos perceptivos? Inicio o movimento da minha exposição com uma questão metafísica insolúvel e incontornável. Será o pano de fundo de todo o processo expressivo aqui realizado. Qualquer palavra que termine com logia refere-se ao logos grego. O Logos grego é o correspondente à Ratio latina e também se associa ao Verbum. Traduz-se, em geral, o Lógos por teoria, ciência, conhecimento racional. Toda palavra que tem essa terminação quer dizer sempre o mesmo. Musicologia não é uma exceção: teoria, conhecimento, ciência da música. Entretanto, toda teoria ou ciência tem sempre planos de constituição subjacentes que modulam os efeitos de visão de mundo produzidos discursivamente. Seguindo-se séries coerentes e concatenadas de ideias claras e princípios axiomáticos. São tais planos de constituição que definem os posicionamentos teóricos sobre o fenômeno musical, a começar pela definição do que é música e o que a diferencia das demais formas de expressão do ser humano. Como teoria que tem como seu objeto os fenômenos musicais, a musicologia segue o desenvolvimento da discursividade epistemológica própria de toda ciência de rigor. É inevitável em toda teoria um posicionamento radical em relação ao setor da atividade do qual se deseja extrair os princípios conceituais fundantes do fenômeno investigado. Há, assim, em toda atividade teórica a necessidade de se alcançar conceitualmente e operativamente os princípios imanentes do campo investigado. Algo que sempre toca o incontornável, o indescritível, o inominável. Entretanto, no decorrer do processo histórico das várias teorizações humanas, o sentido de macro unidade e metarreferência da teoria fragmentaram-se nas diversas áreas do conhecimento, produzindo o conhecido efeito da disciplinarização e especialização moderna do conhecimento. Perdeu-se de vista a Teoria como visão de totalidade que a tudo reúne no mesmo TUDO-UM (Panta-Hén). Perdeu-se a ideia de unidade do conhecimento que se encontrava na origem do pensamento grego e da qual derivou a atividade de teorização batizada de philosophia, considerada a mãe de todas as ciências históricas ocidentais. A racionalidade moderna desenvolveu-se na linha da especialização e da consequente fragmentação. Esse fenômeno pode ser observado em qualquer das teorias que foram sendo construídas a partir da iniciativa de pesquisadores e cientistas e suas escolas de formação. No contrapasso da fragmentação e da especialização insular das diversas áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade aparecem no século XX como projetos de superação dos fossos comunicativos desenvolvidos pelo efeito da especialização instituída, também pela necessidade das ciências de avançarem em seus processos de construção dos conhecimentos. Assim, quando se fala em musicologia e processos inter e transdisciplinares há de se fazer as contas com as viradas epistemológicas do nosso tempo contemporâneo com todas as consequências que daí derivam, sobretudo uma acentuada mudança de visão de mundo e uma inevitável Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 2. Musicologia e processos inter e transdisciplinares ___________ ___________ 44 45 reformulação dos pontos de vista tradicionais das teorias produzidas. Como a musicologia lida, por exemplo, com os processos inter e transdisciplinares do conhecimento humano emergente? Não tenho como responder a essa pergunta de forma linear e unilateral, mas posso destacar alguns processos ligados à teoria da música que já incorporam uma abordagem epistemológica inter e transdisciplinar em seus discursos. O caso da musicoterapia é inegavelmente interdisciplinar, como também os casos dos teóricos da música que lidam com matrizes filosóficas dialéticas e críticas, fenomenológicas e hermenêuticas. Entretanto, o que é que estamos entendendo por interdisciplinaridade e transdisciplinaridade? Como é que tais operadores epistemológicos são hoje incorporados no campo discursivo musicológico? É preciso de imediato ter presente a diferença entre a inter e a transdisciplinaridade. Para ser breve, e apenas como início de conversa, entre a inter e a trans há uma diferença de natureza e não apenas de grau, apesar de ambas as palavras conterem a “disciplinaridade”. Tomemos como referência a escala da disciplinaridade. Antepondo os prefixos multi, pluri, inter e trans à palavra temos sua escala completa: disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A disciplinaridade é o elemento definidor da escala, é a estrutura molar de suas possíveis degradações ou gradações. Pressupõe um regime paradigmático fundado na unidade e na identidade, na relação hierárquica entre as partes de um suposto todo. Sendo algo semelhante ao núcleo duro da estrutura atômica, a disciplinaridade impõe a ordem sobre o caos, a harmonia sobre a desarmonia através de uma geometrização das formas de comportamento corporal. É sempre um procedimento formalizado epistemologicamente. Toda disciplina é uma pragmática formalizada racionalmente, por isso pode se tornar o modelo para a plasmação de cópias. É o que em geral acontece nos regimes disciplinares: a comunicação do conhecimento sedimentado não é dialógica e sim monológica. Uma relação dicotômica e polarizada entre o saber e o não-saber. Enfim, uma série de formatos moduladores que se assemelham aos dispositivos usados para montar e fazer funcionar um autômato e não um ser humano autônomo dentro de suas condições concretas e suas circunstâncias. E é clara a eficácia da disciplinaridade na história da formação humana. O disciplinar está na origem de toda a evolução do conhecimento técnico hoje disponível e dominante. Por sua própria força nuclear forte, a disciplinaridade se multiplica em sua eficácia modeladora. Sua multiplicação é a variedade do mesmo. Por isso a disciplinaridade é paradigmática: a ela corresponde um único modelo para todos os casos da série. É quando o disciplinar se faz multidisciplinar: são muitas as disciplinas de um currículo formativo, mas, sem exceção, todas são igualmente disciplinas normativas. Em toda disciplina prevalece a mesma modelagem paradigmática. Assim, o que na disciplina Física se estuda como som não é o mesmo som da disciplina Música, mas ambas disciplinam os chamados conteúdos da aprendizagem. Quer dizer, ambas repetem o paradigma monológico. Entre as muitas disciplinas de um currículo qualquer não há necessariamente nenhuma conexão entre elas. A expansão da modelagem disciplinar produziu o efeito da multidisciplinaridade: cada área do conhecimento com a sua especificidade, mas todas regidas pela mesma axiologia fundante, pela mesma monológica, mas cada uma com seu objeto específico. O grau seguinte é a pluridisciplinaridade. Curiosamente, a etimologia do prefixo multi encontra conexão de sentido em pluri (plur(i)-), elemento de composição, antepositivo, do lat. plus, plúris, que significa “mais, maior”, semanticamente conexo com miri(a/o)-, mult(i)-, pleto- e poli-). Entretanto se tem usado o prefixo pluri para indicar graus de interação entre as disciplinas que podem variar de intensidade, mas indicam relações de interesse recíproco entre áreas distintas do conhecimento. No rol da produção disciplinar moderna, a perspectiva pluridisciplinar representa uma mudança significativa de Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento ___________ ___________ 46 grau, introduzindo a relação de reciprocidade de sentidos específicos pela aprendizagem das diferentes formas de tratar um mesmo objeto de conhecimento. Por exemplo, um professor de música dialogando com um professor de física sobre as propriedades sonoras, sendo necessário que cada um deles aprenda com o outro a compreender o mesmo objeto de maneira plural e não apenas múltipla. Quer dizer, o professor de música aprendendo a identificar a onda sonora como fenômeno físico e o físico aprendendo a apreciar o som esteticamente, artisticamente. Mais ou menos isso. Chegando à interdisciplinaridade alcançamos o topo do projeto disciplinar. A interdisciplinaridade necessariamente pressupõe a interação discursiva entre áreas diferentes do conhecimento, em que é possível ver a fusão metodológica em alguns casos e o aparecimento de novas áreas disciplinares em outros (como a bioquímica, a biofísica, a astrofísica, a neurociência, a etnomusicologia, a informática etc.). Quer dizer, a inter possibilita a interação progressiva entre diversas disciplinas através de operadores pragmáticos mais complexos, com maior grau de variabilidade, mais flexível ao processo ininterrupto de transformação do conhecimento e sua mudança paradigmática. A interdisciplinaridade amplia o círculo do trabalho colaborativo em um universo/mundo cada vez mais complexo, na perspectiva humana intencionalmente cognitiva. Em relação à transdisciplinaridade observamos um salto de natureza: não é mais apenas um grau de complexidade superior da escala disciplinar e sim uma efetiva mudança paradigmática. Como assim? A preposição latina trans quer dizer além de, para lá de, depois de, o que significa atravessar, ultrapassar, transpor. A transdisciplinaridade transpassa, ultrapassa, vai além da disciplina. Mas não nega a disciplina e nem a subsume dialeticamente. Trata-se de um salto de natureza e não apenas de grau porque muda o plano de referência e consequentemente a modelagem paradigmática. Veja-se a síntese diagramática a seguir como imagem visual da escala da disciplinaridade. 47 Diagrama 1 — Escala da disciplinaridade e a transdisciplinaridade como salto de natureza. Elaborado pelo autor A perspectiva transdisciplinar repropõe uma nova Ciência da Natureza que se projeta como metaponto de vista articulador de outra unidade de referência. Unidade complexa que, entretanto, não mais se ilude com os sonhos metafísicos de alcance absoluto e totalizador do Real em suas atualidades e virtualidades. A partir desse ponto de articulação, qualquer teoria da totalidade é uma perspectiva sustentada por condições concretas e finitas, portanto, por uma espécie de consciência da consciência e da inconsciência e de um conhecimento do conhecimento e do desconhecimento. É a perspectiva humana fazendo as pazes com sua concretude (finitude, limitação). A Ciência da Natureza inclui agora a subjetividade humana como a mediação de todo sentido e significado, de toda interpretação do que quer que seja. A partir da criação da palavra em 1970 por Jean Piaget, ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 48 49 a transdisciplinaridade alcança a sua formulação paradigmática com Basarab Nicolescu (2002, 1999, 2006, 1995) na última década do século XX, tendo como pano de fundo o grande salto de natureza dado pela física quântica, provocando uma necessária ampliação do campo dos fenômenos observáveis e passíveis de descrições condizentes e previsões estatísticas. A surpresa é que há fenômenos que não podem ser compreendidos por meio de uma única lógica, o que não nega a tendência por descrições certas e universais. Os fenômenos mentais, por exemplo, se forem capturados do ponto de vista de sua mera frequência de ocorrências esconderão toda a gama de planos que constituem a concretude dos atos vividos subjetivamente. Os esquemas, as escrituras, as descrições são simplesmente meios semióticos dos processos de comunicação humana. Inspirada na complexidade crescente dos fenômenos observáveis, a epistemologia transdisciplinar formulada por Nicolescu postula três grandes eixos metodológicos em sua formulação paradigmática: tecido da ciência contemporânea? Em outra oportunidade esta questão pode ser objeto de uma elucidação ainda necessária, mas a abrangência do tema tratado requisita uma linha de desenvolvimento propositivo e não ainda de todo justificado de modo mais profundo. Assim, remeto o desenvolvimento da questão à investigação do paradigma da complexidade emergente, sobretudo a partir das obras de Edgar Morin (2007, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2002, 2000), Lupasco (1994) e Basarab Nicolescu, o que permite compreender a grande diferença entre uma ciência monológica e uma ciência polilógica, transdisciplinar e complexa. 1) Há na Natureza e no nosso conhecimento da Natureza, diferentes níveis de Realidade e, correspondentemente, diferentes níveis de percepção. 2) A passagem de um nível de Realidade para outro é assegurada pela lógica do terceiro incluído.” A intercomunicação entre os diferentes níveis de Realidade e de percepção se dá pela Lógica do Terceiro Incluído, formulada por Stéphane Lupasco; 3) A estrutura da totalidade dos níveis de Realidade ou percepção é uma estrutura complexa; cada nível é o que é porque todos os níveis existem ao mesmo tempo. (NICOLESCU, 2001, p. 66) Assim, os diferentes níveis de Realidade e de percepção, a lógica do terceiro incluído e a complexidade configuram o paradigma da transdisciplinaridade. Entretanto, o que toda essa pragmática metodológica tem a ver com um efetivo salto de natureza em relação ao paradigma da racionalidade monológica? Quais são, portanto, as efetivas mudanças que a___________ transdisciplinaridade opera no 3. Identidades sonoras – Ecologias sonoras Tratar o tema das “identidades sonoras” vai requisitar a abordagem prévia da percepção como campo corporal/ mental das experiências possíveis. Tudo o que se sabe e o que se tem memória é expressão da percepção corporal/ mental configurada na maioria humana pelos cinco sentidos comuns. O corpo percebe tatilmente, visualmente, auditivamente, olfativamente, gustativamente. O corpo humano é um perceptômetro complexo através do cérebro e da mente. Um corpo sem cérebro nada percebe. Um corpo morto nada mais sente. A percepção, assim, é o meio sensível e inteligente de conexão do corpo vivente/mental com o ambiente vital. No ser humano a percepção tem o seu espectro próprio diferenciando-se dos infindáveis entes naturais, mas mantendo relações de semelhança e funcionalidade com tudo o que vive. Tudo o que é percebido é percebido por um corpo próprio capaz de conhecer (reter a experiência, memorizar, imaginar). No ser humano a percepção é a capacidade de compreensão generalizada dos fenômenos, compreendendo por fenômeno aquilo que aparece para quem percebe. Todo fenômeno é a rigor um acontecimento perceptivo: não há fenômeno sem percepção corporal/mental operada por indivíduos concretos. A palavra percepção deriva do latim perceptìo, ónis, ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 50 51 que significa compreensão, faculdade de perceber, tem sua origem no verbo capìo, is, cépi, captum, capère, tomar, agarrar, pegar, apanhar, apossar-se, apoderar-se; sofrer, padecer; ser impedido; ganhar, cativar, chamar a si, seduzir, enganar, iludir; escolher, eleger; conter, encerrar, levar; admitir, comportar; conceber, entender; ganhar, alcançar; chegar a, obter etc. (HOUAISS, 2001). A riqueza das variações do verbo capère permite um aprofundamento significativo da palavra/conceito percepção, pois indica em traços gerais a escala afetiva do perceber humano. Assim, perceber é tanto uma atividade/ reatividade como uma passividade/submissão mostrandose em registros afetivos distintos, todos contidos nos significados de percepção. Os estratos indicados (agarrar, pegar, apanhar, apossarse, etc.) compreendem a percepção em seu espectro global, servindo igualmente para indicar a atividade ou passividade de um sentido específico, como a visão e a audição. Ora, perceber pressupõe igualmente memória, retenção, imaginação e antecipação. Pressupõe a temporalidade do ser capaz de perceber. A memória retém o vivido, a imaginação projeta o vivido no vivente, a antecipação assegura a continuidade do vivente. A memória é o que permite identificar e distinguir os infindáveis acontecimentos singulares. Sem memória nada pode ser identificado, separado, distinguido. A memória é o registro das experiências vividas, mesmo aquelas subliminares, inconscientes. Toda identidade e identificação é um registro da memória: só o que pode ser memorado pode ser reconhecido em sua mesmidade. Toda identidade é um conjunto perceptual complexo e variado, mas depende de uma permanência perceptiva. Há uma relação constitutiva da percepção com os seus “objetos”. Toda percepção é percepção de algo: um fenômeno – um aparecer e uma aparência. Toda percepção é percepção de formas (eidos), é percepção enformada modulada, sensível, afetiva, encarnada. É percepção de formatos visuais, táteis, olfativos, gustativos, auditivos. Pode-se traduzir “forma” por “ideia”, porque é sempre um ideado perceptivo pressupondo toda a estrutura da percepção subjacente a todo perceber. Eis indicado um caminho para a fenomenologia dos afetos. Como ser perceptivo, o humano aprende a reconhecer e identificar as coisas nomeando-as. A nomeação é um registro cognitivo fundamental para que o ser humano alcance a identificação distinta dos acontecimentos externos e internos ao seu corpo próprio. Mas é claro que há um perceber primal além das palavras, como ocorre com toda experiência estética intensiva e criadora, ou com as experiências místicas. As identidades sonoras como perceptos memoriais fazem parte do acervo existencial de todo ser humano vivente. Assim como as outras identidades: visuais, táteis, olfativas, gustativas. Todos os seres humanos viventes possuem memória auditiva em graus mais ou menos acentuados, como possuem memórias visuais mais ou menos minuciosas etc. Um exemplo. Qualquer um pode reconhecer os sons de sua paisagem/ecologia sonora pela memória do vivido. Qualquer som novo que irrompa na paisagem sonora chamará a atenção por sua estranheza: a memória não encontrará nenhum registro semelhante. Pode- se dizer que um som que não se reconhece não tem identidade sonora. Porque a identidade é a repetição do vivido. É na repetição memorial que as identidades sonoras são reconhecidas. Para quem não tem a experiência vivida de um determinado som como reconhecê-lo no contínuo fluxo temporal do corpo/mente? Há, pois, conjuntos infindáveis de identidades sonoras distintas e singulares, sobretudo porque uma identidade é uma mesmidade, uma repetição, uma retroação, uma memória do vivido: auditiva, tátil, olfativa, gustativa, visual – corporal/mental. A audição, o ouvir tem a sua força no complexo perceptivo de todo Dasein (HEIDEGGER, 2009). O próprio pensar é primordialmente um ouvir: ouvir o Lógos – segundo Heráclito (COSTA, 2000) é uma homologia entre o ser e o pensar, uma correspondência na escuta. Será o Lógos de Heráclito também museal, ou melhor, musical? Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino ___________ Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética ___________ Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 52 53 O som das palavras cantadas, a música das palavras comuns, cotidianas: a poesia dos sons da língua falada. Será música? Música cuja memória precipitou-se no esquecimento do aberto? O espectro de possibilidades que se pode divisar como “identidades sonoras” é assustador pela sua extensão e intensidade. Porque a percepção é um complexo corporal/mental, a identificação dos diversos níveis perceptivos sonoros requer uma educação apropriada. O fato de todos possuírem um amplo acervo de identidades sonoras não significa dizer que todos vão se tornar especialistas do som e da música. O tema das identidades sonoras tem uma fecundidade enorme, mas no momento vou me manter em um desenho sintético e propositivo. Mas todas as idiossincrasias aí se justificam. Há tipos diferentes de percepção humana e nem todos desejam ouvir o mundo, alguns se contentam em vê-lo. Mas sempre quando se ouve se vê também. E quando se vê, exceto para quem é surdo, também algo se ouve. Há estilos diferentes de paisagens/ecologias sonoras que formam as diversas subjetividades humanas, sempre relacionadas coletivamente. Isso se pode estudar na perspectiva étnica. A etnomusicologia tem motivos de sobra para trabalhar com as Identidades Sonoras dos grupos sociais estudados. Inclusive se pode descrever como o nosso universo sonoro modificou-se de modo decisivo a partir da Revolução Industrial, como assinala Schafer (2011a, 2011b). A própria noção de música sofreu também uma revolução significativa a partir da erupção nas cidades dos sons maquínicos e da composição musical se desprendendo das formas clássicas tonais e modais. Um paralelo das revoluções ocorridas em todas as outras artes, com temporalidades distintas e resultados fora da métrica racional e geométrica ideal. O caos das cores e o caos sonoro se tornam matéria prima para obras de arte construídas intencionalmente. As identidades sonoras são infinitamente variadas como construções societárias, dizem respeito a ambientes culturais específicos, a modos de vida com seus padrões estéticos próprios, seus ritos e mitos, suas crenças e dispositivos vitais de sua perpetuação. Mas toda “identidade sonora” é igualmente uma diferença sonora. Cada um participa, querendo ou não, de paisagens/ ecologias sonoras com suas identidades próprias. Cada identidade é uma diferença, uma singularidade, algo igual apenas a si mesmo enquanto forma formada: o abajur diante de mim persiste na memória como o mesmo; o logossom da Rede Globo se repete a cada intervalo: plim, plim!! É sempre o mesmo som aprisionado à sua identidade empresarial: o som que cumpre a função de um desligar e religar, remetendo de volta ao fluxo de um acontecimento que vive de sua audiência. O uso da automação perceptiva em sua estrutura sensível. O cérebro está acostumado ao ambiente sonoro familiar e todo estímulo acústico/ sonoro terá uma resposta perceptiva imediata. Portanto, pode-se programar o uso do som para fins variados, o que só se pode compreender pela analítica densa da percepção e suas relações simbióticas com as subjetividades sociais e seu acervo imagético. Simbolicamente, um hino nacional é uma identidade sonora deliberada vinculando o ouvinte/ cantante ao pathos forjado de um Estado moderno. E funciona em sua ação simbólica memorial e produz muitas vezes a emoção intencionada como sentimento de pertença à nação. Mas também é preciso distinguir os sons naturais daqueles produzidos pelo ser humano. Há paisagens/ecologias sonoras naturais e paisagens/ecologias sonoras produzidas pela ação humana. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, os sons produzidos pela natureza são marcantes na configuração existencial dos seres humanos. As identidades sonoras são ecologias sonoras: são partes de um todo sensível e inteligente que não para de reinventar-se na deriva temporal longa. Os sons já nascem musicais e podem se tornar música na nomeação humana de sua atividade produtiva e fruitiva intencional. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 4. Música Em relação à música estamos diante de um fenômeno 55 54 complexo e multirreferencial, como, aliás, é tudo o que nos conforma, sendo a sua corriqueira definição insuficiente para cobrir a gama de suas possibilidades: A música é a obra sonora feita pela intenção humana de expressar artisticamente sentimentos estéticos. Todo som não produzido pelo ser humano intencionando a expressão artística não se poderia chamar de música, então? E a dita música dos pássaros, a música das esferas de Pitágoras, a música das montanhas e aquela dos vales, e a música do mar e dos rios? É somente por um uso transladado que se atribui a fenômenos naturais um qualificativo artístico e intencional? Ou haveria também música extra-humana, música sem a intencionalidade humana de fazer obras de arte? Na cultura ocidental a Música aparece como uma atividade originariamente extraordinária. A relação amorosa entre Mnemósine, a deusa da Memória, e Zeus, o supremo deus do Olimpo, teria gerado o nascimento de nove Musas. O termo música deriva daí e tem direta relação com o florescimento dos poetas-cantores ou aedos gregos: a tradição museal da poesia cantada. Significa que todo poeta é devoto das Musas, que foram criadas somente para dançar e cantar em honra aos deuses do Olimpo e aos Bem-Aventurados protetores da humanidade. As nove musas inicialmente formavam um coro feminino mavioso, associado ao som das várias fontes de água que escorriam pelo monte Olimpo vale abaixo. A música tem sua origem mítica como uma atividade memorial em louvor dos Bem- Aventurados protetores das criaturas viventes. A tabela 1 a seguir apresenta as nove musas e seus atributos. As nove musas Musa Significado do nome Calíope Καλλιόπη “a de bela voz” Bela voz – A de bela voz A primeira entre as irmãs. Foi amada por Apolo, com quem teve dois filhos: Himeneu e Iálemo. E também por Eagro, que desposou e de quem teve Orfeu, o célebre cantor da Trácia. Arte ou Ciência Eloquência Representação (Atributo) Tabuleta e buril ___________ Significado do nome Arte ou Ciência Representação (Atributo) A Proclamadora - A que celebra A que confere fama - Aos seus atributos acrescentam-se ainda o globo terrestre sobre o qual ela descansa, e o tempo que se vê ao seu lado, para mostrar que a história alcança todos os lugares e todas as épocas. História Pergaminho parcialmente aberto Érato Ερατώ “amorosa” Amável - Amorosa A que desperta desejo A musa do verso erótico. Poesia Lírica Pequena Lira Euterpe Ευτέρπη “deleite” A doadora de prazeres - Deleite A que dá júbilo A musa da poesia lírica tinha por símbolo a flauta, sua invenção. Por estes atributos, os gregos quiseram exprimir o quanto as letras encantam àqueles que as cultivam. Música Flauta Melpômene Μελπομένη “cantar” A poetisa - A cantora - Cantar A musa da tragédia; usava máscara trágica e folhas de videira. Empunhava a maça de Hércules e era oposto de Tália. O seu aspecto é grave e sério, sempre está ricamente vestida e calçada com coturnos. Tragédia Uma máscara trágica, uma grinalda e uma clava Polímnia Polyhymnia Πολυμνία “muitos hinos” A de muitos hinos A musa dos hinos sagrados e da narração de histórias. Música Cerimonial (sacra) Figura velada Tália Thaleia Θάλλεω “florescer” A que faz brotar flores - Florescer A festiva A musa da comédia que vestia uma máscara cômica e portava ramos de hera. Muitas de suas estátuas têm um clarim ou portavoz, instrumentos que serviam para sustentar a voz dos autores na comédia antiga. Comédia Máscara cômica e coroa de hera ou um bastão Terpsícore Τερψιχόρη “deleite da dança” A rodopiante A que adora dançar - A musa da dança. Também regia o canto coral e portava a cítara ou lira. Alguns autores fazem-na mãe das Sereias. Dança Lira e plectro Urânia Ουρανία “celestial” A celestial A musa da astronomia, tendo por símbolos um globo celeste e um compasso. Urânia era a entidade a que os astrônomos/astrólogos pediam inspiração. Astronomia e Astrologia Globo celestial e compasso Musa Clio Kleio Κλειώ “a que celebra” Tabela 1 - Apresentação das nove musas e seus atributos - composição do autor a partir de http://pt.wikipedia.org/wiki/Musa ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 56 57 Por qual motivo retomar essa estória mítica sobre a origem das artes musicais (museais)? Pela necessidade de retomar o sentido extraordinário da música como atividade humana. Mas qual sentido extraordinário? O extraordinário da estesia sonora como experiência corporal/mental única e singular e a antecipação memorial do gozo supremo dos sentidos pelo êxtase incorporado, vivido. Uma memória corporal do gozo como som. Foi em sentido paralelo que Nietzsche (1992) concebeu os dois impulsos primordiais da Vida em todas as suas variantes: o impulso dionisíaco e o princípio apolíneo: a música e a plástica. A apolinização do princípio dionisíaco teria gerado o predomínio da visualidade, da plasticidade sobre as formas sonoras que mais imediatamente suscitam a ligação com o fluxo vivente como conexão cerebral de um ser humano concreto em uma despersonalização de seus perceptos. Há, assim, um mito muito fecundo que afirma que a música é a mãe das artes e de todas as ciências produzidas pelos humanos. Como arte do supremo deleite estético, a atividade musical incorporada teria criado as condições para o surgimento de uma atitude investigativa na tipologia da espécie humana, não tendo as emoções mais nenhum vínculo com experiências de temor, tremor e terror que submetem a psicologia dos sujeitos concretos aos pavores patológicos da experiência ilusória dos sentidos. A arte musical em sua origem mítica já nasce liberta de toda escravatura psicológica que implica no medo de sentir-se invadido pelo som das Musas. Desde sua origem mítica a música não tem por finalidade servir a outro fim além daquele do qual nasceram as Musas só para dançar e cantar em louvor aos Bem-Aventurados. Que linhas discursivas se podem tirar dessa imagem extraordinária da música e do fazer musical em plena época em que nada mais importa além do lucro, do cálculo, da previsibilidade, do controle total progressivo? Penso que se pode também extrair daí a compreensão da grande complexidade da criação artística em todas as suas modalidades de expressão. Não se pode negar para a audição uma primazia sobre os outros sentidos corporais humanos. Não se pode negar que alguns seres humanos são músicos, outros dançarinos, outros pintores, escritores e tantos outros modos de fazer. Mas ser músico, dançarino ou escritor é inegavelmente uma construção sócio-histórica e não uma naturalidade geneticamente definida. Geneticamente a capacidade de ouvir sons deve fazer parte do desenho ontológico da espécie humana, mas a criação artística humana é também um ato que acrescenta algo que não existia no acervo préexistente que nos definiu como espécie. A Música é sim uma arte humana, mas uma arte que aproxima os mortais do sentimento de pleno gozo que é próprio dos deuses imortais. Mas é claro que ela também é esforço e trabalho. É uma arte de gênios ou demônios porque nela parece encobrir-se toda a claridade do gozo divino. Só alguns possuídos ou divergentes podem romper a inércia da inexpressão com seus vultos voluntariosos e altivos, vultos de quem quer construir mundos feitos de matérias e energias dançantes e cantantes, falantes e desprendidos de todo vínculo calculador, controlador, mensurador. Hoje, com a parafernália tecnológica disponível, toda memória mítica, toda metáfora poética, todo pensamento divergente parece não fazer sentido algum. Houve o tão propalado “desencantamento do mundo” de marca Weberiana. Como seria possível o resgate da Memória atemporal do tempo forte instante? Como assim? E para que resgatar algo que não existe em nenhum ponto passado e em nenhum futuro finalista. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 5. Educação Poderia a educação reencantar musicalmente a ecologia humana? Que relações podem ser estabelecidas entre o reencantamento do mundo e a arte musical em sua forma liberta do utensílio e da utilidade maquínica? Será esta aspiração uma desventura musical? Penso a educação pela virada epistemológica da com- 58 59 plexidade. Uma educação que começa pelos sentidos e acaba nos sentidos. Uma recriação do educar como transdisciplinar: além e entre as disciplinas. A educação dos sentidos é o primeiro plano do educar transdisciplinar, predominando agora o verbo e não mais o substantivo, mas sem aboli-lo, pois há também nos processos cognitivos relações substantivas que podem ser tanto referente a acontecimentos presentes como às imaginações abstrativas. O ser humano também vive de imagens em movimento: o seu pensar é movimento sem trajetória e sem localidade, mas sempre se localiza entre os entes do seu ambiente vital e suas memórias vividas. A localidade não é uma substância fixa, mas o resultado de interações dinâmicas estabelecidas. Mas, como educar os sentidos? Quais sentidos? Os sentidos corporais/mentais? Em que sentido educar os sentidos? Não somos seres racionais, para quê sentidos? Como educar os sentidos? Como se deve educar uma criança? Qual é o método certo para fazê-la aprender a andar, a ouvir, a falar, a escrever? Os sentidos são educados com o uso deles. A educação dos sentidos não é uma formação aristocrática, sofisticada, elitista. É uma educação fundamental para todos. O que aconteceria se as pessoas desenvolvessem formas de expressão seguindo o fluxo de suas emoções e de sua inteligência/sensibilidade? O que impede de fazer isso? Educação é uma palavra carregada de historicidade disciplinar. Mas a modelagem disciplinar não dá mais conta do que é preciso potenciar na formação humana, pois é irresponsável produzir crias humanas e não lhes dar formação para o cuidado poliético, não lhes oferecer um horizonte de existência que as torne libertas de toda infelicidade e crueldade. Quem será, entretanto, o curador do curador? Como formar o educador de educadores? Como transformar o espaço escolar em ambiente físico, social, mental e cibernético de aprendizagem criadora? O que é preciso fazer para transformar os processos educativos disciplinares em processos inter e transdisciplinares? A educação necessária requisita educadores criadores. A educação dos sentidos apontada requer educadores transdisciplinares muito bem formados. Mas, bem formados em quê? Qual é a propriedade pragmática de uma educação transdisciplinar? A propriedade pragmática da educação transdisciplinar é o cuidado e acompanhamento diferenciado de cada ser humano em formação, do início ao fim, no ciclo completo de sua vida, seu nascimento, crescimento, florescimento e encolhimento vital. Pois o que transdisciplina multiplica e transvalora as metanarrativas homogeneizantes, produzindo miríades e miríades de efeitos singulares e únicos de sersendo. Cada caso é um caso único. Mas cada caso único é sempre o mesmo caso de todos os infindáveis casos únicos existentes. Tudo parece se repetir em sua diferença recorrente. Mas cada repetição na diferença é o recomeçar cíclico de tudo o que é vivo. No ser humano concreto, seu projeto ontológico encontra-se sempre aberto ao mundo sobredeterminado pelos que o antecederam, sendo necessário um longo tempo de maturação de sua ruptura com a sobredeterminação, sem perder de vista que todos respondem a princípios sobredeterminados além da racionalidade humana, como parte de uma natureza complexa e polilogicamente criadora. O traço de reconhecimento de um educar transdisciplinar encontra-se na atitude aprendente radical, tendo em vista o desejo de poder-ser-sendo, poder-se-mais-vida: potência criadora. Coloco uma questão: como o educador pode ter clareza de que a sua atitude é ou não é transdisciplinar ou também ora é, ora não é, ora está ligado, ora desligado? O que caracteriza a atitude transdisciplinar e a consequente educação transdisciplinar? O que caracteriza a atitude transdisciplinar é a disposição para aprender a ser-sendo um curador de si mesmo, do mundo e dos outros, sem perder de vista que cada um é sempre uma multidão de tantos outros e mais ainda os tantos e tantos que ainda não são, mas podem vir a ser nas evoluções temporais dos desejos viventes. A educação transdisciplinar começa e encerra nos sentidos. É uma Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento ___________ ___________ 60 61 educação dos sentidos: aprender a ver, aprender a ouvir, aprender a falar, a sentir, a pensar, a fazer, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver junto. Uma educação polilógica: do sentir, do agir, do pensar, do viver conjuntamente, do fazer. Há também aqui uma apropriação do documento “Educação. Um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI”, organizado por Jaques Delors (2004). Outra inspiração apropriada é a concepção de Humberto Maturana da emoção e da linguagem na educação e na política (2002), o que desenha uma educação humana fundada na coesão do amor. Há também contribuições importantes que concebem a educação transdisciplinar a partir do movimento de autoconhecimento inspirado no pensador Jiddu Krishnamurti, como se pode encontrar na obra de Noemi Salgado Soares (2007), que tive o privilégio de prefaciar. O fato de existir uma teoria do ethos não a torna uma explicação do comportamento ético e sim o lugar teórico de reconhecimento do agir humano a partir de seu acervo afetivo e sua afetividade vivente conectada ao mundo e aos outros. A ética, assim, não é um receituário moral do comportamento padrão esperado para os seres humanos e nem muito menos uma teoria vazia. E não é vazia porque meditar sobre o comportamento desejante e volitivo é parte do modo de ser que se projeta em ações autopoéticas, repetindo-se como organismo vivente. Assim, a teoria não antecede à ação ética, que é sempre primeira, mas a sucede como dobra reflexiva: uma meditação do vivido. Dessa forma, a Ética é a dimensão pensante da ação desejante e volitiva e não a formulação racional do correto modo de agir segundo preceitos morais. Isso significa que o ato ético é rigorosamente aquele que realiza o sentido da vida: a plenitude vivente? Como assim? Bem, prestando atenção aos nossos atos éticos cotidianos, aqueles voluntários e aqueles involuntários, os que se tornam pensados, pausados, pesados, examinados e aqueles que são mecânicos e automatizados, como nosso ciclo digestivo permanente e nossa respiração. O que quero enfatizar é que cada ser humano é ético antes de ter consciência disso e de formular teorias sobre o ser ou não ser ético. A ética é o modo concreto e vivo como cada um existe, independentemente de suas crenças e grau de evolução afetiva e cognitiva. E o ser ético é o que realiza o seu desejo de ser pela vontade de poder-ser. E cada um tem o seu modo único de habitar e de transcorrer seus dias. Cada um é ético quando realiza o seu desejo de ser na vontade de poder-ser. A Ética pressupõe a abertura ontológica para a liberdade de ser e partilhar, uma liberdade sempre condicional ao conjunto de sistemas de sistemas, organismos de organismos que conformam a existência fática dos seres vivos e do ser humano em sua diferença ontológica. Com o seu modo de percepção raciocinante, que pode alcançar a consciente da consciência e da inconsciência, o ser humano tem a potência de ser criador na sua finitude vivente, 6. Ética Como mora o ser humano? Como namora? O que faz ao longo dos seus dias viventes? O que faz ele quando canta, quando dorme, quando anda? O que descobre? O que desperta? O que inventa? O que faz ele quando compõe música? O que faz ele quando pinta? Qual é o sentido da vida? O âmbito da ética é o da ação humana em seus afetos e afecções, em seus hábitos e modos de habitar, seus costumes. A palavra Ética significa a Filosofia do ethos, a investigação acerca da estrutura do comportamento afetivo, desejante, volitivo, inteligente e poético. O que dá sentido à existência humana? Por que existe primeiro o sofrimento e não a felicidade? O que é ser ético? A Ética como teoria do ethos articula o campo do acontecimento do ser humano em sua existência fática, procurando investigar sua fenomenologia ecológica: sua ética ambiental, social, mental e cibernética – seu ambiente vital, seu corpo social e suas subjetivações e produções simbólicas maquínicas. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 62 63 partilhando do ato eterno que deixa ser o vivente musicalmente enamorado fugar para a “infinita” vida no desejo do que vive. A Ética, assim, é a prática viva da inteligência encarnada e sensível do ser que aprende a tornarse acontecimento apropriador em sua existência fática, caminhando para o acontecimento do sempre mais-vida que acresce de potência a própria natureza dada. A Ética é ato criador de conjuntura, de inter-relação e de partilha incondicional do cuidado poliético — uma expressão que indica para o conceito de teoriação polilógica. Uma das inspirações da poliética vem de Felix Guattari (1990), que concebeu uma triecologia, que corresponde às três éticas necessárias ao pleno desenvolvimento humano para o cuidado sustentável. Acrescentei uma quarta ecologia/ética que denominei de cibernética, necessariamente entrelaçada ao plano da ecologia/ética mental. Considero a ecologia/ ética cibernética como o grande desafio da humanidade presente- futura, porque a máquina já não é mais um acessório externo aos indivíduos sociais e sim o modo de ser que funde ser humano e máquina em um só desenho ontológico, cujos efeitos são desconhecidos e imprevisíveis. A Ética reclama a atenção e o cuidado por todos os afetos, sentimentos, ações e pensamentos, porque tudo o que existe, só existe para o ser que se encontra afetado no âmbito do mundo da vida. redes de comunidades epistêmicas. Estas redes são construtoras de modos de ser como existência fática em que se não há uma língua universal que sintetize tudo de todos os povos e culturas, há o acontecimento musical que ao seu modo é a língua universal que reúne a humanidade em torno da celebração e da criação artística. Em assembleia, reunidos tocam, cantam e dançam em louvor aos passados, aos presentes e aos futuros criadores de ecologias sonoras inusitadas, nunca antes escutadas. O diagrama síntese a seguir quer brincar com as possibilidades de apresentação espacial do que só acontece como fenômeno temporal, como a música. Mas o próprio tempo da música já carrega o seu espaço próprio e sua ecologia sonora correspondente, pois sem o espaço nenhum som pode se propagar e ressoar nos corpos que afeta e atravessa em ondas sonoras. Uma imagem-pensamento para apresentar o acontecimento da reunião de vozes distintas. Vozes que quando reunidas geram a mais bela polifonia e o mais intrigante polilogismo universal: a comunhão das heterogêneses ontológicas dispersas, a partir da comumresponsabilidade diante do mundo da vida em sua unidade material-vital-mental-cibernético incontornável. A música é, em sua universalidade irredutível, a matriz intensiva capaz de reunir os antagonismos poliecológicos e poliéticos porque alcança a todos diretamente sem a mediação prévia de signos da comunicação corriqueira das línguas faladas e escritas. É por potência um campo transdisciplinar por excelência. A música, afinal, não cabe em disciplinas e em partições curriculares de nenhuma espécie. 7. Tudo reunido: Polifonia resoluta Em toda palavra há sempre o silêncio como espera e continuidade. Tudo reunido significa ouvir tudo com o foco na totalidade sonora: uma polifonia que pulsa em suas evoluções entre silêncios e palavras, ausências e presenças. Uma celebração afetiva, encarnada: resolutamente aberta ao inesperado e feliz encontro com o des-velamento de si, do outro, do mundo. Desvelamento poliético: ambiental, social, mental e cibernético. Uma projeção para campos de potência que libertam o ser humano da fragmentação epistemológica moderna. E isto pela via da aprendizagem do conhecimento colaborativo conectado às ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 64 65 MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. O Método 1 – A natureza da natureza. 2 ed. Porto Alegre: Sulinas, 2005a. MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. O Método 2 – A vida da vida. 3 ed. Porto Alegre: Sulinas, 2005b. MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. O Método 3 – O conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulinas, 2002. MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. O Método 4 – As Ideias. Habitat, vida, costumes, organização. Porto Alegre: Sulinas, 1998. MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. O Método 5 – A humanidade da humanidade. 3 ed. Porto Alegre: Sulinas, 2005c. MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. O Método 6 – Ética. 2 ed. Porto Alegre: Sulinas, 2005d. Diagrama 1 - Tudo reunido - polifonia resoluta Elaborado pelo autor MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. A Religação dos Saberes. O desafio do século XXI. 6 a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. NICOLESCU, Basarab. O Manifesto da Transdisciplinaridade. São Paulo: TRION, 1999. COSTA, Alexandre. Heráclito: Fragmentos Contextualizados. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002. NICOLESCU, Basarab. Fundamentos Metodológicos para o Estudo Transcultural e Transreligioso. In: Educação e Transdisciplinaridade II. SOMMERMAN, Américo et ali (Org.). São Paulo: TRIOM, 2002, p. 44-70. DELORS, Jaques (org.). Educação. Um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. 9° Ed. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC- UNESCO, 2004. NICOLESCU, Basarab. Ciência, Sentido e Evolução. A cosmologia de Jacob Boehme. Acompanhado do tratado Seis Pontos Teosóficos de Jacob Boehme. Tradução de Américo Sommerman. São Paulo: Attar, 1995. GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas, SP: Papirus, 1990. HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 4ed. Petrópolis: Vozes, 2009. NICOLESCU, Basarab (Org.). Stéphane Lupasco. O Homem e a Obra. Tradução de Lúcia Pereira de Souza. São Paulo: TRIOM, 2001. HOUAISS. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. KERÉNYI, Os Deuses Gregos. Tradução de Octavio Mendes Cajado. São Paulo: Cultrix, 1994. LUPASCO, Stéphane. O Homem e suas Três Éticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento da Tragédia ou Helenismo e pessimismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. MATURANA, Humberto. Emoções, e Linguagem na Educação e na Política. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999. SCHAFER, Murray. A afinação do mundo. 2ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011b. Referências MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. A inteligência da Complexidade. 2 ed. São Paulo: Petrópolis, 2000. SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. 2ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011a. ___________ SOARES, Noemi Salgado. Educação Transdisciplinar e a Arte de Aprender. A pedagogia do autoconhecimento para o desenvolvimento humano. 2ª Ed. ___________ Salvador: EDUFBA, 2007. Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Musicologia e processos inter e transdisciplinares: identidades sonoras, música, educação e ética Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento Didática: com a palavra, os professores da educação básica. Liliane Campos Machado 1 Ilma Passos Alencastro Veiga 2 SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Para nos situarmos... 3. O caminho percorrido 4. A Didática nas narrativas dos professores da educação básica 5. Considerações provisórias 6. Referências 1. Introdução Enfatizamos a tendência de valorizar a relação ensinoaprendizagem na formação do professor para a educação básica, no sentido de construir conceitos que tenham relevância sociopolítica e histórica para a escolarização e possibilitem a participação colaborativa dos docentes em exercício nesse nível de ensino para apreensão e a construção dos conhecimentos didáticos. Esse texto se situa nessa perspectiva, pois trazemos para reflexão a análise das narrativas dos professores atuantes na educação básica. Sendo assim, esses educadores falaram da importância da didática em sua atuação docente, a partir de sua realidade social e das experiências individuais e coletivas. A partir de suas práticas pedagógicas, Machado (20142015) insere elementos à configuração da Didática, ao dar a esta visibilidade e incentivar as práticas de registro das narrativas das produções dos professores por alunos da licenciatura da Universidade de Brasília ao longo do 1 2 Universidade de Brasília (UnB) Universidade de Brasilia (UnB) / UNICEUB ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 68 69 processo de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, na disciplina de Didática Fundamental, como desdobramentos de análises mais amplas acerca do campo dessa instrução na formação docente. Este trabalho tem como objetivo geral: analisar os conhecimentos didáticos anunciados por professores da escola básica, bem como discutir a contribuição da didática no que se refere às convergências e divergências encontradas em suas práticas docentes. O texto está estruturado em três categorias que emergiram da análise das narrativas. São elas: concepção e fundamentos da didática sob a perspectiva das narrativas, o papel da didática na formação do professor e aspectos convergentes e divergências em relação à fundamentação da didática. constitutivos e substantivos do ensino como objeto da Didática, tais como: finalidades e objetivos, conteúdos, metodologias e técnicas de ensino, recursos didáticos e tecnológicos, avaliação e relação pedagógica. Entendemos ser necessária uma conceituação/fundamentação a respeito de didática e, para isso, recorremos aos pesquisadores da área. Para Libâneo (1990), ela é uma área da Pedagogia e uma das matérias fundamentais na formação dos professores. O autor a denomina como “teoria do ensino” por investigar os fundamentos, as condições e as formas de realização do ensino. Ele evidencia que cabe à didática converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino; selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos; e estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos [...] trata-se da teoria geral do ensino. Libâneo compreende que a apropriação do conhecimento está intimamente articulada à forma de constituição de saberes e à relação do aluno com o objeto do conhecimento. Martins e Romanowski (2008) contribuem apresentando um conceito de didática que vai além de compreender o processo de ensino em suas múltiplas determinações. Elas afirmam que é preciso intervir nele e reorientá-lo na direção política pretendida; ela vai expressar a ação prática dos professores, sendo uma forma de abrir caminhos possíveis para novas ações. A proposta de Martins (1989) é a sistematização coletiva do conhecimento que permite ao professor assumir o importante papel de mediador entre o saber sistematizado, a própria prática social e a de seus alunos, a quais são valorizadas e as dificuldades decorrentes delas também. Assim sendo, a sistematização coletiva do conhecimento, segundo a autora, permite: 2. Para nos situamos... A Didática, como disciplina curricular do campo da Pedagogia, é obrigatória nos cursos de licenciatura com o intuito de desenvolver o conhecimento didático, bem como um campo de pesquisa e produção de conhecimento do domínio dos professores das diversas licenciaturas. O conhecimento didático escolar-acadêmico produzido no espaço tempo das instituições formadoras e da educação básica é visto como capaz de colaborar com o processo formativo do licenciando agregando as representações sociais desenvolvidas pela vivência de professores e estudantes na relação universidade e escola de educação básica. Em decorrência, é preciso planejar o ensino da Didática com a delimitação de objetivos de ensino para todos os cursos de licenciatura, organizados por eixos epistemológicos temáticos. O primeiro eixo aborda educação e sociedade e as relações entre Pedagogia e Didática; o segundo, os movimentos evolutivos da história da Didática no bojo das tendências pedagógicas; o terceiro está voltado para a Didática e suas relações nos diferentes níveis de planejamento: projeto político-pedagógico, plano de ensino e plano de aula; e o quarto eixo diz respeito aos elementos [...] aos alunos que passem da condição de receptores passivos de informações sistematizadas, absolutistas e transmitidas numa relação vertical (de cima para baixo) para a condição de sujeitos que vivenciam um trabalho coletivo, um processo para obter a sistematização. Assim, eles passam a dominar o processo e o resultado. (MARTINS,1989, p.104) ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Didática: com a palavra, os professores da educação básica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 70 71 Trata-se de uma didática sistematizada que parte do pressuposto de que a reconstrução do conhecimento da área não vai ocorrer por meio de teorias, mas emerge das contradições estabelecidas nos contextos social e histórico, de forma que expresse a prática dos professores que estão desenvolvendo o processo. Para Pimenta e Anastasiou (2002), a didática consiste em saber ensinar, ou seja, mediar o conteúdo para que ele possa ser somado e entendido pelo aluno. As autoras explicitam que o ensino enquanto padrão social é um fenômeno complexo. É uma situação em movimento e diversa conforme os sujeitos, os lugares e os contextos onde ocorre. As autoras apontam novas demandas para a didática: as práticas interdisciplinares e multiculturais, a epistemologia da prática e as novas formas de organização escolar, entre outras. Veiga (1993), por sua vez, diz que a Didática busca superar o intelectualismo formal do enfoque tradicional; evitar os efeitos do espontaneísmo escolanovista; combater a orientação desmobilizadora do tecnicismo; e recuperar as tarefas especialmente pedagógicas, desprestigiadas a partir do discurso reprodutivista. Ela procura, ainda, compreender e analisar a realidade social onde está inserida a escola. A formação didática dos professores se alinha, então, aos desafios históricos e sociais, assim como a própria educação brasileira. A didática é locus privilegiado de discussão do ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Essa disciplina contribui para a operacionalização de outros campos do conhecimento e está relacionada ao saber fazer pedagógico, com as práticas e o estágio supervisionado. a definição das categorias analíticas, conforme explicitado na introdução. Turato (2005) evidencia que as pesquisas que utilizam a perspectiva qualitativa devem trabalhar com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Elas não têm qualquer utilidade na mensuração de fenômenos em grandes grupos e são basicamente úteis para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre. Escolhemos a narrativa como um procedimento de coleta de dados, por ela ser um caminho inovador para chegar ao objetivo proposto, dando a palavra ao professor da educação básica. Apropriando da concepção de Benjamin (1985: 205), “a narrativa [...] é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele”. Isso significa que a narrativa, em vez de ser uma lembrança acabada de uma experiência, se reconstrói à medida em que é relatada. Narrar algo consiste na “faculdade de intercambiar experiências”, configurando-se naquilo que Eco (1993) chama de obra aberta. Frente ao exposto, partimos, portanto, para a análise das narrativas de professores da educação básica, atividade de pesquisa solicitada aos licenciandos de diferentes cursos, matriculados na disciplina de Didática Fundamental da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Isso ocorreu a partir do critério, qualitativo e representativo, qual seja: narrativas nas quais encontramos fundamentação/conhecimento mais elaborada/o a respeito da didática. Tínhamos disponíveis 45 (quarenta e cinco) trabalhos com os relatos e, destes, foram selecionados vinte que serviram de base para a elaboração do presente texto. Algumas dessas pesquisas tinham o registro de histórias de dois ou mais professores, então, analisamos as narrativas de 40 docentes contidas nos vinte trabalhos escolhidos, a partir do critério da clareza da narrativa e da coerência das respostas ao que foi solicitado. Para a análise e o registro das narrativas, utilizamos nomes fictícios para os educadores, com o intuito de manter o anonimato dos colaboradores. 3. O caminho percorrido Com o objetivo de analisar as narrativas dos professores da educação básica, destacamos o perfil identitário dos interlocutores, composto pelos seguintes itens: nomes fictícios; gênero; etapa de ensino; experiência profissional e dependência administrativa da escola em que atuam. Em seguida, realizamos a leitura integral das narrativas e ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Didática: com a palavra, os professores da educação básica ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 72 73 Com relação ao perfil profissional dos interlocutores, evidenciamos que a maioria é do gênero feminino, o que nos permite inferir que existe entre os pesquisados uma tendência de feminização do Magistério, uma vez que predomina na análise narrativas de mulheres. Acerca disso, lembramos Fontana: em um processo de consolidação de um repertório pedagógico, criando, assim, um sentimento de competência e pertença a um corpo profissional. Na fase de diversificação ou questionamentos, que compreende dos sete aos vinte e cinco anos, temos, dentre os interlocutores, dezessete e eles estão no estágio de experimentação, motivação, busca de novos desafios e/ou no momento de questionamentos e reflexão acerca da carreira. A fase de serenidade e distanciamento afetivo e/ou conservadorismo e lamentações pode levar ao conformismo ou ao ativismo, ela vai dos 25 aos 35 anos: temos um professor entre os entrevistados. Por fim, existe a fase de desinvestimento, recuo e interiorização (35 a 40 anos), que pode ser sereno ou amargo: não tivemos nenhum entrevistado nessa fase. Segundo o autor (1992), essas etapas não se constituem formas estáticas mas, sim, um processo dinâmico e bem peculiar ao percurso pessoal de cada professor. Das quarenta narrativas, trinta e sete são de professores que atuam na educação básica na segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio. [...] As diferenças de gênero fazem diferença no processo de construção de nossa subjetividade (os sujeitos são sexuados) e na constituição do nosso ser e fazer profissional. Elas imprimem especificidades e nuances a esses processos, do mesmo modo que a escola, sendo hoje um local de trabalho feminino, mediatiza os modos como nós, mulheres, e os homens, nossos parceiros vivenciamos a condição feminina e a difundimos. [...] Em seu conjunto, os estudos que elegerem o gênero como categoria de análise nas pesquisas sobre a atividade docente, ainda que tenham enveredado por caminhos distintos, evidenciaram que a história vem produzindo e sendo produzida por homens e mulheres e que essa distinção não é apenas natural e biológica, mas também histórica e cultural. (FONTANA, 2003, p. 35). No que se refere à experiência profissional, os quarenta professores estão assim distribuídos: cinco não informaram o tempo de serviço; doze têm até três anos de experiência; seis estão entre quatro e seis anos de trabalho; dezessete têm entre sete e vinte e cinco anos de experiência; e um docente tem entre vinte e cinco e trinta e cinco anos de trabalho. Huberman (1992, p. 39) traça uma descrição de tendências a respeito do desenvolvimento da carreira docente, que nos permite identificar como se caracteriza “o ciclo de vida dos professores”. Em seus estudos, o autor encontrou sequências-tipo no desenvolvimento da carreira do professor e as classificou em etapas básicas, de acordo com os anos de carreira, lembrando que estas não devem ser tomadas como fases lineares, mas concebidas por meio de uma relação dialética. A primeira fase é a de início na carreira (um a três anos de docência): encontramos entre os pesquisadores doze professores nessa fase, vivenciando a descoberta, a exploração e a sobrevivência do começo da carreira. A segunda é a de sobrevivência, estabilização, e ela compreende o período de quatro a seis anos de trabalho: foram entrevistados seis professores nessa fase, e eles estão 4. A Didática nas narrativas dos professores da educação básica ___________ Nesse item consideramos importante trazer a categoria “concepção e fundamentos da didática destacados das narrativas”. Para evidenciar a perspectiva instrumentalista em cada narrativa, destacamos alguns termos em itálico. Mara esclarece que a didática é uma disciplina que ensina como adotar métodos e técnicas que serão úteis à aprendizagem do aluno uma disciplina que ensina a adoção de métodos. Para o Joel, trata-se de um caminho escolhido para ensinar todo o conhecimento ao aluno. Isso nos faz rememorar o propósito de Comenius (1966) de ensinar tudo a todos a partir da Didática Magna. Bela corrobora essa ideia, pois concebe a didática como um manual de como se portar em sala de aula. A professora Sônia evidencia, em sua concepção de didática, a compreensão do processo ensino/aprendizagem, o ato de planejar/direcionar melhor a aula a partir de modelos, métodos e técnicas. Nas narrativas de Rose ___________ e Paulo, observamos que a didá- Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Didática: com a palavra, os professores da educação básica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 74 75 tica é a forma de mediação do trabalho do professor. Paulo ainda enfatiza ser uma disciplina em que a teoria considera a experiência ou a experimentação. Clovis contribui com a sua narrativa afirmando que a didática é um mecanismo utilizado para se dar aulas interessantes. De forma objetiva, Felícia define-a como o modo de dar aula. O professor Geraldo a compreende como um instrumento utilizado a favor do processo de ensino-aprendizagem. Para os interlocutores João, Adão, Carla, Cleide e Rita, a didática pode ser conceituada como ensinar; técnica usada para atingir os objetivos; facilitador da aprendizagem; técnica de ensinar e orientar a aprendizagem; e serve de auxílio para o professor. Inferimos que as concepções explicitadas nas narrativas estão correlacionadas com os princípios/objetivos da didática instrumental compreendida como um conjunto de procedimentos que o professor utiliza para promover o ensino eficiente. Isso tem como centralidade fórmulas mágicas e receitas fragmentadas acerca dos conhecimentos didáticos, negando as dimensões humanas, políticas do processo didático nos atos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Nesse sentido a centralidade recai na dimensão exclusivamente técnica. Percebe-se que essas narrativas discutem a possibilidade convergente de tornar as salas de aula espaços dinâmicos de sistematização de conhecimentos. Não são oponentes entre si, nem conflitantes, pois visam a objetivos convergentes ao da didática instrumental. A didática instrumental possui um significado puramente técnico e desatualizado, pois ela estuda os princípios, as normas e as técnicas que regulam qualquer tipo de ensino, para qualquer tipo de aluno. Para Candau (2000), essa é uma visão ultrapassada, pois uma ação geral para qualquer aluno não é cabível para as classes heterogêneas com as quais nossas escolas trabalham. Embora considerada como arcaica, essa concepção está viva nos dias atuais nas narrativas de alguns dos professores, conforme se pôde constatar. Corroborando com Candau (2000), torna-se urgente a revisão da concepção de didática, em algumas práticas docentes, os quais precisam considerar aspectos diversos demandados pela sociedade educacional atual e pelas questões/problemas que emergem do contexto da escola e da sala de aula vinculados ao processo de ensino. Nesse sentido, as perspectivas ligadas à dimensão meramente técnica são articuladas a um projeto globalizante para formar professores tecnólogos do ensino. Ao se formar o tecnólogo, o docente reproduz conhecimentos, na formação e nas relações sociais, na direção do que afirma Tardif (et al, 2001, p. 38): “sua ação situa-se no plano dos meios e estratégias de ensino; procura o desempenho e a eficácia na consecução dos objetivos escolares”. Nesse sentido, os processos de ensinar e aprender são orientados por preocupações de padronização, uniformidade, controle burocrático; e essa forma de trabalhar a didática fortalece a distância entre os conhecimentos teóricos e os práticos e contribui para que a disciplina seja tratada apenas no campo imaginário. A formação didática desenvolvida no curso de licenciatura nessa concepção tem como consequência o exercício técnico profissional da docência, com ênfase no “saber fazer” e isso confere ao trabalho e ao professor caráter de atividade artesanal, como afirma Veiga (2002) e foi percebido nas narrativas apresentadas. Desse modo, o professor não é concebido como um profissional que problematiza, questiona, compreende e sistematiza conhecimentos, porque sua prática pedagógica se limita ao espaço da sala, da aula e não se articula com o que propõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2015). Essas orientações fortalecem a ideia da pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, fundamentando-se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização e relevância social. No tocante à segunda categoria, qual seja, o papel da didática na formação do professor, encontramos nas narrativas ponderações significativas a respeito da importância e da necessidade da didática, sempre associadas ao processo formativo. Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Didática: com a palavra, os professores da educação básica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento ___________ ___________ 76 Na narrativa do professor Lucas, está evidente que a didática é uma disciplina imprescindível, pois o que ele estudou (bibliografia) em didática em seu processo formativo coincide com a realidade atual (seu contexto como professor). A professora Luzia reforça que a didática utilizada por ela e por colegas de trabalho é o reflexo do que foi estudado na universidade; assim sendo, ela entende que a didática se faz essencial, tornando-se um elemento facilitador para o professor. Ela também defende a atualização constante do docente. Ângelo, outro interlocutor, entende que a didática prepara o professor para o exercício em sala de aula. Para ele, a didática foi fundamental para que ele definisse as suas estratégias pedagógicas e compreendesse os fundamentos da sua profissão, além das razões de se estar em uma sala de aula. Recorremos, também, a ponderações feitas pelo professor Roque e delas abstraímos que a didática, para esse professor, é a possibilidade de diálogo com o aluno, com autoridade, mas sem autoritarismos ou imposições. Quando nos aproximamos das narrativas dos professores, todos concordam, em maior ou menor grau, com as implicações positivas da Didática em suas formações. Por outro lado, se refletirmos acerca dessas implicações na prática docente, fica evidente, ainda que de forma fragmentada, que é necessário se repensar a articulação entre as concepções da didática e as ações desta realizadas no cotidiano institucional, o que significaria redirecionar os estudos para a construção de um “saber didático mais denso e orgânico”, tal como afirma Oliveira (1997) no contexto do processo formativo na universidade. As narrativas apresentadas mostram algumas nuances de como a disciplina de Didática Fundamental nos cursos de licenciatura pode e deve ser possibilitada ao futuro professor na compreensão de seu papel como agente social, protagonista e interlocutor das práticas pedagógicas bem como seus estudantes, posteriores docentes na escola de educação básica. Isso é explicado por Sacristán (1999, p. 77 90), ao afirmar categoricamente: [...] os motivos e as necessidade dos sujeitos não ocorrem no vazio, mas dentro de uma sociedade e em um momento determinado de sua histórica, o componente dinâmico da ação dos sujeitos em suas coincidências e em suas divergências vincula-se com o aspecto simétrico no plano cultural, sendo possível falar das relações entre projetos individuais e projetos compartilhados socialmente (grifo do autor). ___________ No tocante à terceira categoria, “aspectos convergentes e divergentes em relação à fundamentação da didática”, contamos com a contribuição de cinco professores interlocutores, como se pode constatar a seguir. O professor Davi não apresentou uma resposta coerente, demostrou desânimo com o ensino e, por consequência, com a didática. Não mostrando desânimo, o professor Flávio afirma que a didática é um elemento-chave para o trabalho do professor, sobretudo porque isso é cobrado nos requisitos da profissão. A professora Meire aponta uma divergência significativa em sua narrativa, quando afirma que, em seu curso de graduação, mesmo sendo de licenciatura, pouco se dedicou a discussões em torno da didática. Segundo ela, quando começou a lecionar, não tinha nenhum preparo ou conhecimento para assumir uma turma. Frente a essa situação, ela recorreu à irmã que já era professora com muitos anos de experiência. Em uma situação com alguma semelhança à narrada pela Meire, o professor Jorge reconhece que cursou a disciplina de didática no primeiro semestre apenas por ela ser obrigatória. Mesmo nessa condição, quando começou a atuar como docente, percebeu/reconheceu a importância da disciplina para sua formação. Em síntese, só reconheceu a necessidade e a importância da disciplina no contexto prático da sala de aula. O Professor Wesley, em sua fala, entente que a didática é uma disciplina chata e monótona. O fazer didático é um processo, um movimento, uma trajetória. É uma elaboração que se dá de forma individual e coletiva e ocorre nos cursos de formação ou dentro do espaço escolar, onde contracenam alunos e professores nas ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Didática: com a palavra, os professores da educação básica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 78 79 condições históricas em que ambos estão inseridos. Dessa forma, os professores são autores e produtores de uma trajetória individual e coletiva e não meros espectadores e consumidores de estoques de técnicas de última geração. Assim, deveriam ser sempre sujeitos criativos, reflexivos e políticos. Considerando os propósitos da formação de professores, técnicos, humanos ou sociopolíticos, precisamos repensar a instrução oferecida na disciplina de didática com o objetivo de superar divergências/equívocos como os mencionados nas narrativas dessa pesquisa. Precisamos aproximar/construir uma perspectiva de didática fundamental, de modo que se fortaleçam o diálogo e o trabalho coletivo, se assuma a multidimensionalidade do processo didático e se articule as dimensões técnicas, humanas e políticas. Enfatizamos, ainda, a necessidade de relação de unicidade entre teoria e prática, forma e conteúdo, professor e estudante, finalidades e objetivos, entre outras carências, partindo da análise da prática pedagógica concreta e de seus determinantes sociais (CANDEAU, 2000). Dessa forma, reiteramos que a Didática Fundamental é imprescindível na formação do professor, uma vez que tem um corpo de conhecimento próprio que não é importado de outros campos científicos, embora deva manter uma relação interdisciplinar. De acordo com Candau (2008), a disciplina não deve ser “invadida” por diferentes campos do conhecimento perca sua especificidade. • os interlocutores evidenciam uma prática docente descontextualizada e acrítica e expressam a incompreensão de alguns professores interlocutores em relação ao papel e à importância da didática em sua prática profissional, isso em função de uma formação didática mecanicista; • a disciplina de Didática não é reconfigurada e redimensionada com ênfase na investigação e na relação teoria e prática, bem como não é significativa para o professor, pois dá destaque ao desenvolvimento da perspectiva fragmentada que precisa ser superada. Ela fortalece a racionalidade técnica e não considera a dialogicidade e a interatividade; e • as narrativas evidenciam também a importância e a imprescindibilidade da Didática, mesmo tendo os professores sido formados em uma perspectiva instrumental e mecanicista. Considerações provisórias A análise das narrativas possibilitou perceber a prevalência do tratamento da didática na concepção teórico-instrumental. A partir dessas reflexões, sistematizamos algumas ideias, provenientes da leitura analítico-interpretativa das narrativas enunciadas a seguir: • o estudo didático constitui-se um movimento privilegiado de experiências para o estudante de licenciatura que supera a mera obrigação curricular e assume papel de destaque no processo de formação inicial; ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Didática: com a palavra, os professores da educação básica É preciso envidar esforços para restituir à Didática o seu papel de mediadora entre conhecimentos técnico-científicos e pedagógicos para possibilitar a relação teoria-prática, inerente ao trabalho docente e explicitar com maior clareza os elementos teórico-didáticos que subjazem à prática pedagógica desenvolvida em sala de aula. Por fim, foi pretensão nossa contribuir para a compreensão da Didática na formação do professor para a educação básica e do estudante de licenciatura, procurando ampliar e aprofundar as discussões acerca da temática proposta. Diante das reflexões apresentadas, reiteramos que a área de Didática, no uso de sua autonomia, institua uma proposta coletiva, coerente com base nos elementos constitutivos da elaboração do conhecimento didático de forma a manter uma unicidade de discurso e de prática, o que consequentemente levará à práxis formativa. Sugerimos para tanto a necessidade de fortalecer um diálogo mais didático- pedagógico entre as licenciaturas no contexto universitário. Outro aspecto a ser destacado diz respeito à unicidade dos planos de ensino para, que a equipe de professores possa de fato atuar de forma coletiva, desde o ponto de partida até o ponto de chegada. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 80 Referências BENJAMIM, Walter. Magia e Técnica, Arte e política. Obras Escolhidas. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. CANDAU, Vera Maria F. (org.). A Didática em Questão. 28. ed.Petropólis:Vozes, 2008 CANDAU, Vera Maria F. (org.). Rumo a uma nova didática. 8ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2000. O Silêncio das Vozes nos Currículos: Uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica. Silvana Ferreira da Silva 1 Eduardo Chagas Oliveira 2 COMÉNIO, João Amós. Didáctica Magna. Tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1966. p. 5-41. SUMÁRIO: 1. Introdução 2. O currículo 3. Currículos: Tipologias e Atualidade 4. Teorias Curriculares 5. Considerações Conclusivas 6. Referências FONTANA, R. A. C. Como nos tornamos professoras? 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica. 2003. HUBERMAN, M. O Ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (org.). Vidas de professores. 2. ed. Portugal: Porto Editora, p. 31-61, 1992. LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1990. MARTINS, Pura Lúcia O.; ROMANOWSKI, Joana P. Pesquisa em educação: o estado da arte na área de didática In: QUARTIERO, Elisa Maria; SOMMER, Henrique Luís. Pesquisa, Educação e inserção social: olhares da região Sul. Canoas-RS. Canoas: Editora da ULBRA, 2008. p. 147-155. MARTINS, Pura Lúcia Oliveira. Didática Teoria, Didática Prática: para além do confronto. São Paulo: Loyola, 1989. OLIVEIRA, M. R. N. S. Desafios na área da didática. In: ANDRÉ, M. E. D. A.; OLIVEIRA, M. R. N. S. (Org.). Alternativas no ensino de didática. Campinas: Papirus, 1997. p. 129-143. PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. das G. C. Docência no ensino superior. São Paulo: Cortez, 2002. SACRISTAN, G. Poderes Instáveis em Educação. Porto Alegre: Artmed, 1999. TARDIF, M.; LESSARD, C; GAUTHIER, C. Professor: Tecnólogo do ensino ou agente social. In: VEIGA, I.P.A.; AMARAL, A. L. (orgs). Formação de Professores: políticas e debates. Campinas: Papirs, 2002. TARDIF, M.; LESSARD, C; GAUTHIER, C; Formação de professores e contextos sociais: perspectivas internacionais, Porto: Rés, 2001. TURATO E. R. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de pesquisa. Revista de Saúde Pública, 2005. Jun. 39(3): 507-14. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Didática: uma retrospectiva histórica. In Veiga, I.P. A. Repensando a Didática. 8ª ed. Campinas (SP): Papirus, 1993. 1. Introdução Ao nascer, em virtude da adesão a um determinado perfil familiar, o indivíduo se encontra previamente condicionado à distinções que são determinadas pelos capitais social, cultural e econômico da sociedade em que vive. Não obstante, essas diferenças sociais tendem a ser reproduzidas pela escola, em seu microssistema, uma vez que o indivíduo passa a integrar um conjunto complexo de relações e interações com outras pessoas, constituindo um sistema inacabado do qual ninguém escapa: a educação. Aprendemos e ensinamos em múltiplos espaços – em casa, na rua, na igreja ou na escola – pois se trata de uma condição imanente do ser humano. Afinal, parafraseando Charlot (2011), precisamos refletir acerca do fato que o homem é o único que tem a capacidade – enquanto condição de possibilidade – de aprender; logo, caso se negue a fazê-lo, 1 Silvana Ferreira da Silva é professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 2 Eduardo Chagas Oliveira é Professor Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Docente-pesquisador do Doutorado Multidisciplinar e Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento (DMMDC) e do Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS). ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Didática: com a palavra, os professores da educação básica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 82 83 precisa rever sua condição humana. A educação, enquanto um processo que se concretiza em sociedade, é um elemento constitutivo da experiência humana. A escolarização, por sua vez, é um dos recortes do processo educativo destinado à Escola que, enquanto espaço social emancipatório (libertador) ou opressor (castrador), também pode ser um vetor à mudança (transformação) ou à reprodução e manutenção social. Atrelado à Escola, enquanto elemento constitutivo do ambiente social, o currículo representa uma projeção política e ideológica vivida pelos atores do processo educativo, porque as histórias de vida dos estudantes e professores integram o substrato cultural do cenário escolar e social. Outrossim, o currículo evidencia territórios de identidade do trabalho pedagógico vivido nas escolas. Trata-se de uma construção social, na acepção de estar inteiramente vinculado a um momento histórico, a uma determinada sociedade e às relações estabelecidas entre o conhecimento e os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, conforme determinado contexto sócio-político. Nesse sentido, a educação e o currículo estão interligados no percurso cultural e ideológico da construção de identidades locais e nacionais. Assim, ao pensarmos no homem como um ser histórico, também idealizamos um currículo que atenderá a diferentes interesses, num determinado espaço e tempo históricos. Cumpre destacar, no entanto, que não se deve confundir currículo e matriz curricular, pois conceitualmente existe uma sutil distinção entre eles. O primeiro é o conjunto de ações pedagógicas, políticas e ideológicas vividas dentro do contexto Escola e o segundo é a relação de disciplinas e conteúdos que serão ensinados na Escola e que plasma uma concepção de currículo. As discussões sobre currículo incorporam, com maior ou menor ênfase, debates sobre os conhecimentos escolares, os procedimentos pedagógicos, as relações sociais, os valores e as identidades dos professores. Há várias formas de composição das disciplinas na matriz curricular, mas nenhuma delas deve ser uma lista de conteúdos retirada dos livros didáticos ou manuais de Ensino, sem o crivo reflexivo do professor acerca da realidade social dos estudantes e sua maturidade cognitiva. Do contrário, o ensino se transformaria numa mera transmissão de saberes escolares, conforme um entendimento meramente enciclopédico de conhecimento. O currículo é instituído na relação social e pedagógica, por meio das interlocuções intelectuais e socioafetivas vividas por todos os atores sociais da Escola. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (1995, p.194), 2. O Currículo O Currículo é social e culturalmente definido, sendo desprovido de qualquer assepsia conceitual ou ideológica. Por sua vez, expressa uma concepção de mundo, de sociedade e de educação, motivo pelo qual implica relações de poder e se constitui enquanto centro da ação educativa. O seu entendimento reflete o fazer pedagógico e político dos docentes, ao realizar as atividades educativas intencionalmente planejadas e desenvolvidas pela equipe escolar da Instituição. Trata-se de um instrumento político vinculado à estrutura social, à cultura e ao poder. Enquanto a cultura é o conteúdo da educação - sua essência e defesa - o currículo é a opção político-ideológica realizada dentro dessa cultura. ___________ quando pensamos no currículo como uma coisa, como uma listagem de conteúdos, por exemplo, ele acaba sendo, fundamentalmente, aquilo que fazemos com essa coisa, pois, mesmo uma lista de conteúdos não teria propriamente existência e sentido, se não se fizesse nada com ela. Nesse sentido, o currículo não se restringe apenas a ideias e abstrações, mas a experiências e práticas concretas, construídas por sujeitos concretos, imersos em relações de poder. O currículo pode ser considerado uma atividade produtiva e possui um aspecto político que pode ser visto em dois sentidos: em suas ações (aquilo que fazemos) e em seus efeitos (o que ele nos faz). O processo de ensino e de aprendizagem pode ser espelho e lâmpada do currículo. É espelho quando, a partir e através dele, se configura a experiência educacional, na soma das programações formais – os planos de estudo; dos planos de trabalho dos professores, e da ação, ou seja, como este ocorre na prática educativa. É lâmpada quando possibilita que a ação pedagógica seja fruto da reflexão-ação dos sujeitos envolvidos no currículo, possibilitando sua reconstrução didático-pedagógica com o amálgama das ex___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino O Silêncio das Vozes nos Currículos: uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 84 periências desses atores, vivenciadas no chão da Escola. De modo análogo, Moreira e Silva (2001, p. 28) entendem que “o currículo é um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação e recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão”. O currículo escolar tem ação direta ou indireta na formação e desenvolvimento pessoal e acadêmico do estudante. Assim, é possível perceber que a ideologia, cultura e poder - nele configurados - são determinantes para o processo educativo, especialmente quando refletidos nos procedimentos didáticos e administrativos que orientam a prática curricular da Escola. É premente compreender que o professor é um curriculista, à medida que efetiva em sala de aula o ideário subjacente e explícito na proposta curricular adotada pela instituição de ensino. Sua efetivação acontece num processo dialético, intrínseco a cada Escola, onde estão imersos fatores técnicos, epistemológicos e intelectuais, além de determinantes sociais como o poder, interesses, conflitos simbólicos e culturais, enquanto propósitos de dominação influenciados por intervenientes ligados à classe social, etnia e gênero. Como todo trabalho pedagógico se fundamenta em pressupostos de natureza filosófica, a escola e o professor desvelam suas respectivas cosmovisões, assumindo posturas mais tradicionais ou emancipadoras na implantação e implementação do currículo. Responsável por viabilizar o processo de ensino e de aprendizagem, o currículo se constitui como o elemento central do projeto pedagógico, entendimento ratificado por Sacristán (1999, p. 61) ao sustentar que 85 indissociavelmente ligada à sua visão de mundo. 3. Currículos: Tipologias e Atualidade. ___________ O Currículo Formal - prescrito ou oficial - refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino; expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas do conhecimento ou disciplinas. Este prescreve institucionalmente os conteúdos e disciplinas e a concepção de Escola e de currículo da equipe gestora e está plasmado no Projeto Político Pedagógico (PPP) das Escolas. Não obstante, o Currículo Real - ou vivido - implica naquele que se efetiva dentro da sala de aula, com professores e alunos, em decorrência ou não do que está prescrito no projeto pedagógico e nos planos de ensino construídos pelos docentes. O Currículo Oculto, por sua vez, consiste no termo utilizado para denominar as ações - conscientes ou não - que ocorrem no interior da sala de aula e interferem de forma - implícita ou explícita - na aprendizagem dos alunos. O currículo oculto representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos e percepções, que vigoram no meio social e escolar. Nele se manifestam as relações de poder da escola e dos professores sobre os alunos e entre os mesmos, as ideologias e as ações discriminatórias. Para Sacristan (2000, p. 91) “o currículo oculto é a escola e o ambiente que se cria sob suas condições”. Esta é uma separação que se faz teoricamente, uma vez que, na prática, o currículo é o produto de todas essas tipologias como processo; é aquilo que se efetiva na práxis pedagógica. Por estar imbricado em relações de poder e ser expressão do equilíbrio de interesses e forças que atuam no sistema educativo - consoante um dado momento histórico - com forma e conteúdo determinados por um meio cultural, social, político e econômico, o currículo não é um elemento neutro de transmissão do conhecimento social. Sendo assim, ele se diferencia segundo as ações de quem o pensa e o experiencia. Essa ação dialética - vivida no contexto educativo - é delineada pelos interesses dos sujeitos que o configuram, planejam, adotam e avaliam, bem como os ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino O Silêncio das Vozes nos Currículos: uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições. A partir das décadas de 1960 e 1970, teóricos da educação passaram a defender a existência dos currículos formal, real e oculto na prática educativa. Essa tipologia curricular, em tese, reflete a concepção política do professor, 86 87 que o efetivam e os que o controlam. Esses atores sociais experienciam um currículo segundo seus critérios pessoais e ideológicos. Nesse sentido, O currículo oculto é o mais difícil de ser revelado, porque se relaciona às atitudes e valores transmitidos subliminarmente nas relações sociais e educativas, vividas no cotidiano da escola. Atribui-se ao currículo oculto os rituais e práticas, as relações de poder, regras de conduta e procedimentos, hierarquias, a linguagem dos professores e dos livros didáticos. Em muitas escolas, as propostas curriculares são construídas de forma top down, ou seja, sempre verticalizadas, sem participação da comunidade escolar. A cada ano letivo novas propostas surgem e, por vezes, burocratizam mais o processo de ensino. Por esse motivo, não se pode perder de vista que o conhecimento e o currículo corporificam relações sociais. Isso significa não apenas ressaltar seu caráter de produção, de criação, mas, sobretudo, seu caráter social. Eles são produzidos e criados através de relações sociais particulares entre grupos sociais interessados. Como tal, eles trazem a marca dessas relações e desses interesses. (SILVA, 2002, p.65). O currículo é orientado não somente pelas ações de quem o está configurando, mas também pelos determinantes dessas ações: questões culturais e relações de poder, assim como fatores históricos que envolvem a educação. Nesse universo se incluem a atualização ou reprodução das metodologias de ensino, o uso de novas tecnologias, as políticas educacionais, a escola e o regimento escolar, a infraestrutura dos espaços escolares, os métodos de avaliação, a formação dos professores, as condições de trabalho, o contexto social em que se inserem e a própria finalidade do trabalho educativo. Por conseguinte, “a educação e o currículo, como instituições, não podem ser desligadas de suas conexões com relações de classe, de gênero, de raça e com relações globais entre nações” (SILVA, op. cit., p.65). Atualmente, ainda é possível verificar na prática educativa de muitas escolas um currículo que se resume na seleção dos conteúdos e na sua transmissão aos estudantes. Infelizmente, mesmo com o avanço tecnológico e metodológico, o currículo escolar ainda não é concebido “como as experiências escolares que se desdobram, em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos estudantes” (MOREIRA; CANDAU, 2007, p.18). Em algumas instituições escolares não identificamos a existência de um tipo de currículo, mas múltiplos currículos que precisam ser desvelados pelos atores sociais. O currículo não pode ser construído a partir de ideologias homogeneizadoras, produzidas por um grupo dominante, mas deve respeitar as idiossincrasias e o capital cultural dos estudantes e de suas famílias. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino O Silêncio das Vozes nos Currículos: uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica O currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. O papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos construídos que sistematizam nas escolas e nas salas de aula (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 19). Se não houver o protagonismo docente na escola, o professor será apenas um reprodutor de um currículo descontextualizado, que contribui para a proliferação de desigualdades sociais e escolares, sustentada pela visão iluminista e etnocêntrica. Inicialmente, as principais questões das chamadas teorias do currículo perpassavam pelo tipo de conhecimento que deveria ser ensinado ou que o aluno deveria saber, o qual era escolhido a partir da sua importância ou validade, passando a compor o currículo desejado. Atualmente, as teorias curriculares diferenciam-se pela importância que atribuem a conceitos como aprendizagem, inclusão, conhecimento, dimensão humana, ética e estética, etnia, diversidade cultural ou sociedade, dentre outros. 4. Teorias Curriculares Entre as teorias do currículo temos a teoria tradicional - considerada neutra, científica e objetiva – e as teorias ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 88 89 críticas e pós‐críticas, que se fundam na premissa de que não há neutralidade na ação educativa e que estão abarcadas pelas relações de poder e nas interconexões entre saber, identidade e poder. A teoria tradicional foi marcada pela ideia de neutralidade, tendo como principais focos (I) identificar os objetivos da educação escolarizada, (II) formar o trabalhador especializado ou (III) promover uma educação propedêutica. Preconizava que o currículo era uma questão de organização dos conteúdos, realizada de forma mecânica e burocrática. A tarefa dos professores especialistas consistia em fazer um levantamento dos objetivos educacionais, para que estes fossem cumpridos ao final de cada unidade de ensino. Depois, planejar e elaborar instrumentos de medição para verificar com precisão se esses objetivos foram alcançados. Essas ideias influenciaram de forma determinante, por quase quatrocentos e trinta anos, o currículo escolar e a educação no Brasil. Essa teoria curricular foi matizada pelos princípios do Taylorismo (a escola vista como fábrica), que visava a padronização do processo pedagógico, enquanto os estudantes eram considerados produtos de fábrica. A escola transmitia conhecimentos acumulados ao longo da história, como verdade(s) absoluta(s). Os saberes eram compartilhados de forma ordenada, numa sequência lógica e a avaliação era um meio de aferir se os alunos conseguiram memorizar esses conteúdos. O professor era o centro do processo educativo e deveria ser respeitado com regras e disciplina rígidas. Assim, o estudante era considerado um ser submisso e adstrito à reprodução das ideias alheias: do professor ou do autor do livro didático. Todavia as teorias curriculares críticas surgiram, em meados dos anos 1960, com os movimentos sociais e culturais que questionavam as desigualdades no sistema de ensino. A visão crítica do currículo confronta com o saber capitalista, concebido como um código indecifrável - para o qual, só a elite burguesa tinha acesso. A ruptura da visão tradicional do currículo constrói uma conexão políticoeducacional entre docentes e discentes, na qual - através de um código cultural - podem examinar de forma crítica os conteúdos escolares e sua relação com o cotidiano do discente, funcionando como instrumento de emancipação e libertação. Por meio do currículo escolar os estudantes vivenciam práticas democráticas. No processo educacional, eles participam e discutem questões educativas envoltas por práticas sociais, políticas e econômicas. Seguindo esse entendimento, apresentam-se aptos a ter atitudes de emancipação e libertação. Os professores, por sua vez, possuem responsabilidade Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino O Silêncio das Vozes nos Currículos: uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento ___________ Na concepção crítica, não existe uma cultura da sociedade, unitária, homogênea e universalmente aceita e praticada e, por isso, digna de ser transmitida às futuras gerações através do currículo. Em vez disso, a cultura é vista menos como uma coisa e mais como um campo e terreno de luta. Nessa visão, a cultura é o terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes concepções de vida social, é aquilo pelo qual se luta e não aquilo que recebemos. (MOREIRA; SILVA, 2001, p. 27). A ênfase conceitual das teorias críticas estava no significado subjetivo dado às experiências pedagógicas e curriculares de cada discente. Isso significava observar as experiências cotidianas que estudantes e docentes experienciavam seus próprios significados sobre o conhecimento, por meio de processos de negociação. Nelas, o professor propõe uma interação entre o conteúdo e a realidade concreta, sendo o mediador da construção do saber do aluno. Acreditava-se que a teoria tradicional, ao se pautar em critérios de eficiência e racionalidade burocrática, deixava de levar em consideração o caráter histórico, ético e político das ações humanas e sociais e do conhecimento, contribuindo, assim, para a reprodução das desigualdades e das injustiças sociais. Todavia, não se pode olvidar que o currículo deve ser dispositivo pedagógico de emancipação e libertação porque É através de um processo pedagógico que permita às pessoas se tornarem conscientes do papel de controle e poder exercido pelas instituições e pelas estruturas sociais que elas podem se tornar emancipadas ou libertadas de seu poder e controle. (SILVA, 2007, p.54). ___________ 90 91 no processo educativo, permitindo e instigando o estudante a participar e questionar, propondo-lhe questões políticas e sociais para reflexão dos conteúdos. Quando, no século XXI, surgem as teorias curriculares pós-críticas as bases curriculares são direcionadas para um contexto no qual se vincula conhecimento, identidade e poder com temas como gênero, raça, etnia, sexualidade, subjetividade, multiculturalismo, entre outros. Essa concepção de currículo tem uma linguagem de significados, imagens e falas, que revelam histórias esquecidas, vozes silenciadas e códigos distintos. Quanto às perspectivas críticas e pós‐críticas, o currículo se tornaria mais complexo na medida em que essas perspectivas passaram a concebê‐lo como um campo ético e moral. Essas, em contraste, argumentam que nenhuma teoria é neutra, científica ou desinteressada, porque implica(m) relações de saber, identidade e poder. Contrariamente às teorias críticas, as teorias pós‐críticas do currículo não acreditam que exista um núcleo de subjetividade a ser libertado da alienação causada pelo capitalismo. Para essas teorias, poder e conhecimento não se opõem, mas são mutuamente dependentes. Ambas partilham uma mesma preocupação com questões de poder, sendo que a concepção nas teorias pós‐críticas é menos estruturalista. São as conexões entre significação, identidade e poder que passam, então, a ser enfatizadas. Para as teorias pós‐ críticas, o currículo está irremediavelmente envolvido nos processos de formação pelos quais os docentes vivenciam os seus percursos formativos. O currículo, nessa concepção, é uma questão de identidade e poder. Todas as finalidades - de socialização, de formação, de segregação ou de integração social, dentre outras - que se atribuem e são destinadas à instituição escolar acabam, necessariamente, tendo um reflexo nos saberes que orientam e norteiam o currículo. Assim, para determinar os conteúdos e os códigos pedagógicos dos currículos, é fundamental verificar o papel social, político e ideológico - do professor e da escola - no processo pedagógico. Um entendimento sobre as teorias do currículo se faz necessário para se compreender a história e os interesses que envolvem a construção da proposta curricular, a fim de que percebamos com olhar mais crítico dos atores - na promoção, perpetuação ou transformação das desigualdades sociais - para que a Escola não seja um lugar que favoreça os favorecidos e desfavoreça os desfavorecidos e reproduza os valores e interesses unilaterais. Considerações Conclusivas Pudemos refletir que o currículo é delineado pela força política e pedagógica dos atores sociais da Escola, especialmente quando este se constitui como território que visibiliza diferentes identidades. Inúmeros são os estudos e discussões que envolvem o currículo nos tempos atuais - considerados por muitos teóricos, especialmente aqueles das Ciências Sociais - como um estágio de verdadeira “violência simbólica neoliberal”, que se traduze nos efeitos letais, refletidos no processo de “globalização excludente”, no aumento das desigualdades sociais, no silenciamento das vozes e pela desconsideração da história dos atores na construção do currículo escolar. Deparamo-nos com um contexto marcado por grandes problemas sociais, por uma história de fracasso e evasão escolar, com práticas escolares descontextualizadas e fragmentadas, afastadas das práticas sociais dos estudantes, reproduzindo velhas “pautas pedagógicas”. Os próprios professores reconhecem que a escola tem um currículo desconectado da vida dos alunos [...] o que acontece é que, muitas vezes, quando esse aluno chega na escola, ele não consegue relacionar seu mundo ao da escola [..] é como se tivesse dando um grito ao vento”. O desespero de alguns profissionais da educação, juntamente com a incansável jornada de muitos professores e, em algumas situações, a própria negação do conhecimento escolar para o aluno - que, para Young (2007), deve ser “conhecimento poderoso”-, considerando-o como incapaz, contribuem de forma incisiva na configuração do currículo na escola. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino O Silêncio das Vozes nos Currículos: uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 92 93 Diante do exposto, somos compelidos a corroborar com Sacristán (1998, p. 136-137), ao questionar qual “[...]país se arriscaria a pôr em seu currículo oficial aquilo que realmente se faz nas escolas? [...] . Vale ressaltar que a escola deve ter um compromisso com a construção e implementação de um currículo a serviço da emancipação dos estudantes. As nossas reflexões e considerações tramitam nessa direção, seja no que se refere à proposta curricular - com base fundante na teoria pós crítica - seja quanto à função dos profissionais, do papel da escola etc. Assim, falar sobre a educação e procurar modos de intervir na ação educativa, implica considerar dimensões da justiça social (SANTOMÉ, 1997). Com isso, aponta-se para a necessidade da inclusão de propostas que também sejam favoráveis aos alunos das camadas populares, contemplando uma escola pública de qualidade; indica-se um currículo mais humano, que valorize seus atores sociais, sejam eles os estudantes, professores, gestores e colaboradores ou mesmo as famílias Afinal, para tornar qualquer caminho possível é necessário uma escola e um currículo, que se pautem em paradigmas voltados para o ideal de justiça social, que considere as culturas e não apenas uma ou duas delas, mas grupos sociais diversos. Daí poderá emergir uma proposta curricular aberta ao diálogo multirreferencial e poliparadigmático. Fundamental se faz, também, que os educadores trabalhem no sentido de reverter essa tendência curricular tradicional, historicamente presente nas escolas, sugerindo a construção de um projeto pedagógico que expresse e dê sentido à diversidade cultural. Enfim, é indispensável que a escola amplie os seus horizontes e se torne capaz de acolher – em sentido amplo – a comunidade escolar, permitindo uma reflexão sobre a realidade educativa. Essas ações convergem em prol de uma (re-)avaliação curricular, uma vez que esta pode ser utilizada como um instrumento de reflexão do projeto político pedagógico (PPP) e do processo de ensino e aprendizagem. Contudo, para que isto de fato aconteça, existe um longo caminho a ser percorrido por professores e escola(s). Como força motriz, se mostra imperativo que os educadores utilizem a avaliação como instrumento reflexivo, para tornar o processo de ensino e de aprendizagem mais inclusivo e capaz de atender à diversidade e à pluralidade, presentes na sociedade atual. Referências FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 35 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 9 ed. São Paulo: Cortez, 1989. GADOTTI, Moacir. Currículo e Diversidade Cultural. In.: SILVA, Tomaz Tadeu da; MOREIRA, Antônio Flávio (Org.). Territórios Contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Currículo, Cultura e Sociedade. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria (Org.). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. SACRISTAN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1999. SACRISTAN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. SANTOMÉ, J. T. Política educativa, multiculturalismo e práticas culturais democráticas nas salas de aula. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de Educação. n.4, jan./fev./mar./abr., 1997. SILVA, T. T. da. Descolonizar o Currículo: estratégias para uma pedagogia crítica. Dois ou três comentários sobre o texto de Michael Apple. In: COSTA, M. V. (Org.). Escola básica na virada do século: cultura, política e currículo. 3. ed. São Paulo: Cortez,2002. SILVA, T. T. da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino O Silêncio das Vozes nos Currículos: uma Reflexão sobre o Formal e o Real, na Práxis Pedagógica Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Wilson Nascimento Santos 1 SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Verdade e Realidade 3. Filosofia e o Filosofar 4. Sistema, Ideologia e Conhecimento 5. Articulações e Considerações Finais 6. Referências A fugacidade das realidades e o sonho da razão vigilante. (Wilson Santos) 1. Introdução Um grande anseio do ser humano: conhecer e dominar a realidade. Nos diferentes discursos: místicos, míticos, filosóficos, teológicos, científicos modernos, e outros, a pretensão de se alcançar esse objetivo. A própria construção da tipologia do conhecimento moderno mostra isso. Uma impressão de que paira no ar e contamina, como um vírus, a ideia de realidade: uma pandemia do real 2. A afirmativa sobre o que é real, concreto, parece indubitável; absoluta. Existe uma realidade plena, universal, ou os seres humanos constroem realidades? No percurso deste texto, propõe-se considerar esses pontos por meio de uma teoria de sistemas. Para tanto, inicialmente, pretende-se uma aproximação sobre questões conceituais que envolvem os termos verdade e realidade, no intuito de, por meio de noções sobre universalidade e relatividade, para o primeiro, e objetividade e subjetividade, para o segundo, tensionar esses termos. Logo após, uma reflexão sobre Filosofia e o filosofar, assunto tão extenso e controverso que precisa, minimamente, de um olhar que permita avançar no 1 Graduado em Filosofia, Doutor em Educação, Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). E-mail: wilsons@ufba.br 2 Expressão alegórica, apenas para enfatizar a ideia de realidade absoluta. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 96 97 processo de construção conceitual de uma teoria de sistemas. Em seguida, uma interligação entre as noções de sistema, ideologia e conhecimento, através do reconhecimento de possibilidades sistêmicas básicas, com destaque para dois olhares acerca da ideologia, nas perspectivas do coletivo 3 e do sujeito 4, e um questionamento sobre o que é conhecimento, passando pela tipologia do conhecimento moderno e desdobramentos contemporâneos, além de uma proposta de construção conceitual sobre esse ponto. O conjunto resulta em um olhar ampliado sobre sistema. Por fim, a apresentação da configuração resultante do percurso filosófico percorrido e das articulações de noções conceituais trabalhadas nos tópicos. Um olhar sobre sistemas que possa contemplar construções, leituras e perspectivas de realidades; ou seja, uma teoria de sistemas, enquanto síntese do ensaio, que possa cooperar na trajetória existencial de cada sujeito. várias provocações decorrentes da expressão supramencionada, as questões acima são tomadas como associadas às ideias gerais de conhecimento, domínio e controle de tudo. Definir verdade e realidade enquanto termos precisos que podem ser tratados de tal ponto que a humanidade tenha o domínio de si, do outro e do mundo, é um pressuposto ousado perseguido por diversas teorias sobre a questão do conhecimento. Longe de apresentar uma única solução, as diferentes teorias carregam consigo soluções que atendem, a depender da força dos ajustes internos argumentativos e seus fundamentos, determinados grupos de pessoas. A capacidade de expansão e impacto de cada teoria está diretamente associada à aceitação dos fundamentos observados em cada discurso. Para tanto, em geral, o termo verdade apresenta duas vertentes básicas: 1. Universalidade, ou seja, a verdade admitida como universal, que não depende de oscilações decorrentes da subjetividade humana, da temporalidade ou da espacialidade. 2. Relatividade, ou seja, a verdade admitida como relativa, que depende da subjetividade humana, do contexto, da utilidade e dos costumes humanos. A primeira vertente marcou a construção da Filosofia chamada Clássica, principalmente da metafísica filosófica, na consideração de ideias ou categorias absolutas apreendidas pela razão para explicação da realidade. Também caracterizou o início do discurso científico moderno 8, no pressuposto de absolutos físicos passíveis de descoberta pela razão moderna. A segunda vertente caracterizou o tensionamento da metafísica filosófica clássica pela leitura dos contextos e dos limites humanos associados a concepções de realidades locais, promovendo ainda uma reconstrução constante dessas realidades e dos conhecimentos de cada sociedade. Essas vertentes, todavia, não resolvem o problema acerca da verdade, no sentido mais amplo, pois sustentam teorias diversas tanto metafísicas quanto físicas, ou contextuais, admitidas soluções a partir da aceitação de uma dessas teorias, em detrimento das demais, o que afeta, simultaneamente, a definição de realidade. Reconhecida como fato, concreto, que existe, a realidade parece ser algo passível de total apreensão; ledo engano. Na antiguidade filosófica já se questionava o que é real, com ênfase para a razão e as verdades universais. Das várias leituras, o fa- 2. Verdade e Realidade O que é verdade? O que é realidade? Dentre os dizeres populares, uma afirmativa curiosa e, ao mesmo tempo, trágica e cômica: “quem souber, morre!”. Situações históricas, desde a simples não compreensão sobre algo até a noção de se eliminar uma prova, dados ou uma pessoa que sabe sobre algo, são associadas à expressão. Provocativamente, ela remete a uma grande inquietação humana: dominar o absoluto, o pleno, o ilimitado, o incontestável; chegar à Pedra Filosofal 5 da Alquimia ou de Harry Potter 6, ou ao Santo Graal 7. Para este trabalho, apesar das 3 O termo coletivo utilizado neste trabalho remete à noção geral de grupo ou conjunto de pessoas. 4 Admitido o termo sujeito, em perspectiva contemporânea, tão somente como ser, pessoa, consciente e capaz de conhecer. 5 Pedra Filosofal: algo que seria capaz de, dentre outras coisas, manipular diferentes metais e transformá-los em ouro, além de prolongar a vida. Sobre esse assunto, para maior compreensão, ou simplesmente curiosidade, interessante desenvolver leitura a respeito dos alquimistas e dos textos de Nicolas Flamel. 6 Série de livros de romance, aventura e fantasia da autora J. K. Rowling, adaptados para o cinema, sendo um deles intitulado Harry Potter e a Pedra Filosofal. 7 Santo Graal: no contexto cristão, apesar da questão referente à origem ser celta e ou cristã, o cálice utilizado por Jesus Cristo na última ceia e que conteria o sangue do mesmo, recolhido por José de Arimatéia. Esse cálice teria poderes sagrados e misteriosos, inclusive o de cura. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas 8 Denominado aqui de discurso científico moderno por se considerar que ciência não é uma prerrogativa da chamada modernidade ocidental, mas uma característica da trajetória filosofante humana, em diferentes épocas, contextos e culturas. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 98 99 moso dilema entre Heráclito e Parmênides 9: real é o mundo em que se apresentam os seres humanos, dos sentidos, ou o mundo de identidades, imutável? Devir de tudo ou essências? Outras leituras de realidade admitiram a junção dessas 10. Mesmo assim, persiste a pergunta: o que é realidade? Novamente, para sintetizar a discussão, duas vertentes básicas: 1. Realidade objetiva, ou seja, realidade que se apresenta no mundo empírico, das experiências. 2. Realidade subjetiva, ou seja, que se apresenta no campo das ideias, da construção racional. No primeiro caso, a realidade é observada como condição a posteriori. A razão depende da experiência para conhecer e ou construir verdades que contemplem a realidade posta. No segundo caso, a realidade é observada como condição a priori. A razão intui a realidade ao considerar um conjunto de verdades que possam tratar da realidade apresentada 11. Em ambos os casos, a dimensão da realidade está relacionada diretamente à dimensão da verdade, sendo elementos que estão contidos nas diferentes estruturas sistêmicas que se propõem definidoras do cosmos e que representam uma pluralidade de olhares: múltiplas verdades, múltiplas realidades e múltiplas concepções cósmicas. São dimensões provocadoras do filosofar. admitir que, nas inquietações sobre o que vem a ser Filosofia, surgem, em geral, duas questões: 1. O que é Filosofia? 2. Para que serve a Filosofia? À primeira pergunta, algumas respostas são possíveis: Resposta 1a. Apenas se pode tratar sobre o termo Filosofia e sua constituição elementar, não cabendo uma definição. O termo Filosofia, classicamente, tem sua origem associada a Pitágoras de Samos, que, ao ser tomado como um sábio, teria respondido não ser um sábio, mas uma pessoa que ama e almeja a sabedoria. A raiz do termo está vinculada à junção de Philos 12, amor fraternal, e Sophía 13, sabedoria. Filosofia então compreendida como amor à sabedoria, amizade pela sabedoria, gosto pelo saber, desejo de saber e outras expressões similares. Nesse contexto, a sabedoria estaria para além da condição humana, metafísica, cabendo ao ser humano, inquieto a respeito de tudo, sua busca. Resposta 1b. A Filosofia não pode ser definida por também ser um problema filosófico. A Filosofia clássica busca um dar conta do mundo; tentar atender às questões universais: origem, existência e finalidade, ou, em linguagem mais simplificada: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde vou? Tais questões incluem a própria Filosofia, visto ser o sujeito filosofante parte do problema filosófico e da dinâmica do mundo. Isso implica que se a Filosofia for definida universalmente deixará de ser Filosofia para ser o sistema filosófico absoluto que resolveu as questões universais. Tal situação significa o fim das incertezas, a eliminação de qualquer outro sistema filosófico; o fim da História, da Sociologia, da Psicologia, das Humanidades e de toda e qualquer leitura que tenha como referência a dinâmica da existência, a temporalidade e a espacialidade. Ou seja, o estabelecimento do mundo estático, perfeito e único. Resposta 1c. A Filosofia pode ser definida dentro de um sistema filosófico. Nesse caso, admitida a multiplicidade de sistemas filosóficos, é possível se definir o que é Filosofia tão somente para determinada corrente de pensamento ou pensador em particular. Essa resposta, em especial, permite a compreensão 3. Filosofia e o Filosofar Apesar do desejo existente em muitas pessoas de um dicionário que defina Filosofia, a caminhada filosófica não é tão simples de se apresentar. Para contribuir nesse processo, pode-se 9 Heráclito de Éfeso, considerado precursor da lógica dialética, admite como realidade o mundo que se apresenta aos sentidos humanos e que pode ser compreendido pela razão. Parmênides de Eléia, precursor da lógica formal, admite como realidade o mundo de essências apenas alcançado pela razão. Para maior maturação, indicada, como acréscimo, a realização de leitura sobre os pensadores do período denominado pré-socrático. 10 Por não ser objetivo do presente texto, apenas a título de expansão de conteúdo, indicado o estudo das teorias de Platão e de Aristóteles sobre o conhecimento, onde desenvolvem sistemas em que associam, por diferentes perspectivas as concepções de Heráclito e de Parmênides, além de articularem trabalhos de outros pré-socráticos. 11 Classicamente, a discussão perpassa o empirismo e o racionalismo, correntes filosóficas da modernidade, tendo o criticismo promovido a associação dessas correntes, com modalizadores pela razão. Indicada a leitura posterior dessas correntes de pensamento para aprofundamento sobre os dilemas da razão moderna. ___________ 12 No contexto grego existem diferentes termos para amor. Desses, basicamente três são mais populares e, apesar dos significados sofrerem oscilações na temporalidade dos registros, podem ser apresentados, em certa medida, como: 1. Ágape: amor incondicional, afetivo, perfeito, metafísico e vertical por excelência. 2. Eros: amor apaixonado, descomedido; atração intensa e descontrolada. 3. Philos: amor fraternal, horizontal; amizade. 13 Sophía é um termo clássico grego que está diretamente associado às ideias de ciência, conhecimento e sabedoria. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 100 101 de limites sistêmicos em decorrência das próprias limitações humanas frente às questões universais. Resposta 1d. É melhor tratar sobre outro assunto para se evitar problema. Parece ser essa a resposta mais cômoda. Todavia, esse conforto aparente apenas esconderia do ser humano sua condição de inquietude frente a si mesmo, ao outro e ao mundo onde está inserido. Em muitos momentos da vida, a anestesia existencial 14 de um mundo posto e acabado acalma as pessoas. Porém, a qualquer momento, uma simples curiosidade pode provocar o despertar filosofante. Para a segunda pergunta, uma resposta popular chama a atenção: “a Filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual”, ou seja, da inutilidade da Filosofia. Essa resposta parece a mais conhecida; um senso comum que atravessa a temporalidade histórica humana. Considerando o questionamento como uma das principais características da Filosofia, cabe perguntar sobre o que significa utilidade em cada contexto. A resposta para cada momento permite ponderações sobre a utilidade ou não da Filosofia. Em todo caso, a simples redução do termo utilidade para serventia imediata ou objetiva pode acabar por esvaziar a compreensão de utilidade filosófica. O que pode ser respondido, em linhas gerais, é que a Filosofia serve, em grande medida, para tensionar todo e qualquer sentido de utilidade que tente seu enquadramento. Dessas considerações sobre Filosofia pode-se extrair que, apesar das tensões conceituais sobre sua possível, ou não, definição e utilidade, as provocações, por si sós, representam o estado básico do ser filosofante: o filosofar. Compreendido como ato, exercício, processo, arte ou simplesmente como característica marcante de cada ser humano ao deparar-se e interagir consigo mesmo, com o outro e com o mundo, o filosofar é tomado como ponto de partida de toda e qualquer Filosofia. A admiração, a curiosidade, a dúvida, o espanto, a inquietação, a perplexidade, o questionamento, são termos diretamente associados ao filosofar. Esses termos assumem determinadas definições a depender do sistema filosófico a que estejam relacionados, produzindo como resultado variadas interpretações e especificidades 15. Todavia, mesmo em meio a tantas opções conceituais, é possível, em certa medida e de um modo geral, tratar do filosofar como um intenso desejo de conhecer sobre algo que, por algum motivo singular, despertou a atenção, interesse, de uma dada pessoa, que passa a se debruçar, estudar, sobre aquilo que lhe atraiu. A dimensão de conhecimento resultante desse processo pode tanto atender tão somente à demanda do sujeito filosofante quanto estender-se até o extremo da construção de um sistema filosófico. 4. Sistema, Ideologia e Conhecimento É comum se atribuir características como: objetivo, ordem, relação mecânica de causa e efeito, sentido, e outras tantas para os sistemas. Essas características nada mais são que o exercício da razão humana moderna no afã de compreender, controlar e definir tudo; um perseguir a consciência 16 que se aproxime da onisciência. Nessa leitura, conceitos e conhecimento parecem já postos e absolutos. Delírios a parte e para aproximação preliminar, um sistema pode ser apresentado simplesmente como um conjunto de elementos harmonicamente 17 associados. Observadas as limitações humanas, pode-se considerar a existência de infinitos sistemas, do micro ao macro cosmos. Em seu arranjo e para facilitar uma aproximação com base no grau de consciência humana presente em um sistema, é possível, em certa medida, o desdobramento da concepção acima em três vertentes sistêmicas básicas: 1. Sistemas naturais: são aqueles que não possuem interferência direta do ser humano; que não possuem grau de consciência em seu arranjo. Deixado de lado o atual poder de interferência humana e apenas observado o sistema em sua condição inicial posta, os diversos sistemas que compõem boa parte do ecossistema, como os sistemas das formigas, das abelhas e dos cupins, ou o sistema respiratório humano, ou, ainda, o sistema solar, são exemplos dessa condição. 2. Sistemas 15 Expressão alegórica, apenas para enfatizar a ideia de um não questionamento sobre a existência, pelo absoluto ___________ pressuposto de que tudo está definido. Importante enfatizar que não é proposta deste ensaio a elaboração de um tratado de História da Filosofia ou do filosofar, mas tão somente uma aproximação sobre Filosofia e o filosofar para construção de uma teoria de sistemas. 16 Consciência é um termo com muitos significados. No presente trabalho, esse termo é tomado, de forma abrangente, como compreensão, percepção, conhecimento e ou reconhecimento sobre algo. 17 Harmonia como aquilo que garante a combinação de elementos, mesmo que sejam opostos, de um sistema, favorecendo sua dinâmica relacional interna, sem o risco de desfazimento. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino 14 Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 102 103 artificiais: são aqueles que possuem interferência do ser humano em sua construção inicial, com certo grau de consciência em seu arranjo. Os sistemas computacional, hidrelétrico, residencial, são exemplos dessa condição. 3. Sistemas conscientes: são aqueles compostos por seres humanos, que possuem, desse modo, interferência direta dos sujeitos, elementos desses sistemas, e alto grau de consciência em seu arranjo. Os sistemas políticos, culturais e éticos são exemplos dessa condição. Os sistemas conscientes são povoados por conceitos, palavras objetivamente definidas sobre tudo, de tal maneira que o cosmos pareça já posto. Os conceitos são alimentados e fortalecidos, sustentando as relações internas e a organização de cada sistema, por pré-conceitos 18, ideias, conceitos prévios, que compõem a base pré-conceitual sistêmica. Os pré-conceitos são fundamentos sistêmicos que, em geral, não são sequer percebidos ou questionados pelas pessoas. As noções de ética, estética e política são exemplos de ideias que compõem a base pré-conceitual de um sistema. Essa estrutura faz com que os elementos humanos de cada sistema tenham a nítida impressão de que a realidade é evidente e, na grande maioria dos sistemas, única. Mesmo assim, importante acrescentar que, por existir uma dinâmica relacional decorrente da subjetividade humana dos sistemas conscientes, conceitos podem sofrer ajustes contextuais num dado sistema e, a depender da intensidade, provocar, inclusive, alterações pré-conceituais. Admitidas as possibilidades de sistemas supradestacadas e, agora, as múltiplas relações que podem ser estabelecidas entre as mesmas, visto que, desde a modernidade, em especial, o ser humano tem afetado diversos sistemas, além da compreensão de que todo sistema é composto por outros sistemas e compõe outros sistemas, numa rede ao infinito, é factível, em grande medida e a partir da condição humana racional e consciente, compreender um pouco de que forma estão interligadas as noções de sistema, ideologia e conhecimento. Para tanto, basta considerar, como ponto de referência, a perspectiva número 3, acima, de sistemas conscientes. Todavia, falta uma mínima caracterização sobre ideologia para que a interligação mencionada possa ser devidamente apresentada. Afirmar que ideologia é um conjunto de ideias, não coopera tanto, provavelmente quase nada, para uma melhor aproximação sobre o termo. Se o pensar sobre o mundo é valorar o mundo, o pensar sobre sistemas também é valorar sistemas. Nesse sentido e considerando que valorar é uma característica tipicamente humana, o ser que tudo valora, a ideologia também se associa a uma concepção de valores dentre as tantas possibilidades axiológicas 19 de valoração: ética, estética, política, econômica, afetiva, quantitativa, qualitativa e outras. Contudo, como a existência de diversos sistemas filosóficos implica na existência de configurações diversas sobre ideologia e valores, parece pertinente destacar ao menos dois olhares que cooperem na percepção da condição humana em sociedade e nas singularidades e que, simultaneamente, possam favorecer a maturação proposta de uma macroleitura sobre sistemas. Um primeiro destaque: Marx 20. Em sua leitura de mundo, o desenvolvimento da humanidade pode ser apreendido por meio do materialismo histórico dialético. Compreender as condições matérias efetivas da existência humana e os conflitos decorrentes da exploração do ser humano pelo próprio ser humano, significa compreender o percurso histórico e os necessários conflitos de classes de cada contexto, que poderão resultar, em um futuro ainda distante, na sociedade do bem comum. Para o pensador, a sociedade moderna está estruturada no referencial econômico. A organização social decorrente da economia configura dois grupos bem definidos: os dominantes, pequeno grupo detentor das condições necessárias para produção; e os dominados, grande grupo detentor da força de trabalho humana, da mão de obra, que vendem como forma de subsistência. O 19 O termo pré-conceito aqui apresentado é o elemento fundante de conceitos e não se refere ao termo preconceito associado a uma opinião sem fundamentação, sem conhecimento, ou atitude pejorativa, de discriminação, contra algo ou alguém; apesar de, em alguma medida, permitir um pensar sobre essa noção. ___________ Dada a amplitude filosófica, somente a título de informação, cabe lembrar que axiologia é, em dada medida, uma área do conhecimento que estuda as diferentes noções e ou conceitos sobre valor. No presente texto, restrita a um olhar sobre o processo de valoração ideológico humano nas configurações dos sistemas em geral. Caso haja maior interesse sobre esse assunto, indicada uma leitura filosófica mais temática, que perpasse alguns filósofos que tratam dessa problemática de forma mais detalhada, a exemplo de Kant e Nietzsche. 20 Para maior aprofundamento do pensamento de Marx, indicada a leitura de suas obras, em especial, A Ideologia Alemã e Manifesto do Partido Comunista; não deixando de sugerir, ainda, como extenso e intenso acréscimo, sua densa compreensão do sistema capitalista e seu modo de produção, presente no conjunto de livros sob o título O Capital: crítica da economia política, organizado em volumes: Livro 1, v.1-2: o processo de produção do capital; Livro 2, v.3: o processo de circulação do capital; Livro 3, v.4-5-6: o processo global de produção capitalista. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 18 104 105 problema está na exploração da mão de obra exercida por meio de reconhecimento e pagamento a menor que o real valor; o que resulta em diferença denominada mais-valia. Tal diferença enriquece os donos dos meios de produção, os dominantes, em detrimento dos executores da atividade laboral, os dominados. Marx considera que o processo dialético de ruptura da exploração exercida sobre os dominados passa pela quebra da alienação 21: estado em que os trabalhadores, dominados, acreditam que o mundo é da forma que é, realidade absoluta e imutável, o que fragiliza o poder de reação desse grupo, subjugando-o, pelas ideias, às condições estabelecidas pelos dominantes. A ruptura dessa organização depende do despertar da classe dominada, que percebendo sua condição de explorada, entra em conflito contra a classe dominante, projetando-se daí, como ocorrido em outros momentos da história, segundo o filósofo, uma ruptura da ordem ideológica vigente e o estabelecimento de uma nova organização social. Como a ideologia, em Marx, é moldada por uma classe, a dominante, de forma a favorecer a mesma, uma mudança ideológica desse sentido explorador precisa da tensão provocada por outra classe, a que pela primeira é explorada, os dominados. Esta classe, por meio da compreensão e superação do processo de alienação a que estava submetida e a fazia crer que a única realidade era a apresentada pela ideologia da classe dominante, desenvolve um processo de consciência de classe trabalhadora, subjugada e manipulada; um despertar do grupo dominado, que implica em conflito de classes para a realização de mudanças; reconfigurações ideológicas do sistema socioeconômico vigente em dado contexto. Um segundo destaque: Sartre 22, que considera ser a liberdade absoluta, à qual todas as pessoas estão condenadas, o fundamento da existência humana. Não há forma de se fugir ou desistir da liberdade. Cada pessoa é plenamente livre, logo, plenamente responsável por suas ações, opções, por si e por tudo. A tomada de consciência da liberdade é, também, tomada de consciência e controle da própria existência, enquanto projeto de vida. A essência de cada sujeito nada mais é que um construto de sua existência. É resultado do assumir o controle de sua caminhada existencial. Sua singularidade atinge o universal. Essa caminhada apresenta, a todo instante, a necessidade de tomada de decisão; de escolha. A cada passo existencial uma escolha precisa ser feita e cada escolha o afeta e, por sua plena liberdade, afeta toda humanidade. Cada sujeito carrega o peso da responsabilidade por toda a humanidade. O resultado dessa tensão existencial, nesses termos: cada escolha implica em significativa angústia. Dada a intensidade do problema da angústia decorrente da consciência que o sujeito tem de sua responsabilidade frente às escolhas, existe o risco de se recorrer à má-fé: o sujeito busca evitar escolher, delegando suas opções a fatores externos, como divindades, outras pessoas e situacionais, na ilusão de fugir daquilo que não consegue escapar: sua liberdade. A tentativa de negação da liberdade nada mais é que a tentativa de negação do próprio projeto de vida. Não escolher ou creditar escolhas a terceiros é escolher. A má-fé é um remédio que pode até anestesiar a existência por alguns segundos, mas não consegue eliminar o projeto de vida do sujeito, sua consciência de liberdade, que teima em apresentar-se, questionando sobre o próximo passo. Cada pessoa, nessa perspectiva, carrega uma ideologia própria, uma ideologia do sujeito, que tem em sua assinatura, seu projeto de vida, suas escolhas, e que atinge a tudo e a todos. Além disso, os sujeitos passam por conflitos à medida que o projeto de vida de um colide com o projeto de vida do outro. Contudo, essas tensões que podem prejudicar o projeto de vida de cada pessoa servem, segundo o filósofo, para auxiliar a consciência de cada um sobre si, por meio do olhar do outro, que, semelhante a um espelho, revela, para o sujeito observado, características que favorecem um melhor conhecer a si próprio. Os destaques acima referentes à ideologia possibilitam compreender, de forma simplificada, duas leituras: 1. Ideologia do 21 Alienação é um termo com muitos significados. Para a compreensão no presente texto, esse termo é tomado, inicialmente, dentro do sistema filosófico de Marx, como coisificação do ser humano, para atender, enquanto mera engrenagem, os objetivos de produção e consumo do sistema capitalista vigente, sendo interessante, a título de sugestão, assistir ao filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, para maturação dessa noção. Em seguida, de forma mais ampla, o termo alienação é tomado como não percepção do sujeito enquanto sujeito, não consciência de sua existência e condição no mundo; leitura que atravessa diversas construções sistêmicas. 22 Para maior aprofundamento do pensamento de Sartre, indicada a leitura de suas obras, em especial, O Ser e o Nada e, observadas algumas ressalvas do próprio pensador, O Existencialismo___________ é um Humanismo. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 106 107 coletivo 23: que constrói, norteia e movimenta grupos sociais, definindo realidades, papéis, comportamentos e relações sistêmicas internas entre as pessoas dos grupos e entre os grupos. Permite pensar, a partir de Marx, em outras ideologias de coletivos e nas relações sistêmicas externas, que colocam em dúvida construções distintas de realidades, na tentativa de estabelecimento de uma realidade universal, normalmente definida pelo sistema com maior poder de afirmação ou imposição. 2. Ideologia do sujeito: que se fundamenta na liberdade absoluta do sujeito e na consciência de sua singularidade existencial no mundo, enquanto microssistema e ponto de partida das relações sociais. Envolve a construção e o controle do projeto de vida de cada sujeito exclusivamente por ele, todavia, ao mesmo tempo, atingindo toda a humanidade. Permite pensar, a partir de Sartre, na ideologia do sujeito, ser consciente da necessária configuração de sua caminhada, bem como na compreensão da convivência de múltiplas realidades singulares que se apresentam e, em certa medida, entram em conflito, nas interações entre sujeitos e com o mundo. Essas leituras, de ideologia do coletivo e ideologia do sujeito, compõem os sistemas conscientes, destacados anteriormente, com oscilações de intensidade e proporcionalidade, conforme cada sistema, que afetam diretamente as construções internas sistêmicas das relações eu-outro-mundo 24. Por fim, para associar sistema, ideologia e conhecimento, um questionamento: o que é conhecimento? De início, tratar sobre esse assunto pode remeter à tipologia do conhecimento moderno, a saber: 1. Senso comum: sustentado na tradição e confiança dos povos e nos saberes construídos pelas gerações anteriores. 2. Teológico: sustentado, em princípio, na fé mística e na utilização da razão clássica para confirmá-lo. 3. Filosófico: sustentado na razão clássica e na busca de certeza de leitura e compreensão do cosmos pelo exercício de aproximação e respostas às questões universais, originando uma diversidade de sistemas em meio aos limites humanos. 4. Científico moderno: sustentado na razão moderna, primazia do ser humano frente ao cosmos, e na convicção de leitura do mundo físico e certeza da descoberta das verdades que o sustentam. Entretanto, essa tipificação, inicialmente, buscou uma estratificação e supervalorização do discurso científico moderno, ao considerar que apenas esse discurso, por ter o compromisso metódico de testar exaustivamente até, acredita-se, confirmar as verdades descobertas, pode dar conta do conhecimento. Contudo, os desdobramentos contemporâneos, nas concepções de múltiplos tipos de conhecimento, não mais limitados aos quatro vistos anteriormente, e na quebra de uma hierarquia de conhecimentos através de uma rede mundial de articulação dos mesmos, conforme infinitas possibilidades de conexões, têm provocado, em grande medida, a revisão da tipificação estabelecida. A leitura moderna, nesse contexto, passa a representar uma perspectiva hierárquica, uma forma de abordagem da humanidade sobre o conhecimento, dentre outras. Respeitando-se a dimensão do assunto e a existência de inúmeras perspectivas, para tratar desse ponto, faz-se necessária uma leitura conceitual que permita atender à demanda proposta para o presente trabalho. Nesse sentido, uma construção conceitual pode ser estabelecida através da simples consideração e definição dos seguintes termos: 1. Dados: elementos iniciais que permitem uma primeira aproximação sobre algo, todavia sem a possibilidade de se inferir a respeito. 2. Informação: articulação de dados sobre algo, que permite se inferir a respeito. Dos pontos destacados, para atender ao questionamento: o que é conhecimento? Pode ser respondido: um conjunto de informações devidamente maturadas, apreendidas pelo sujeito, que permite falar e explicar sobre algo ou determinado assunto. É possível, ainda, ampliar a resposta acima a partir da observação de uma noção sobre sabedoria: conjunto de conhecimentos que permite falar e explicar sobre diversos assuntos. A sabedoria tanto pode ser decorrente do acúmulo de conhecimentos, fruto da trajetória de estudos do sujeito, como de conhecimentos tácitos, intuitivos, que têm como referência o reconhecimento dos povos, comunidades, a que estão diretamente relacionados. Isso permite uma expansão da noção conhecimento, para: um conjunto de informações devidamente maturadas, apreendidas 23 No sistema filosófico de Marx o termo coletivo está associado ao trabalho de um grupo de indivíduos no processo de produção industrial capitalista, no intuito de aumentar a exploração e, por consequência, a mais-valia. Contudo, considerando que existem vários sistemas, importante reforçar nota anterior sobre o uso do termo coletivo, neste ensaio, como noção geral de grupo ou conjunto de pessoas, para promover uma melhor compreensão a respeito da diversidade sistêmica. 24 A expressão eu-outro-mundo costuma ser utilizada em discussões filosóficas contemporâneas. Trata, de forma simplificada, da necessária articulação do que constitui a existência: a singularidade do sujeito e a relação de si para consigo mesmo; as relações entre os sujeitos; e as relações entre sujeitos e o mundo em que estão envolvidos. A dinâmica da___________ imprescindível convivência. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 108 109 pelo sujeito, ou tácitas e intuídas pelo sujeito, que permite falar e explicar sobre algo ou determinado assunto. A partir da noção sobre sistemas, em especial dos sistemas conscientes e seus conceitos e pré-conceitos, apresentada, bem como das noções sobre ideologia e suas perspectivas de valores e sobre conhecimento, também apresentadas, finalmente uma interligação entre esses termos, para ampliação da compreensão preliminar sobre sistema, estabelecida no início desse tópico, pode ser apresentada. Um sistema é um conjunto de elementos harmonicamente associados, conectados entre si por uma liga ideológica e que interagem por meio de conceitos, enquanto colunas sustentadas em uma base pré-conceitual, que possibilita, internamente, tratar das relações eu-outro-mundo e dar conta do conhecimento. Esse novo olhar é mais um passo dado para uma maturação sobre sistema. alvo, já será gratificante todo esforço em elaborá-lo e torná-lo público. Uma teoria que possa cooperar na trajetória existencial de cada sujeito; ser filosofante. Articulações e Considerações Finais Referências ABBAGNANO, Nicolla. História da Filosofia. Tradução de Conceição Jardim, Eduardo Nogueira e Nuno Valadas. 4. ed. Lisboa: Presença, 1993. XIV v. ABBAGNANO, Nicolla. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. BORNHEIM, Gerd A. (Org.). Os filósofos pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 1994. Dos tópicos trabalhados: verdade e realidade; Filosofia e o filosofar; sistema, ideologia e conhecimento, etapas de uma construção conceitual sobre sistema foram apresentadas. As articulações desses tópicos permitiram a ampliação dessa construção, por meio do esforço filosófico desenvolvido em sentido mais amplo, onde, na soma de noções, se procurou contemplar construções, leituras e perspectivas de realidades e de conhecimentos. O percurso filosófico percorrido, enfim, tornou possível a construção da seguinte síntese: um sistema é um conjunto de elementos harmonicamente associados, conectados entre si por uma liga ideológica e que interagem por meio de conceitos, enquanto colunas sustentadas em uma base pré-conceitual, que possibilita, internamente, tratar das relações eu-outro-mundo; afirmar o que é conhecimento, o que é verdade e o que é realidade; e estabelecer uma organização de valores internos que são projetados para além de seus limites. Eis uma perspectiva de um edifício sistêmico; uma teoria de sistemas. Evidentemente, a construção aqui realizada não deixa de apresentar uma perspectiva de realidade; uma teoria de sistemas possível. Contudo, é um olhar que permite a abertura do pensar sobre sistemas, do promover e provocar em cada sujeito um maior cuidado reflexivo sobre o que compreende como realidade e que, em muitos casos, procura impor, às vezes sem sequer o perceber, para outras pessoas, desconsiderando-se a possibilidade de outras realidades. Se o presente texto alcançar esse ousado ___________ DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução de João Gama. Lisboa: Edições 70, 2000. Introdução e notas de Étienne Gilson (Coleção Textos Filosóficos, 9). Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Construções, leituras e perspectivas de realidades: uma teoria de sistemas Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento HESSEN, Johannes. Teoria do conhecimento. São Paulo, Martins Fontes, 2000. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Lemos de Sant’Anna. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 6v. (Coleção Perspectivas do Homem, 38). MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Tradução de Luis Claudio de Castro e Costa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (Coleção Clássicos). MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Tradução de Álvaro Pina. 9. ed. São Paulo: Global, 1993. (Série Universidade Popular, 1). PENSADORES, Os (Coleção). São Paulo: Nova Cultural, 1988. SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução de João Batista Kreuch. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. ___________ Jovens em desvantagem social e a autoformação Ilzimar Oliveira 1 SUMÁRIO: 1. Introdução 2. A autoformação e o futuro do sujeito: esboço de vida e identidade como projeto 3. Identidade como projeto 4. Recursos da autoformação 5. Trabalho remunerado como recurso 6. A construção identitária e de perspectivas de futuro: a qualificação em projetos alternativos à escolarização formal 7. Considerações Finais 8. Referências 1. Introdução A inserção de jovens no mercado de trabalho e sua participação nas outras esferas da vida social, na cultura, na política, deve ser prioridade da União e dos governos Estadual e Municipal. Tal inserção requer tantos recursos objetivos, possibilidades concretas social e politicamente estruturadas, quanto recursos subjetivos, ou seja, aqueles mobilizados internamente pelos sujeitos nos processos essenciais de sua vida, sobretudo os processos formativos. A escolarização e a formação profissional dos jovens são consideradas recursos que podem ser decisivos para a construção de uma futura vida digna na idade adulta. Por outro lado, um processo formativo requer também a participação pessoal, ou seja, a auto atividade, a mobilização do próprio sujeito, o que, por sua vez, exige a utilização de seus recursos subjetivos. A ideia de autoformação está inserida nessa dinâmica e diz respeito a um processo educativo, no qual o sujeito educa-se a si mesmo, no qual ele constrói suas alternativas, dirige seu próprio processo, conduzindo-o àquilo que foi desejado. Para Josso (2007), a autoformação é um processo pedagógico, no qual emerge uma consciência de si mesmo, através das trocas de significados com os 1 Professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: ilzi2204@ outlook.com ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 112 113 outros, consigo mesmo e com o mundo. A minha proposta de tratamento deste tema multidimensional tem por base as discussões apresentadas em minha tese de doutoramento, intitulada Caminhos biográficos em instituições não-formais: jovens em desvantagem social a caminho da autoconstrução 2. Tomo por base deste artigo alguns dos dados que coletei em entrevistas narrativas biográficas com doze jovens (entre dezessete e vinte e três anos de idade) no Subúrbio Ferroviário de Salvador no ano de 2010 para a tese. Nestas entrevistas, eles e elas me falaram de suas vidas, de suas aspirações e as formas como solucionam problemas de toda espécie, como superam a infância em situação de precariedade e buscam, através da formação profissional, construir possibilidades de inserção no mercado formal de trabalho e realização de seus esboços e projetos identitários. tidade futura. Keupp et al. (2008) fazem distinção entre esboço identitário e projeto identitário: o esboço, como já dito, pertence ao plano do imaginário; o projeto, por sua vez, tem caráter de decisão, tem como regra a precondição que um processo de reflexão sobre a existência dos recursos disponíveis e necessários já aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que pensa em “ser veterinário” pode imaginar-se desempenhando esta função (esboço). Concluir o nível médio num determinado ano e fazer o exame ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - para cursar a graduação correspondente, entretanto, exige uma tomada de decisão. “Ser veterinário” adquire, então, caráter de projeto e requer a autoatividade para mobilização dos recursos através das decisões. Sempre que o projeto é trabalhado, o sujeito posiciona-se a si mesmo renovadamente e avalia a relação entre a autorrepresentação e a representação cognitiva do projeto. Este processo significa para Keupp et al. (2008) a trajetória das etapas do desenvolvimento esboço-projetorealização, a qual está estritamente ligada às experiências passadas e às construções prospectivas. Um esboço de vida emerge das autotematizações, ou seja, de fazer de si mesmo um tema de reflexão; no caso da pesquisa em questão, os esboços apresentam-se nas narrações biográficas. Hurrelmann e Quenzel (2012) entendem o esboço de vida em relação ao conceito de condução da vida, no qual a organização para a ação e a formatação (no sentido de dar forma) da vida cotidiana acontecem. Tratase da construção individual da vida cotidiana em relação a uma ordem institucionalizada com objetivos e sentido colocados pelo próprio sujeito, para estabelecer uma medida mínima de estabilidade e identidade numa situação de insegurança e inconsistência. Os jovens se tornam, desta forma, instâncias de planejamento da sua própria vida, para as quais são necessários um desempenho de orientação, a construção de sentido e da perspectiva de futuro. Mesmo as imaginações de futuro que não são explicitamente formuladas funcionam como motores da ação. Através da ação, motivada, intencional e com sentido, os sujeitos constroem 2. A autoformação e o futuro do sujeito: esboço de vida e identidade como projeto O esboço de vida e de identidade estão entrelaçados um com o outro. Como estrutura dinâmica, a identidade é direcionada ao futuro. Esboços de identidade e projetos de identidade emergem quando a imaginação de futuro e as ponderações do sujeito sobre quem ele quer ser e para onde seu desenvolvimento o conduzirá acontecem. Para Keupp et al. (2008), este processo de imaginar, ponderar, já é conteúdo formativo do trabalho identitário. O trabalho identitário é um desempenho cotidiano do sujeito para a preservação de sua capacidade de ação e negociação, no qual o posicionamento no mundo e a articulação das diferentes experiências e suas diferentes dimensões, (temporal, social, autorreferenciada) são realizadas. Ou seja, a identidade é processual, cotidianamente construída e mantida em movimento. Os esboços de vida aparecem aí, no plano do imaginário, relativamente distanciados da realidade, utópicos. Todavia, são estas imagens dinâmicas, estes sonhos que energizam os projetos concretos de iden2 Tese defendida em janeiro de 2016, na Universidade de Viena - Áustria. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 114 115 a realidade e dão sentido ao mundo. A ampliação da perspectiva de futuro na juventude\adolescência está articulada com a conscientização crescente das contingências e das obrigações sociais. Para Kraus (2000), as pessoas constroem objetivos, constroem um direcionamento, e daí uma orientação numa perspectiva temporal. O projeto tem por conteúdo as expectativas, as antecipações e os objetivos a serem realizados. A perspectiva de futuro é uma visão geral de um futuro subjetivo. A abertura interior para opções alternativas pode tornar-se, em tempos de crise, uma estratégia identitária de grande valor. Para Abels (2006), a identidade, como atualmente concebida, é o resultado de um passado individual e um ponto de partida de um futuro individual. Para ele, a identidade tem a ver com o que está ainda diante de nós e como queremos nos posicionar diante deste futuro. A identidade é concebida como uma articulação ou estrutura de significados transitória, portanto, aberta e flexível, e simplificada da pessoa; na articulação com processos formativos\educativos, a identidade torna-se motor destes e estes, em contrapartida, influem na construção identitária, num processo de influência recíproca. A identidade não é um dado empírico, mas deixa rastros que podem ser empiricamente percebidos, por exemplo, na narração biográfica, onde trabalhamos com o conceito de identidade narrativa, i.e. perceptível nos processos, transformações e autodesignações discursivamente apresentados na história de vida (ver LUCIUS-HOENNE; DEPPERMANN, 2006; STRAUB; RENN, 2002; KEUPP; HOHL, 2006). As versões sobre o futuro possível dependem do desenvolvimento do sujeito. A experiência simbólica do futuro só é possível para os que, em sua própria dinâmica de atividades, conseguem se transportar para além de sua situação presente. Dito de forma geral, o futuro só se desenvolve na medida em que nós imaginamos um futuro realizável. Isso está também articulado com o que a sociedade nos oferece como perspectivas, e se estas são percebidas como tal e utilizadas na construção do esboço ou projeto. Para entendermos, portanto, estes futuros autorreferenciados temos que encaixá-los no contexto social. Os jovens em situação de múltiplas exclusões pagam o preço da falta de recursos e de uma política social pouco efetiva, o que impede ou obstaculiza a construção de perspectivas de futuro. Exatamente para eles é extremamente significativo transcender reflexivamente o presente, porque o risco da falta de perspectivas é iminente e pode desembocar na exclusão perpétua e suas consequências desastrosas. O esboço de futuro precisa ser dinamizado em projeto, i.e. deverá se tornar uma decisão realizável. Para isso, uma postura em relação ao futuro é necessária: a perspectiva de futuro depende da capacidade de se desprender do presente e de criar uma outra ideia de si mesmo ou, como nas palavras de Sennett (2002), uma outra versão de si mesmo. O futuro necessita do desejo de mudança ligado ao conhecimento sobre a possibilidade de sua realização, o que nos leva à consideração dos recursos. Sem isso não há futuro (KRAUS, 2000). O desejo necessita de uma constituição social, de um nome social, de uma forma social. A perspectiva de futuro é, neste sentido, formatada social e individualmente, é também, mas não apenas, resultado de trabalho individual. ___________ 3. Identidade como projeto. O conceito de projeto remonta ao de imaginação de futuro como um esboço complexo de si mesmo; trata-se de projeções de áreas importantes da vida e da experiência com o trabalho, a família, o círculo de amizades. A ideia de projeto caracteriza uma ação situada no futuro intencionado: o projeto dá uma determinação ao presente e ao passado, dá novas leituras do presente e do passado. Essa imaginação-intenção exige do sujeito um certo grau de autonomia em relação ao envolvimento em conflitos: em que medida essa autonomia é real e qual é a sua amplitude são motivos de avaliação complexa pelo próprio sujeito (auto avaliação). Também os motivos e intenções são avaliados e redimensionados neste processo. Não se trata, portanto, ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 117 116 de um mero objetivo a ser alcançado, mas de se ser capaz de criar para si mesmo uma outra versão de si, baseada na reflexão e nas ponderações sobre as possibilidades de realização. O projeto é desenvolvido sobre o pano de fundo dessa imaginação de futuro, a qual, por sua vez, também é influenciada pelo próprio projeto. No curso da realização, os objetivos, os meios e a relação com o objeto-projeto são continuamente avaliados com referência ao presente, passado biográfico e ao futuro. A reflexão tem por base o valor atual do projeto para si mesmo no presente e sua validade no próprio futuro. Por outro lado, o conceito de projeto de identidade refere-se a algo que ainda não existe e à singularidade do sujeito; o projeto situa-se num horizonte de possibilidades e exclui aquilo que não é desejado. O projeto também minimiza a necessidade permanente de tomada de decisões e reconcilia algumas contradições e experiências de incongruências e incoerências vividas (KRAUS, 2000). A ação é o “ser” do projeto, o qual é materializado através da linguagem como a representação operativa de um futuro possível, e por isso, um ponto de referência discursivo. O conceito de projeto caracteriza a transitoriedade da identidade e a relação entre identidade e futuro. Ele aponta para o desempenho do sujeito, como a capacidade para reflexividade, para orientação, para escolhas e determinações do desejado. Um projeto não obedece nenhuma lógica de desenvolvimento, ao contrário, se trata de um reducionismo, que deve afastar a insegurança e a difusão. Enfim, um projeto de futuro está ligado a um mundo discursivo: o que o indivíduo projeta e como esse projeto é discursivamente constituído se refere sempre a um espaço social de discurso (ver KRAUS, 2000; KEUPP et al. 2008). Na realização do projeto, os recursos materiais e simbólicos são também continuamente reavaliados, tantos os recursos existentes quanto aqueles que ainda precisam ser apropriados para o projeto. 4. Recursos da autoformação Concluir a escolarização e posteriormente buscar e adquirir um emprego são tarefas desenvolvimentais dos\das jovens: para atender a essas exigências sociais e desafios pessoais, eles e elas precisam dispor de diferentes recursos. O conceito de recurso (ressource) foi tratado pelo sociólogo estudioso da medicina, o israelita-americano Aaron Antonovsky 3 nos anos de 1980, no que ele chamou de perspectiva da salutogênese. O termo tem origem no latim, na palavra salus, saúde, bem-estar e do grego genesis, nascimento, surgimento. Saúde, ou bem-estar não é visto como estado, mas como processo. Outros autores trabalham também na perspectiva dos diferentes capitais de Pierre Bourdieu, dos anos 1970. Tanto os recursos como os capitais são os aportes materiais e simbólicos para as ações dos sujeitos na vida social. A perspectiva das teorias salutogenéticas considera a capacidade do sujeito de mobilizar os elementos disponíveis, a ele acessíveis, e aplicá-los na solução de problemas (ver ANTONOVSKY, 1997\1981, FRÖHLICH-GILDHOFF; RÖNAU-BÖSE, 2011, DLUGOSCH 2010). Tanto as instituições, os indivíduos, disposições físicas, disposições subjetivas, como p.ex. força interior, como também bens simbólicos e materiais servem como recursos e podem ser mobilizados pelos sujeitos quando necessários. Os recursos podem ser divididos em sociais e pessoais. Como recursos pessoais podemos citar as capacidades inatas, como compleições corporais e atratividade; a disposição e o potencial de talentos também contam. Os recursos sociais compreendem a rede social e a qualidade dos relacionamentos sociais. Através da utilização de recursos na solução de problemas e na condução da vida cotidiana, os jovens experimentam sua capacidade de poder influenciar uma situação através da sua atuação. A sensação de segurança, de poder supe3 ___________ ver Antonovsky, Aaron. Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: DGVT-Verlag, 1997 e Health, Stress and Coping. London\ San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1981. Estes aportes teóricos vêm sendo amplamente utilizados pelas ciências biomédicas e pelas ciências sociais, dentre elas a pedagogia social. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 118 119 rar situações com as quais não têm familiaridade emerge do fato de já se ter, no passado, aplicado os recursos com sucesso e no presente se poder aplicá-los em combinação com outros recursos disponíveis. Quando esta sensação de segurança não emerge, o sujeito vai tentar evitar os desafios que aparecerem. A esta sensação de segurança Antonovsky chamou de “senso de coerência” (sense of coherence). Hurrelmann e Quenzel (2007) chamaram essa capacidade de auto-efetividade e comentam que uma expectativa realista, entretanto, é o pré-requisito para se poder proceder uma intervenção com sucesso em uma dada situação. A outra noção de recursos refere-se à conceituação de Bourdieu (1998) dos tipos diferentes de capital: o capital econômico, o capital cultural (institucionalizado, incorporado e objetivado) e o capital social. A teoria dos capitais nos coloca diante da distribuição desigual dos recursos no espaço social como um fenômeno socioeconômico. O capital econômico é um recurso estratégico central. Ele abrange todas as posses materais institucionalizadas na forma de propriedade, que podem ser convertidas em dinheiro. Este tipo de capital é estratégico, na medida em que permite a acumulação de outros recursos. O capital social compreende a rede perene de relações institucionalizadas de reconhecimento mútuo. Segundo Keupp at al. (2008) a dimensão do capital social que o sujeito possui depende da amplitude da rede de relações que ele pode mobilizar, como também da amplitude dos outros tipos de capital que os outros da rede possuem, com os quais ele se relaciona. Os indicadores da qualidade dos contatos são: proximidade, ligação, empatia, respeito e entendimento. A posse deste tipo de capital exige investimento constante nas relações, trocas e reconhecimemto mútuo (KEUPP at al., 2008, p. 200-201). O capital cultural pode ser disponibilizado em três formas: institucionalizada, objetivada e incorporada. A forma institucionalizada do capital corresponde aos diplomas e títulos reconhecidos formalmente, cuja posse, via de regra, liberta o detentor de comprovações posteriores do capital cultural de fato adquirido. O capital culutral incorporado, por sua vez, diz respeito às habilidades, posturas, internalizadas, corporificadas pelo sujeito. A incorporação requer tempo e energia, requer exercício e, como tal, é um investimento pessoal do sujeito. Já o capital cultural objetivado é também material, mas exige, para sua apropriação, a mesma energia que o capital culural incorporado. Compreendem os livros, obras de arte, CDs entre outros objetos culturais. Os recursos, quer pensemos como capitais ou como ressourcen, são estruturados, localizados e fixados dentro da sociedade, na qual a origem social e a herança de riqueza ou pobreza dos sujeitos desempenham um papel importante na sua acessibilidade. O mundo social nunca é, portanto, um universo de “possibilidades iguais“ para todos, mas os indivíduos se movimentam dentro de uma área social já estruturada. Bourdieu refere-se às estruturas sociais e os seus mecanismos para manter o status quo, que co-determinam a vida, i.e. co-determinam as possibilidades de inserção dos sujeitos nas diferentes esferas da vida social. Susanne Lang (2007) nos apresenta os recursos subjetivos como um outro tipo de capital (baseada nas discussões de Catherine Delcroix), como uma ampliação da teoria dos capitais de Bourdieu. Para as autoras, os recursos subjetivos são as capacidades morais disponíveis, como coragem e perseverança, mas também a capacidade intelectual para a reflexão, análise e planejamento estratégico, assim como competências psicológicas comunicativas, como, por exemplo, a capacidade de compreender o outro. (LANG, 2007, p. 163). Hurrelmann e Quenzel (2007) também chamam a atenção para o papel da capacidade de improvisação: ela é no mínimo tão importante quanto as aprendizagens rotinizadas, as quais são, possivelmente, pouco provedoras de potencial de adaptação diante de novos desafios. Não podemos compreender esses recursos subjetivos através das condições objetivas e culturais colocadas por Bourdieu, mas eles se mostram como contribuições conceituais importantes, na medida em que podem iluminar as experiências de sucesso de jovens em desvantagem social e condições de ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 120 121 vida precárias, principalmente em questões de aprendizagem e apropriação de conhecimentos ou construção de alternativas. A perspectiva da salutogênese, por sua vez, vem contribuindo para o debate acerca das questões que dizem respeito às relações entre a autoformação do sujeito, suas condições de existência e a mobilização de recursos, sobretudo, os subjetivos. As relações sociais e emocionais (capital social\recurso social) podem funcionar como recursos para estes jovens. Neste sentido, emergem como pontos de apoio em situação de crise: o grupo da mesma faixa etária, os amigos e os outros significativos da família. Ecarius et al. (2011) apontam para o lugar importante da família: ela apoia, aconselha, dá orientações, socializa. Sobretudo as pesquisas empíricas atuais apresentam resultados que mostram a importância dos acontecimentos na família para o desenvolvimento da identidade pessoal do jovem (ECARIUS et al., 2011, p. 73). Como sistema dinâmico, a família é compreendida como lugar da socialização e transmissão das condições sociais e culturais, de formas da vida coletiva e de definição de relações. Entretanto, a família tem, por vezes, um papel ambíguo na biografia dos jovens: de um lado, eles buscam sua autonomia e, desta forma, libertar-se da proteção ou das amarras familiares, mas de outro lado, os pais servem, por vezes, de modelos de superação das situações novas (BÖHNISCH; LENZ; SCHRÖER, 2009). As experiências contraditórias no cotidiano são esclarecidas na família, da mesma forma que a capacidade para uma vida em comum emerge dos confrontos e atritos dentro da família, como instância primária e mediadora dos elementos da cultura abstrata. Os atritos na família propiciam o desenvolvimento e a assimilação de um habitus 4 familiar, o qual se desenvolve, todavia, apenas na separação da família, como recurso biográfico do indivíduo já autônomo (op.cit.). Mudar-se da casa dos pais, como satisfação de uma necessidade cotidiana e subjetiva, é decisivo para o desenvolvimento do jovem; trata-se de uma etapa biográfica central que tem uma função de estabilização no contexto da superação individual de fases da vida (DEINET; ICKING, 2009). A separação dos pais é, portanto, um processo complexo, o qual exige diferentes estratégias, negociações e formas de agir. Segundo Böhnisch; Lenz; Schröer (2009), fala-se em independência dos pais e junto aos pais. Num contexto de dependência material e emocional dos pais, como se encontra a maioria dos jovens pobres, essa separação da família vem sendo postergada. A falta de inserção no mercado de trabalho, o prolongamento da qualificação profissional ou as rupturas no processo de escolarização implicam para os jovens e seus pais uma situação que deverá ser negociada. Os jovens se encontram entre o desejo da libertação dos pais e o desejo ou necessidade de permanecer com eles. Diante das expectativas sociais para com o grupo familiar e diante das mudanças sociais, a família é colocada sob a pressão de ser capaz de se adaptar e zelar pelos seus filhos e filhas, e de garantir para eles e elas condições de desenvolvimento. O entendimento social da família é como lugar de aconchego, amor e segurança dos seus membros, sobretudo de proteção contra ameaças do mundo exterior. Esta imagem está, contudo, por vezes, em contradição com a realidade. A família é também um lugar de relações ambíguas, no qual conflitos difíceis e violência de diversos tipos estão presentes. Violência na família é um fator que exerce forte influência no trabalho identitário dos jovens. Segundo Lamnek et al. (2006), crianças, mulheres e homens são frequentemente mais maltratados por seus entes mais próximos do que por quaisquer outras pessoas: as vítimas mais frequentes são as crianças e a maioria dos atos de violência são cometidos pelos parentes; para esses mesmos autores, a sociedade é mais tolerante com a violência que acontece na família do que em qualquer outro grupo social. Uma outra questão é o 4 Bourdieu (2015) define habitus como um princípio estruturante incorporado pelo sujeito, gerador de práticas sociais e ao mesmo tempo, um sistema de classificação destas práticas; o habitus organiza as práticas e a percepção classificatória destas, ou seja, do próprio mundo social. A incorporação advém da pertença do sujeito a determinada classe social. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 122 123 uso da violência como elemento de educação e socialização familiar, onde ainda existe o entendimento de que a dor física pode ser utilizada como meio de assustar e coibir comportamentos não desejados. Para Braaksma (1995) essa educação desonrosa não pode ser mais aceita: não se pode mais subestimar os efeitos negativos de atos de violência sobre a pessoa e seu desenvolvimento, especialmente sobre a compreensão que tem de si mesmo. Ao lado das pesquisas sobre experiências de violência na infância (ver AZEVEDO; GUERRA, 2011) são também investigados fatores protetivos e estratégias das crianças no lidar com e para a superação de situações adversas, sobretudo as pesquisas na perspectiva da salutogênese. Dlugosch (2010, p. 67) menciona alguns destes fatores: bom desempenho escolar, inteligência, boa saúde, modelos positivos no mundo real ou na ficção, a saúde psicológica da mãe (via de regra, o outro significativo mais presente), e para jovens de faixa etária avançada, um posto de trabalho interessante. A ligação entre mãe e filho\a e a relação com uma pessoa estável de referência funcionam como fatores protetivos e para o desenvolvimento de estratégias de superação na infância. Neste sentido, trabalha-se com o conceito de resiliência, como capacidade de minimizar ou compensar riscos de desenvolvimento, superar influências negativas externas, e de se apropriar de competências que impulsionem o estado saudável (op.cit.). Família é, desta forma, um território multifacetado, que exige uma perspectiva multidimensional para seu tratamento. Ela pode, de um lado contribuir como recurso para o desenvolvimento identitário do jovem, mas pode também, de outro lado, como já mencionado, prejudicar este desenvolvimento. Para se ter uma compreensão destes processos, da constelação estrutural familiar e destas ambivalências, é necessário uma contextualização e sua articulação com processos sociais mais amplos. Ou seja, não estamos aqui separando a família do contexto social e econômico no qual estas dinâmicas familiares acontecem, muito menos podemos negligenciar as formas pelas quais as famílias são afetadas por questões socioestruturais. Na pesquisa sobre jovens e construção de perspectivas é importante observar, todavia, como os aspectos da resolução de conflitos dentro da família são negociados, como o poder é distribuído e exercido, e como as tensões entre os desejos individuais, ambições individuais e orientações familiares são negociadas. Também a rede social fora do ambiente familiar pode ser fator impulsionador da saúde do sujeito, em termos gerais. A escola é para muitas crianças, não apenas refúgio, como também lugar de experiências positivas em relação ao caos familiar, o que também contribui para o desenvolvimento de resiliência. Segundo a perspectiva salutogenética, são recursos de resistência: conhecimento, inteligência, estratégias marcadas pela racionalidade, flexibilidade e pré-visão, identidade, além de recursos macroestruturais de resistência, como estabilidade cultural e religião. Eles ajudam na superação das tensões e situações difíceis, e podem ser ativados e utilizados. Quanto mais destes recursos forem mobilizados, tanto mais conseguir-se-á superar com sucesso os acontecimentos atuais estressantes na vida, ou seja, desenvolver um management (administração) adequado daquelas tensões. A mera existência de recursos ou capitais, entretanto, não é nenhuma garantia para um trabalho identitário bemsucedido, no sentido de uma construção da relação positiva consigo mesmo e de uma perspectiva futura. A questão central aí é como acontece o processo de transferência do recurso para a construção da identidade. Keupp et al. (2008) identificam duas dinâmicas principais: 1. a transformação de um tipo de capital em outro, p.ex. capital social (relações) em recursos materiais e culturais; 2. a transformação de um recurso externo em recurso interno. A rede social (o conjunto de relações) funciona na administração de situações de crise e nela há também um aspecto essencial de fomento identitário, que é a negociação do reconhecimento mútuo. Para estes fins, a rede social funciona como ponto de orientação nas situações de tensões internas e rupturas ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 124 125 externas dando apoio emocional (amor, reconhecimento, sentimento de pertença). Mais importante que a existência de recursos é, todavia, a percepção destes pelos jovens e sua utilização como tal. É na percepção e utilização dos recursos que reside a possibilidade para a realização de esboços de identidade e de projetos de vida. Para Keupp et al. (2008) também a ausência de recursos pode, paradoxalmente, desencadear processos identitários, o que nos leva a corroborar a hipótese de que a existência de muitos recursos em si não é garantia de trabalho identitário “positivo”, mas a percepção e mobilização destes. Dentre os recursos materiais e objetivos, o trabalho adquiriu na minha pesquisa um lugar de proeminência, uma vez que esteve presente em todas as biografias. Com efeito, o trabalho remunerado não é apenas garantia de previdência de bens e de satisfação de necessidades básicas como veremos a seguir. A estagnação do mercado de trabalho atua na contramão deste desenvolvimento: traz insegurança para uma gama de jovens que se encontram na transição escola-mercado de trabalho. Nestas condições permanece para eles o perigo de um longo período de desemprego. Uma vez que os jovens não têm muitas alternativas, acabam aceitando trabalhos em setores de insegurança social, que exigem grande capacidade de improvisação e auto-organização, mas não possibilitam a construção de uma independência material. Os jovens têm que cuidar, eles mesmos, de sua integração, uma vez que não podem contar com um trabalho seguro, mesmo depois da profissionalização. Para aqueles que não têm uma qualificação profissional a situação se agrava, uma vez que não existe, para eles, praticamente nenhuma chance no mercado formal de trabalho. Os jovens sem qualificação profissional se veem na situação de emergência de “pegar o que achar”. Não existe um espaço para experimentações prévias, o que também conduz a inseguranças neste processo de transição. “A transição para a profissão, neste sentido, é mais arriscada do que para as gerações anteriores, ela exige alta competência social organizacional e coloca em desvantagem aqueles que dispõem de pouca capacidade de auto-organização, e só alcançaram níveis baixos de escolarização” (HURRELMANN; QUENZEL, 2007, p. 92). Partindo das condições do mercado de trabalho, podemos entender que estes jovens estão estruturalmente em situação de desvantagem. Sob estas condições encontram-se em situação dramática aqueles que têm uma qualificação insuficiente por conta de rupturas na trajetória da formação ou porque não dispõem de conhecimentos suficientes para uma inserção inicial no mercado formal (por conta de uma alfabetização precária, de analfabetismo funcional). Os jovens em desvantagem social começam a trabalhar muito cedo (na pesquisa encontramos jovens que trabalham desde os treze anos de idade), a maioria em condições de trabalho precárias, sem proteção social, no mercado informal, por vezes em micro negócios de parentes e conhecidos. Para 5. Trabalho remunerado como recurso O trabalho é ainda relevante como fonte de produção de sentido por diferentes razões: é para muitos jovens a única fonte para aquisição de meios materiais de existência, possibilita reconhecimento social, autorrealização e inserção social; o trabalho viabiliza, ainda, esboços de ações e por isso, tem um sentido de instituidor identitário. Neste sentido, a tarefa do sujeito seria realizar, nas condições de trabalho, um direcionamento que vise a ampliação de suas possibilidades de autorrealização. O trabalho significa para o jovem, portanto, a possiblidade de participar efetivamente da vida social. Como oferta de reconhecimento que a sociedade lhe concede, o trabalho abre o acesso aos bens sociais produzidos e serve também como símbolo de distinção, além de possibilitar a realização de esboços e projetos de identidade. O trabalho é a condição essencial para autodeterminação, para a autonomia e independência material. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 126 parte destes jovens a realidade mostra que, mesmo quando a escolarização não tem rupturas, eles enfrentam longos períodos de desemprego. A trajetória da ocupação remunerada não tem para eles uma linearidade do tipo “trabalho informal-formação profissional-trabalho formal“. Apenas alguns deles encontram trabalho depois da conclusão do nível médio. As descontinuidades na escolarização trazem consequências desastrosas para a trajetória de profissionalização; mais difícil ainda é para aqueles que rompem definitivamente a escolarização. Desta forma, muitos jovens em situação de desvantagem social podem acabar formando a “reserva” para atividades criminosas e são eles mesmos que acabam se tornando as vítimas de atos diferenciados de violência, inclusive daqueles cometidos pelos aparelhos de Estado. 6. A construção identitária e de perspectivas de futuro: a qualificação em projetos alternativos à escolarização formal Tantos os jovens que não concluíram a escolarização quanto aqueles que concluíram o nível médio, mas não têm trabalho, se veem na urgência de ampliar suas chances de inserção laboral e social. A existência de projetos sociais de organizações não-governamentais vem contribuindo, desde finais da década de oitenta, com a formação destes, oferecendo possibilidades de profissionalização, inclusive sem custos, através de cursos de curta duração. Mesmo quando as dimensões da qualificação se limita a auxiliares técnicos, estes projetos são vistos como recursos objetivos pelos jovens em desvantagem social que participaram da pesquisa. Nesta perspectiva, entrevistei jovens que frequentavam dois cursos de formação em duas ONGs do Subúrbio Ferroviário de Salvador: um curso de pedreiro auxiliar da construção civil e outro para auxiliar de escritório. Através das narrações das entrevistas procuramos reconstruir como as ações atuais se direcionam para o futuro e como os sujeitos trabalham seus projetos de vida. André, um dos entrevistados, conta: ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação 127 A: com esses com esses aprendizados eu espero que futuramente eu seja o o-, pessoal importante nessa área, não pegue aro-, pegue cargos insuperior-, superior a qualquer outo quero crescer, um pouquinho mais com isso tudo minha-, aí com com teno um bom cargo com bons condições eu eu tente crescer futuramente (entrv. n.7, outubro, 2010) André descreve suas expectativas em relação aos seus esforços de formação: o aprendido é o capital\recurso que poderá ser trocado por uma posição melhor; este se articula com um esboço de identidade “crescer futuramente“, que para ele significa alcançar um patamar profissional superior, tornar-se “pessoal importante“ (sic) na sua área. Suas ideias estão voltadas para o futuro e seu esboço de si mesmo está relacionado a um status elevado através da ampliação da competência profissional. Seu esboço de si traz, portanto, o resultado do seu esforço: crescimento individiual e reconhecimento social através do sucesso profissional. O desenvolvimento de competências tem para ele a função de viabilzar mobilidade social através de chances de ascensão profissional. Em termos gerais, no que diz respeito à construção de esboços e projetos, encontramos nas biografias a conclusão da escolarização do nível médio e “encontrar trabalho“ como aspectos essenciais. Vemos aí uma busca pela continuidade da escolarização que se desenvolve até a profissionalização. Os esboços e projetos apresentados pelos jovens vão desde a construção de uma autonomia profissional em áreas tradicionais de ocupação (negócio próprio, como uma oficina de serralheria, trabalhar por conta própria) até o tornar-se uma força de trabalho flexível, diversificada para empresas de um mercado em constante transformação. Uma formação universitária também foi mencionada. Estes esboços de si e projetos identitários incluem autonomia, desenvolvimento de capacidades intelectuais, sociais e comunicativas, ampliação e diversificação de conhecimento e reconhecimento social. A sua realização exige a mobilização de recursos. Os recursos são meios, que no trabalho identitário cotidiano são percebidos, mobilizados e utilizados pelos jovens entrevistados, como já colocado, que auxiliam e dão suporte ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 128 129 na superação das exigências e desafios sociais. Os recursos subjetivos têm a função principal de servirem como fatores protetivos. Os dados das entrevistas apontam como recursos subjetivos: a) a capacidade de reflexividade - que possibilita a construção renovada de relações socioemocionais e a ponderação sobre a própria vida, quando momentos de tomada de decisões são vivenciados; b) a capacidade de decidir - uma força interior das mais importantes, através da qual o foco recai sobre a própria vida e a retomada da escolarização nesta etapa da vida; c) a auto-atividade – como a capacidade de construir alternativas; d) a capacidade de resistência – que ajuda na superação de crises; e) a disposição para aquisição de competências e novas habilidades – ligadas à apropriação de conhecimentos e informações. Os recursos objetivos mencionados foram: o trabalho formal, a família, como acima exposto, a escola e os projetos sociopedagógicos de profissionalização que eles frequentam. Além do desenvolvimento de habilidades e competências escolares, as instituições de ensino formais e alternativas são percebidas pelos jovens como recursos e têm relevância biográfica: através das relações com os outros significativos nestas instituições, acesso a outros recursos, apropriação de conhecimentos, autotransformação e mudança de aspectos do habitus através da incorporação de um “perfil de trabalhador”, cujo objetivo maior é a realização de um projeto de vida baseado na autonomia material. Os jovens entrevistados se mostram centrados nos objetivos e direcionamentos que estão dando a suas vidas e conseguem, no plano discursivo, articular uma construção de perspectivas de futuro para si. Nas condições de desvantagem social, os recursos subjetivos são pré-requisitos importantes na manutenção da capacidade de ação e da autoefetividade. A ausência ou insuficiência de recursos materiais e de políticas instituídas de apoio fazem daqueles recursos a condição sine qua non da superação de processos importantes: a passagem de status jovem-adulto e a condução, por si próprio, da vida. Os esboços e projetos demonstram o direcionamento da identidade para o futuro, através dos quais os objetivos colocados se mostram alcançáveis, significando um terreno dinâmico de possibilidades. Considerações finais Na pesquisa qualitativa sobre jovens e com jovens, as teorias salutogenéticas e a teoria dos capitais se complementam. Com efeito, ambas vêm se revelando como importantes aportes para a compreensão das trajetórias dos sujeitos, das suas ações individuais e das articulações destas com as estruturas sociais e seus mecanismos de manutenção do status quo. Neste terreno situam-se as questões relativas à continuidade da vida social dos sujeitos, e dentro desta, os processos de formação e autoformação. A autoformação tem implicações sobre a construção identitária e vice-versa. A formação e a identidade necessitam da imaginação de um futuro possível, da tomada de decisões e de que o sujeito se coloque a caminho de um futuro, de que vá ao encontro dos outros. Em situação de precariedade de vida este não é um processo livre de contradições e muitos jovens podem fracassar. Todavia, são esses jovens em situação precária os que mais precisam de se colocar frente a frente consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Neste sentido, podemos compreender que o papel da pedagogia social reside também numa intervenção construtiva neste processo. Seu fazer cotidiano remete ao trabalho com os jovens para a construção de esboços e projetos de si mesmos e na busca de possibilidades de realização. Compreendemos que a educabilidade ou formabilidade não é potência nata, mas é uma resposta dada aos desafios, é um resultado de relações pedagógicas e de expectativas, como também resulta de ofertas e tarefas culturais. Podemos compreender também que as instituições de ensino, tanto as formais quanto as alternativas a estas, têm papel essencial na trajetória dos jovens que se encontram em desvantagem social. Elas podem significar a inclusão e a participação em condições favoráveis na vida social ao proporcionar a apropriação de conhecimento, o desenvol- ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 130 131 vimento de habilidades instrumentais, mas, sobretudo, o desenvolvimento da competência para a ação. Assim sendo, finalizo este artigo colocando a importância e urgência da construção de uma política social de formação de jovens e de possibilidades de inserção adequada no mercado de trabalho para aqueles em situação de desvantagem social, uma vez que a autoformação e uma condução autônoma da vida exigem recursos efetivos (objetivos e subjetivos) e opções sociais elegíveis. DLUGOSCH, S. Mittendrin oder nur dabei? Miterleben häuslicher Gewalt in der Kindheit und seine Folge für die Identitätsentwicklung. Wiesbaden: VS Verlag, 2010. ECARIUS, J. Jugend und Familie. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, 2009. ECARIUS, Jutta Ecarius, J.; Eulenbach, M.; Fuchs, T.; Walgenbach, K. Jugend und Sozialisation. Wiesbaden: VS Verlag, 2011. FRÖHLICH-GILDHOFF, K.; RÖNAU-BÖSE, M. Resilienz. München: Ernst Heinhardt, 2011. HURRELMANN, K.; QUENZEL, G. Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung. Weinheim/München: Juventa, 9.ed., 2007. Referências ABELS, Heinz. Identität. Wiesbaden: GWV Fachverlag, 2006. AZEVEDO, Ma. A.; GUERRA, V. N. de A (orgs.). Infância e violência doméstica: fronteiras do conhecimento. São Paulo: Cortez, 2011. BÖHNISCH, L.; SCHRÖER, W.; LENZ, K. Sozialisation und Bewältigung. Eine Einführung in die Sozialisationstheorie der zweiten Moderne. Weinheim/München: Juventa, 2009. BORGES, A. Os jovens nos anos 90. Desemprego, inclusão tardia e precariedade. In: SEI- Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais. Bahia Análises e Dados vol. 18, n.1 abr/ jun, 2008, p. 157-170. BORGES, A.; KRAYCHETE, E. S. Mercado de trabalho e pobreza: discurso e evidências na trajetória brasileira recente. In: IVO, A.B. L. (org.). Dossiê: Regimes de bem-estar e pobreza. Caderno CRH, vol. 20 Nr. 50 mai/ago, 2007, p. 231-244. BOURDIEU, P. A distinção. Crítica social do julgamento. 2ª. ed. rev. reimpr. Porto Alegre: Zouk, 2015. BOURDIEU, P. Os três estados do capital cultural. ������� In: NOGUEIRA, Ma. A. ; CATANI, A. (orgs.). Pierre Bourdieu. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 71-80. BRAAKSMA, S. Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen: Sozialarbeit im Jugendamt im Spannungsfeld zwischen Elternrecht und Kindeswohl. Münster: Lit Verlag, 1995. DEINET, U.; ICKING, M. Subjektbezogene Dimensionen der Aneignung. In: Deinet, Ulrich (org.): Sozialräumliche Jugendarbeit. Wiesbaden: VS Verlag, 3.ed., 2009, p. 59-74. JOSSO, Ma-C. A transformação de si a partir da narração de histórias de vida. Educação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. KEUPP, H. at al. Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek: Rowohlt, 7.ed., 2008. KEUPP, H.; HOHL, J. Einleitung In: KEUPP, H.; HOHL, J. (orgs.) Subjektdiskurse im gesellschaftlichen Wandel. Zur Theorie des Subjekts in der Spätmoderne. Bielefeld: Transcript, 2006. LAMNEK, S.; LUEDTKE, J.; .OTTERMANN, R. Tatort Familie. Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext. Wiesbaden: VS Verlag, 2.ed., 2006. LANG, S. „Spacing“ als transkulturelle Praxis. Zur Konstitution von Bildungsräumen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. In: WESTPHAL, K (org.) Orte des Lernens. Beiträge zu einer Pädagogik des Raumes. Weinhein/München: Juventa, 2007, p.161-172. LUCIUS-HOENE, G.; DEPPERMANN, A. Rekonstruktion narrativer Identität. 2.ed. Wiesbaden: VS Verlag, 2006. SENNETT, R. Respeito. A formação do caráter em um mundo desigual. Rio de Janeiro: Record, 2004. STRAUB, J.; RENN, J. Transitorische Identität. In: Straub, Jürgen; Renn, Joachim (orgs.) Transitorische Identität. Der Prozesscharakter des modernen Selbst. Frankfurt a. M.: Campus, 2002, p. 10-31. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Jovens em desvantagem social e a autoformação Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA)1 Gleidson Sena Dias2 Nacelice Barbosa Freitas3 SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Importância do município de Cachoeira na ocupação do território baiano e brasileiro 3. Formação territorial de Cachoeira 4. Disputas territoriais: nativos versus portugueses 5. Formação dos Aspectos Sociodemográficos de Cachoeira 6. Considerações Conclusivas 7. Referências 1. Introdução A formação territorial e econômica brasileira tem sua gênese no território baiano, principalmente no atual município de Cachoeira. Destarte, analisar e entender a formação territorial de Cachoeira é aprofundar os conhecimentos acerca da ocupação das terras da Bahia que se encontravam mais afastadas do litoral, tendo em vista que a conexão e o acesso entre este e o sertão era feita por meio do transporte marítimo realizado através do rio Paraguaçu. Invadir e ocupar terras significa expansão do território, que é caracterizado por e a partir das relações de poder. Com esse entendimento os invasores portugueses investiram forças e recursos na efetivação da ocupação das terras indígenas no Recôncavo baiano, 1 Texto retirado da dissertação de mestrado “Alijados da Terra: (des)territorialização e (des)caminhos da Comunidade Quilombola de Santiago do Iguape em Cachoeira-BA” defendida no Programa de Mestrado Profissional em Planejamento Territorial da Universidade Estadual de Feira de Santana em 2017. 2 Licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e Mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Planejamento Territorial (PLANTERR) da mesma instituição. E-mail: gleidsoncachoeira@hotmail. com 3 Profª. Drª. do curso de Geografia da Universidade Estadual de Feira de Santana e do Programa de Mestrado Profissional em Planejamento Territorial (PLANTERR- UEFS). E-mail: nacegeografic@hotmail.com ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 134 135 pois era um grande passo no processo de expansão territorial lusitana. Para isso utilizaram os rios como via de acesso, a exemplo do Paraguaçu, que ligava o litoral até a antiga Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, tendo em vista que a vila apresentava rotas de acesso para terras localizadas no interior do continente. As plantações de cana-de açúcar, com a presença de numerosos engenhos que proporcionavam a produção do açúcar (valorizado no mercado internacional), eram a força motriz da economia do Brasil nos primeiros séculos da ocupação lusitana, e projetou Cachoeira como um importante centro econômico e entreposto para o comércio do Brasil colônia. Nesse sentido, este texto discute a formação territorial, econômica e populacional do município de Cachoeira no Recôncavo Baiano, demonstrando a sua importância na formação do território e na economia do Brasil nos primeiros séculos de ocupação portuguesa. Brejo, Cabonha, Capoeiruçu, Calembá, Caonge, Calolé, Caibongo, Campinas, Carapinha, Desterro, Dendê, Engenho Velho da Ponte, Faleira, Fazenda Bastos, Formiga, Granja, Guaíba, Imbiara de Cima, Imbiara de Baixo, Maria Preta, Moinho, Murutuba, Opalma, Pinguela, Povoado de Alves, Rio do Corte, Saco, São Francisco do Paraguaçu, Tupim, Tibiri, Terra Vermelha, Tabuleiro da Vitória, e Tombo. O município é tangenciado pela BR-101, que em Conceição da Feira cruza com a BA-502, conectando-se à Feira de Santana, e BR-324, que permite o acesso a Salvador. A BA-420, no sentido leste, permite a circulação entre Cachoeira e Santo Amaro, e, no sentido oeste, com São Felix. MAPA 1 – LOCALIZAÇÃO DE CACHOEIRA NO RECÔNCAVO 2. Importância do município de Cachoeira na ocupação do território baiano e brasileiro O Recôncavo situa-se na Baía de Todos os Santos, e recebe esse nome devido ao seu formato côncavo, que ocupa um raio de aproximadamente 100km. Durante o Brasil colônia foi área de intensa movimentação econômica, pois abrigava importantes engenhos, que tinham vultuosas produções de açúcar. Os municípios que estão em sua área de abrangência compõem o Território de Identidade Recôncavo Baiano, uma unidade de planejamento da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), formada por: Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Felix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara, Varzedo.(MAPA 1). Cachoeira localiza-se no Recôncavo, na parte leste do Estado da Bahia, a 110km, em distância rodoviária, de Salvador e aproximadamente 66km em linha reta. É formada por dois distritos - Santiago do Iguape e Belém de Cachoeira - e 36 povoados: Alecrim, Alto do Camelo, Boa Vista, ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) Fundada em 1531, Cachoeira abrange uma área de aproximadamente 395,223 km², situada a uma altitude média de 38m, na Zona da Mata; integra a Mesorregião Geográfica Metropolitana de Salvador e a Microrregião Geográfica de Santo Antônio de Jesus; limita-se com São Gonçalo dos Campos e Conceição ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 136 da Feira ao norte, com Governador Mangabeira a noroeste, com Muritiba e São Felix ao oeste, com Maragogipe e Saubara ao sul e ao sudoeste, e com Santo Amaro ao leste. A noroeste, encontra-se o Lago de Pedra do Cavalo, e em toda porção oeste, sudoeste e sul é banhada pelo rio Paraguaçu, que tem foz a aproximadamente 45 km de distância dos limites territoriais do município. Sobre a importância do rio Paraguaçu, Freitas (2013, p. 75) afirma que o “Paraguaçu se destacava como via de penetração e escoamento da produção. Foi intensamente utilizado pelos latifundiários do gado e do açúcar, como ligação entre o local da produção ao porto da cidade do Salvador”. Além disso, se caracterizava por fornecer alimentos para as populações, pois contava com significativa quantidade de pescados e mariscos, além de oferecer a possibilidade de utilização da água para irrigar as pequenas lavouras de subsistência. O mar grande que corta o território no sentido oeste-leste, oferecia condições privilegiadas para a exploração e ocupação das terras do sertão. Neves (2008, p.13) afirma que: Suas águas abrem caminho desde o sertão até o litoral, servindo de divisor das terras do Recôncavo e as dos sertões, que passaram a ser identificadas como sertão de Baixo – as terras localizadas abaixo da margem do Paraguaçu – e o de Cima – ao norte do mesmo rio. Vale ressaltar que, com a construção da Barragem e Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, houve a redução do fluxo de água doce no trecho do Rio Paraguaçu entre Cachoeira e a foz, fazendo com o que a calha do rio fosse invadida em sua totalidade pela água salgada do mar, transformando o rio Paraguaçu em um rio de água salgada, o que ocasionou diversos impactos ambientais, que serão discutidos em outra oportunidade. Entre os séculos XVII e XIX, era possível se deslocar do porto da Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira para diferentes destinos no continente, pois os caminhos, que se iniciavam em Cachoeira, permitiam aos exploradores e viajantes opções de acesso que outras vilas não ofereciam. A esse respeito, Vilhena (1969, p.483) expõe que: Saem da vila da Cachoeira diferentes estradas, o que concorre muito para fazê-la famosa, pois que de tôdas as minas, e sertões se vem dar àquele pôrto; há muitos pastos em que se refazem as 137 cavalgaduras, que pisam aquelas estradas, e os viajantes ali vão deixar uma grande parte do seu dinheiro. A estrada que sai por S. Pedro da Muritiba estende-se até Minas Novas, Rio de Contas, Sêrro do Frio, e todas as minas gerais, até que circulando vai sair ao Rio de Janeiro; sai outra que passando pela de Água Fria, passa às minas de Jacobina, corta parte do Piauí, e conduz até o Maranhão; e além destas saem outras de menos conta, e menor distância. A importância da Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira não residia apenas no fato de ser o último ponto de parada das embarcações que velejavam da Baía de Todos os Santos rumo ao sertão, pelo rio Paraguaçu, mas também, entre outros fatores, a existência de estradas e pastagens, que favoreciam o descanso dos animais, o que também possibilitou a formação de pequenas feiras para a comercialização de mercadorias, principalmente entre os séculos XVII e XIX. A foto 10 remonta o período áureo da navegação do rio Paraguaçu, ao retratar a chagada do Navio da Companhia de Navegação Baiana que realizava a travessia entre o porto de Salvador e o cais de Cachoeira, e a intensa circulação de pessoas que constantemente se deslocavam entre o sertão e o litoral. Cachoeira é um município conhecido nacionalmente devido à importante participação na luta pela independência da Bahia e do Brasil, onde, no dia 25 de junho de 1822, deu-se início a batalha contra as tropas portuguesas que durou três dias, com embarcações ancoradas no rio Paraguaçu e canhoneiras voltadas para a região da atual praça 25 de junho. Por desconhecerem a dinâmica da maré, que adentrava a calha do rio na maré baixa, os navios lusitanos encalharam e as canhoneiras perderam seus alvos, ficando vulneráveis aos ataques das tropas de Cachoeira. Esse fator foi preponderante para a vitória dos Cachoeiranos. Após as lutas, a sede do Governo foi transferida para o município, por meio da constituição do Conselho Interino de Governo, que substituía a Junta Militar de Governo, localizada na capital baiana e sob o domínio português. Em decorrência desse fato histórico, foi denominada pela lei nº 43, de 13 de março de 1837, de heroica cidade de Cachoeira. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 138 A Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira foi criada em 1674, elevada à condição de Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira do Paraguaçu em 1698, e em 13 de março de 1837 passa à categoria de cidade, por meio da Lei Provincial Nº 44/1837, com o nome de Cachoeira. Devido ao valioso conjunto arquitetônico, com casarios e Igrejas do estilo Barroco, estruturas que se assemelham ao Pelourinho em Salvador e Ouro Preto em Minas Gerais, foi reconhecida e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como Cidade Monumento Nacional. Em 2007, é promulgada a Lei Estadual nº10 695/07, que institui o município como a capital da Bahia em todo 25 de junho, data em que a sede do governo e os atos administrativos do Estado são deslocados para o município em reconhecimento da importância do mesmo na luta pela independência. CACHOEIRA: FORMAÇÃO TERRITORIAL (QUADRO 1) ANO SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA 1674 Elevação a Freguesia de Nossa Senhora do Rosário 1698 Elevação a condição de Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira do Paraguaçu 25 de junho de 1822 Sede do Governo Provisório do Brasil durante a guerra da Independência 13 de março de 1837 A vila foi elevada à categoria de cidade de Cachoeira pelo decreto imperial (Lei Provincial 44); Sede do Governo Provisório do Brasil pela segunda vez, durante o levante da Sabinada; denominada pela lei nº 43, de 13 de março de 1837 como Heroica Cidade de Cachoeira. 1971 Considerada Cidade Monumento Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional (IPHAN) 2007 Lei Estadual nº10 695/07instituí o município como a capital da Bahia todo os dias 25 de junho Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico. Elaboração: DIAS, Gleidson Sena. No percurso da formação territorial, Cachoeira perdeu parte significativa do território, dando origem a outros municípios, perdendo população e, consequentemente, a sua importância socioeconômica no Estado. 139 3. Formação territorial de Cachoeira Analisar a formação territorial de Cachoeira requer um passeio pelos tempos de outrora, aqueles da chegada dos portugueses trazidos pelas naus que flutuavam sobre o oceano, que refletia o azul do céu. Embarcações que deslizavam sobre aquela imensidão, cujas lendas assustavam até os guerreiros mais valentes, e assim chegaram à terra desconhecida, embora o Tratado de Tordesilhas, de 07 de junho de 1494, já determinasse a posse entre Portugal e Espanha das terras habitadas pelos povos pré-cabralinos, denominados de índios pelos colonizadores Em 1500 aportaram em Porto Seguro. O português Manuel Pinheiro, em missão exploratória no litoral, no sentido sul-norte, deparou-se com o encontro entre as águas do rio Paraguaçu e Oceano Atlântico, uma baía, que viria a ser denominada de Todos os Santos. Ao velejar até seu interior notou a existência de uma via de acesso para a parte mais interna das novas terras, denominada pelos nativos de rio Paraguaçu ou Peruaçu (VILHENA, 1969). Durante o processo de chegada, reconhecimento e exploração, o contato dos portugueses com os povos Tupinambás, que habitavam as terras que se estendiam desde o litoral de Sergipe até Ilhéus, foi pacífico, devido a influência de Diogo Alvares, Caramuru. Eles estabeleceram com os povos nativos relações de trocas de mercadorias sem a utilização de moeda, escambo de madeiras, alimentos e mão de obra por roupas e ferramentas. No entanto, com a tentativa de escravização das populações indígenas, houve resistência e o contato, antes pacífico, passou a ser permeado por diversos conflitos, como analisa Freitas (2013, p. 69) ao descrever a “chegada ao litoral que combina violência, força e destruição como instrumentos estruturantes do poder condizente com o delineamento das novas fronteiras e limites”. O choque entre os dois povos desenhava-se no território como disputa pela territorialidade, pois de acordo com Sack (1986, p. 2-3) A Territorialidade nos humanos supostamente ser um controle sobre uma área ou espaço que deve ser concebida e comunicada (...). A Territorialidade nos humanos é melhor entendida como uma estratégia espacial para afetar, influenciar ou controlar fontes e pessoas, controlando área; e, como uma estratégia, a Territorialidade pode ser ligada e desligada. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 140 141 Na disputa pela manutenção do controle e da posse do território, em diversos momentos, os nativos sacaram arcos e flechas, partindo para o enfrentamento contra os invasores que responderam com seus paus cuspidores de fogo movido à pólvora. Não obstante, a recusa à subjugação aos mandos e desmandes dos invasores, levou ao quase extermínio da população que habitava as terras, desativando, mesmo que parcialmente, a territorialidade dos nativos. Com a posse territorial e na busca por defender, explorar e ocupar efetivamente as novas terras, a coroa portuguesa optou por dividi-la em capitanias hereditárias, faixas territoriais que se estendiam latitudinalmente do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. A Bahia foi dividida em cinco capitanias, a saber: Porto Seguro, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Itaparica e Paraguaçu (FONSECA, 2006). O atual território de Cachoeira situa-se na área que correspondia a Capitania do Paraguaçu; em 1553, esta foi doada a D. Álvaro da Costa, filho de D. Duarte da Costa, segundo Governador Geral do Brasil. Ao tomar posse das terras, D. Álvaro repartiu-a em sesmarias, cabendo a porção territorial que hoje corresponde a Cachoeira, ao genovês Paulo Dias Adorno (FREITAS, 2013). Para empreender a colonização e a ocupação do território, o genovês fixou residência nas mediações dos riachos Caquende e Pitanga, local onde funda seu engenho, pois as condições pedoclimáticas eram propícias para cultivo da cana-de-açúcar. Ergue na nova terra um dos maiores símbolos da dominação portuguesa, uma das marcas do catolicismo, a atual Capela de Nossa Senhora D’Ajuda, antes denominada Capela de Nossa Senhora do Rosário. A Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira desempenhou papel primaz no processo de ocupação do interior da Bahia e do Brasil, servindo de elo, e entreposto, entre a primeira capital da Colônia Salvador e as terras à oeste do litoral, ou como denomina Freitas (2013, p. 69), “terras d’além Paraguaçu”. Tal importância deve-se ao fato da vila localizar-se à margem esquerda do rio Paraguaçu, fundamental para a circulação fluvial, permitindo que as embarcações adentrassem o território para além do litoral e, de acordo com Freitas (2013, p. 69) o povoamento da Bahia se deu “espraiando-se em direção aos rios mais próximos do litoral e em direção ao interior”. É imperativo salientar que, nos primeiros séculos de ocupação, o transporte hidroviário se constituía em importante forma de transportar mercadorias, mantimentos e pessoas. É nessa conjuntura que se processa o início da formação territorial de Cachoeira. A criação da Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira se dá em meio a empecilhos que dificultavam a administração da Colônia, dentre eles as ameaças constantes dos holandeses, que já se faziam presentes em algumas partes do território, a exemplo de Pernambuco. Soma-se a isso a busca por formas viáveis e eficazes que pudessem garantir a posse da terra já conquistada, para então continuar o processo de exploração pelas matas que escondiam tesouros, mas ao mesmo tempo dificultavam o acesso ao interior. No século XVII, o então governador geral D. João de Lencastro ordena, por meio de Carta Régia, a criação de vilas e povoados. Segundo Fonseca (2006, p. 209) Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino ___________ Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) No século XVII, foi grande o esforço da Coroa Portuguesa para ocupar o território, ao assumir novas direções para o sertão e para o sul, no que foi prejudicada, inicialmente, pela invasão holandesa, em 1624. (...) buscando atender às necessidades de povoamento das terras, D. João de Lencastro, o trigésimo segundo governador, em carta régia datada de 1693, ordenou a criação de vilas e povoados. Como consequência dessa medida foi criada a Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, em 29 de janeiro de 1698. O atual município de Cachoeira se estendia por uma área que hoje corresponde a aproximadamente 35 municípios do Estado da Bahia, a exemplo de São Felix, Feira de Santana, Baixa Grande e São Gonçalo dos Campos. Os limites, segundo Fonseca (2006) iam desde o rio Subaúma até o rio Inhambupe, perpassando pela praia até o rio Real. Os marcos limítrofes podem ser desenhados atualmente da seguinte forma: os rios Subaúma e Ihambupe localizam-se próximo à Entre Rios, Esplanada e Cardeal da Silva; o rio Real faz divisa entre os Estados de Sergipe e a Bahia nas intermediações de Ribeira do Amparo, Itapicuru e Rio Real. No processo desmembramento territorial, a Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira tem as terras partilhadas, dando origem a 27 novos municípios baianos. Observa-se que a ___________ Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 142 143 primeira freguesia a ser desmembrada da então Vila foi Feira de Santana, em 1833, seguida pela Vila de Curralinho – atual Castro Alves – em 1880, depois por São Gonçalo dos Campos da Cachoeira em 1884 e São Felix em 1889. Na primeira metade do século XX, especificamente no ano de 1921, ocorre a separação de Santo Estevão do Jacuípe, atual município de Santo Estevão, e em 1926 deu-se o desmembramento do município de Conceição da Feira. O territorio da Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira deu origem, além dos seis municipios mencionados, a mais outros vinte e um: Ipecaetá, Muritiba, Cabaceiras do Paraguaçu, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, Sapeaçu, Antonio Cardoso, Rafael Jambeiro, Santa Barbara, Anguera Tanquinho, Ipirá, Pintadas, Serra Preta, Baixa Grande, Macajuba, Itaberaba, Boa Vista do Tupim, Ibiquera, Ruy Barbosa e Lajedinho. Com o processo de esfacelamento territorial, Cachoeira aos poucos vai perdendo sua hegemonia territorial. No limiar desse processo, freguesias como a de Santana dos Olhos d’Água (1833), atual Feira de Santana, surgem e passam a assumir funções que outrora eram exercida por Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, decorrente, dentro outros fatores, da importância das feiras de gado (FREITAS, 2013). Com a diminuição do tamanho territorial, o município de Cachoeira atualmente goza da memória do seu passado glorioso que emergiu em longo período de recessão, até a estagnação econômica (segunda metade do século XX até início do século XXI). A perda de parte do território de Cachoeira tem a sua gênese não apenas no fato já mencionando, mas também no declínio das lavouras de cana-de-açúcar e de fumo, que movimentavam a economia do Recôncavo. Outro aspecto responsável pelo processo é a evolução dos meios de transporte na segunda metade do século XIX, e a formação de novos centros regionais, em decorrência da importância econômica, como Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista. A esse respeito, Santos (1998, p. 85) escreve que “Cachoeira e Santo Amaro, portos debruçados sobre a água, viam restringir-se sua zona de influência e desciam da posição de capital regional para a de centro local”. Não há como dissociar as modificações territoriais das urbanas que ocorreram no município, em que as velhas estruturas econômicas – casarios coloniais, que a priori foram construídos para desempenharem funções relacionadas à importância que a cidade exercia no âmbito regional e nacional – passam a desempenhar novos papéis, adequando-se às novas necessidades do espaço urbano, como afirma Santos (2008, p. 74/75) “Uma vez criada e usada na execução da função que lhe foi designada, a forma frequentemente permanece aguardando o próximo movimento dinâmico da sociedade, quando terá a probabilidade de ser chamada a cumprir uma nova função”. Diante destas mudanças, Henrique (2009, p. 2), fazendo uma releitura dos escritos de Milton Santos, salienta que “lugares sofrem com adaptações, desaparecimento ou diminuição das atividades chamadas ‘tradicionais’, devido à quebra de seu papel central”, ou seja, o espaço onde está localizada a cidade de Cachoeira sofreu um forte e perverso processo de recessão econômica, principalmente a partir da metade do século passado, o que pode ser constatado através de observações das velhas estruturas. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) 4. Disputas territoriais: nativos versus portugueses Ao fazer a divisão das terras e ilhas localizadas a ocidente, mais especificamente no hemisfério sul, achadas ou por achar, entre a coroa espanhola e portuguesa, a igreja católica desconsiderou/ negligenciou a possibilidade de já as encontrar habitadas. Dessa forma, as investidas das expansões territoriais alcançadas pelos portugueses implicavam na possibilidade de aumento do poder papal, através da conversão dos subjugados ao catolicismo, pois o denominado descobrimento/invasão do Brasil foi a última grande Cruzada de Portugal. Pesquisas mostram que a população que existia nas Américas era maior que a do continente europeu. A esse respeito, Santos (2010, p. 41) escreve que: Os estudos contemporâneos de história, antropologia e etnologia têm posto à prova muitas das certezas de que se cercou a abordagem convencional da América pré-conquista. Uma primeira e surpreendente constatação é a de que em 1492 o continente seria mais populoso do que a Europa, assim considerado o espaço compreendido entre o Atlântico Norte e os Urais. Pesquisas recentes indicam que a população das três Américas seria, no final do século XV, de 60 a 100 milhões, dos quais 8,5 milhões estariam Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 144 145 nas terras baixas da América do Sul. No mesmo momento, a população europeia estaria entre 60 e 80 milhões de pessoas. Analisando a Bula Inter Coetera conjuntamente com as afirmações supra, é possível inferir que a igreja e os colonizadores detinham conhecimento acerca do chamado Novo Mundo e das populações que aqui habitavam, ratificando a assertiva acerca do processo de negligenciamento para com os povos que viviam nessas terras. Destarte, observando a história da ocupação portuguesa do território brasileiro, nota-se que foi, deveras, sangrenta e dizimadora. A busca por ocupar novos espaços, culmina com a expansão territorial, que significa aumento do poder Estado. A esse respeito, Freitas (2013, p. 56), baseando-se nos escritos Ratzel, discorre que a “base da formação do Estado (...) ao ampliar os seus limites, não se expande apenas territorialmente, mas igualmente a sua força, riqueza e poder e, enfim, a sua permanência e existência”. Nessa perspectiva, observa-se que, no início da segunda metade do século XVII, mais precisamente entre os anos de 1651 e 1656, houve várias guerras (disputas territoriais) entre portugueses e índios da etnia tapuias. Os nativos, que resistiram às incursões e investidas usurpadoras de domínio e expansão territorial em prol dos interesses capitalista mercantilista, eram vistos como empecilhos, ameaça a ser neutralizada. Santos (2010, p. 67), tomando como referência as explicações de Sierra, ratifica a questão quando explica: Lugares como Cairu, Camamu, Ilhéus, Jaguaripe e Cachoeira eram indispensáveis no abastecimento alimentar e no provimento de materiais, tais como lenha, formas, tijolos, telhas e caixões, para o funcionamento de engenhos. (...) Os ataques indígenas tinham tido o “efeito que pôs a contingência de pararem os engenhos e, parados eles, cessava o comércio e com eles, os pagamentos, crescendo a fome em público e geral dano”. As investidas indígenas, portanto, não só provocavam danos civis à população afetada, aspecto que é comumente mais ressaltado nos documentos oficiais, mas tinham também forte impacto econômico sobre o núcleo do sistema produtivo colonial. Ao dominar a população nativa, seja por força ou utilizandose de outros meios como a catequização, os invasores introduziram a língua, a cultura, ou seja, passam a exercer poder sobre o povo, e consecutivamente sobre território. Nessa perspectiva, de acordo com Haesbaert (1997, p. 42) O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar [e político-econômico] a apropriação e ordenação de espaços como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos. A introdução de outros símbolos religiosos, de outra cultura e de outra língua eram, e ainda são, formas de dominação territorial, pois é parte do processo de destituição identitária de um povo, ou seja, o processo de (des)territorialização faz parte da estratégia de dominação do invasor. Santos (2010), fazendo uma releitura dos escritos de Hemming, critica o silenciamento, a tentativa de apagar da história os registros que faziam referência às lutas contadas pelos indígenas. Havia e há uma intencionalidade em não registrar a história de luta desse povo, em transformá-los em povos sem história, subjugados aos colonizadores, que introduziram sua língua, cultura, leis e costumes. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) 5. Formação dos Aspectos Sociodemográficos de Cachoeira No que concerne ao contingente populacional do município de Cachoeira, baseando-se nos dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010), o município conta com uma população de 32.026 mil habitantes, e densidade demográfica de 81,3 hab/km², com taxa de urbanização de 51,2%. Comparando a população de Cachoeira com a população dos demais municípios do Estado, a mesma ocupa a 81ª posição no ranking populacional (IBGE – 2010). Na tabela 1 estão dispostos dados sobre população total, urbana, rural, taxa de urbanização e de crescimento da população de Cachoeira entre 1872 até 2010. Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 146 147 TABELA 1 - CACHOEIRA: POPULAÇÃO TOTAL, URBANA, RURAL, TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA (1872-2010) cesso de desmembramento do seu território, que acontece entre o século XIX e a primeira metade do século XX, com perdas territoriais que deram origem a outros municípios (como já foi discutido no tópico anterior), refletindo diretamente na variação populacional do mesmo, impondo uma redução de aproximadamente 37% do número de habitantes de Cachoeira no decurso de 68 anos. A taxa de urbanização, que em 1920 era de 16,70%, passa para 57,68 em 1950: um aumento de 40,98% no decurso de 30 anos. É preciso considerar que nesse período houve o desmembramento dos atuais municípios de Santo Estevão e Conceição da Feira. Em 1960, a taxa de urbanização começa a diminuir alcançando o nível mais baixo na década de 1980, com 49.24%, voltando a aumentar em 1991 para 50,20%. Em 2001, a variação é de 1,80%, passando de 50,20% para 52%, no entanto em 2010 apresenta uma leve queda, de 52% para 51,20%. Comparando os dados referentes ao crescimento populacional do Brasil com Bahia e Cachoeira, percebe-se que há uma progressão no número de habitantes em nível nacional, pois em 1872 o Brasil conta com 9.930.478 de habitantes, já em 1892 a população era de 14.333.915 de pessoas, enquanto na década de 1900 esse número passa para 17.438.434. No ano de 1920 o país conta com 30.635.605, em 1940 a população era de 41.236.315, em 1960 o contingente populacional passa para 70.992.343. Já na década de 1980 os números alcançam as cifras de 121.150.573, enquanto que em 2000 chega a 169.590.693, e em 2010 vai para 190.755.799 de habitantes. POPULAÇÃO RESIDENTE ANO TOTAL URBANA RURAL TAXA DE URBANIZAÇÃO % TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA 1872 72.834 - - - - 1892 - - - - - 1900 45.199 - - - - 1920* 50.370 8.414 41.956 16,70 - 1940 26.966 15.355 11.611 56,94 3,05 1950 26.979 15.562 11.417 57,68 0,13 1960 28.869 16.225 12.644 56,20 0,42 1970 27.382 13.613 13.769 49,72 -1,74 1980 27.946 13.762 14.184 49,24 0.11 1991 28.290 14.193 14.097 50,20 0.28 2000 30.416 15.831 14.585 52,00 1.22 2010 32.026 16.387 15.639 51,20 0.25 Fonte: Censos Demográficos do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – 1872 a 2010). Elaboração DIAS, Gleidson Sena. Quanto ao crescimento da população total é possível notar que no decorrer de 28 anos (1872-1900) o município apresenta decréscimo de aproximadamente 38% no número de habitantes. Durante as décadas compreendidas ente 1900 e 1920 houve aumento populacional de 11,44%, já no período seguinte, entre 1920 e 1940, apresenta redução de 46,46%. Entre 1940 a 1950 o decréscimo no número de habitantes é inferior a 1%, e no período de 1950 e 1960 a população cresceu aproximadamente 6,7%. Entre 1960 e 1970, a diminuição do contingente populacional é de 5,1%. No período que corresponde as décadas de 1970 a 1980 e 1980 a 1991, observa-se um aumento de 2% do tamanho da população. De 1991 a 2001 o crescimento chega a 7,5%, enquanto no período de 2001 a 2010 a população apresenta aumento de 5,2%. A variação observada no tamanho da população total de Cachoeira no decorrer de 68 anos___________ (1827-1940) é explicada pelo proPerspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) TABELA 2– BRASIL, BAHIA, CACHOEIRA: POPULAÇÃO TOTAL, 1872-2010 POPULAÇÃO TOTAL ANOS BRASIL BAHIA CACHOEIRA 1872 9.930.478 1.379.616 72.834 1892 14.333.915 1.919.802 - 1900 17.438.434 2.117.956 45.199 1920 30.635.605 3.334.465 50.370 1940 41.236.315 3.918.112 26.966 1950 51.944.397 4.834.575 26.979 1960 70.992.343 5.990.605 28.869 ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 149 148 BRASIL BAHIA CACHOEIRA 1970 94.508.583 7.583.140 27.382 1980 121.150.573 9.597.393 27.946 1991 146.917.459 11.855.157 28.290 2000 169.590.693 13.066.910 30.416 2010 190.755.799 14.016.906 32.026 Fonte: Censos Demográficos do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – 1872 a 2010). Elaboração DIAS, Gleidson Sena Na escala estadual, observa-se que em 1872 a população era de 1.379.616 de habitantes, em 1892 esse número corresponde a 1.919.802, no ano de 1900 passa a 2.117.956, e na década de 1920 esse quantitativo alcança 3.334.465 de pessoas, enquanto em 1940 a população era de 3.918.112, e em 1960, 5.990.605. Na década de 1980 observa-se que o número de habitantes chega a 9.597.393, enquanto que em 2000 a população era de 13.066.910, e no censo demográfico do IBGE de 2010 esse quantitativo apresenta 14.016.960 pessoas. A análise dos dados municipais mostra que em 1872 o primeiro censo contabilizou 72.834 habitantes, enquanto que em 1900 esse contingente decai para 45.199. Em 1920 observa-se que a população é 50.370 habitantes, em 1940 o número de pessoas corresponde a 26.966, em 1960 tem- se 28.869 habitantes, já 1980 apresenta contingente população é de 27.946, enquanto em 2000 chega a 30.416, e em 2010 esse número compreende 32.026 habitantes. Comparando os dados da escala municipal com os da nacional e estadual observa-se que, enquanto a população em nível nacional e estadual apresenta crescimento progressivo ao longo do tempo, a população de Cachoeira apresenta períodos de evolução e regressão no contingente populacional. A leitura dos dados da tabela 3 e gráfico 1 permite afirmar que a taxa de urbanização em nível nacional em 1940 era de 31,24%, passando para 45,08% em 1960, já em 1980 apresenta taxa de 67,70%. Na década de 2000 esse índice alcança 81,23%, e em 2010 chega até a 84,36%. Na escala estadual, em 1940 a taxa era de 23,93%, em 1960 era de 34,78%, enquanto que em 1980 chegou a 49,44%. Na ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) década de 2000 a taxa alcançou 67,05%, e em 2010, 72,07%. Quanto ao município de Cachoeira, observa-se que em 1940 a taxa de urbanização era de 56,94%, ao passo que em 1960 foi para 56,20% e em 1980 era de 49.24%. No entanto os dados do censo demográfico de 2000 demonstram a taxa de urbanização de 52.0% enquanto em 2010 apresentou cifras iguais a 51.2%. Nota-se que as taxas do município apresentam decréscimo ao longo dos anos, enquanto no Estado da Bahia e no Brasil o movimento é inverso, elas aumentam progressivamente. GRÁFICO 1- EVOLUÇÃO DA TAXA DE URBANIZAÇÃO DO BRASIL, BAHIA E CACHOEIRA – 1940-2010 TAXA DE URBANIZAÇÃO % ANOS 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1940 ANO 1950 1960 1970 1980 TAXA DE URBANIZA TAXA DE URBANIZA TAXA DE URBANIZA 1990 2000 2010 2020 O BRASIL ANO O BAHIA ANO O CACHOEIRA ANO Fonte: Elaboração DIAS, Gleidson Sena. A taxa de crescimento da população urbana brasileira em 1950 corresponde a 3,47%, em 1960 esse número passa para 5,85%, na década de 1980 esse valor alcança 4,48%. Os dados do censo demográfico de 2000 indicam que há um decréscimo em termos percentuais para 2,44%, e em 2010 a taxa situa-se em torno de 1,57%. Os números referentes ao estado da Bahia indicam que em 1950 foi de 3,68%, enquanto em 1960 corresponde a 4,47%, em 1980 esse valor compreende 4,21%. Na década de 2000, a taxa de crescimento da população urbana apresentou valor igual a 2,51%, ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 150 151 e em 2010 1,43%. No que concerne ao município de Cachoeira, observa-se que em 1950 é igual a 0,13%, em 1960 o número atinge as cifras de 0,42%, em 1980 esse valor é igual a 0,11%, no ano de 2000 temse 1,22% e em 2010 os dados indicam 0,25%. (GRÁFICO 2). nativa que habitava aquela porção do espaço. Nesse sentido, a gênese da formação e expansão do território de Cachoeira encontra-se intrinsecamente atrelada ao processo de invasão portuguesa, em que a Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira desempenhou papel primaz na ocupação das terras indígenas do Recôncavo e do Sertão da Bahia, pois o rio Paraguaçu lhe concedia posição estratégica, por ser o último porto na rota das pessoas, mercadorias e animais que se deslocavam entre sertão e litoral, facilitando a formação de feiras e comércios nas pequenas vilas mais interioranas. Nota-se que quando discutimos a formação territorial, econômica e populacional de Cachoeira implicitamente retratamos o processo de formação territorial e econômica do Brasil, pois foi na Bahia o início do processo da constituição do território brasileiro. Na contramão dos conhecimentos historicamente produzidos e solidificados no âmbito das ciências, pensar a formação territorial de Cachoeira é também contribuir com o debate acerca da gênese territorial brasileira sob uma perspectiva contra-hegemônica, descontruindo as narrativas que pacificam as lutas dos povos subjugados. GRÁFICO 2- EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO URBANO DO BRASIL, BAHIA E CACHOEIRA – 1940-2010 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 ANO TAXA DE CRESCIMETO DA POPULAÇÃO URBANA BRASIL TAXA DE CRESCIMETO DA POPULAÇÃO URBANA BAHIA TAXA DE CRESCIMETO DA POPULAÇÃO URBANA CACHOEIRA Fonte: Elaboração DIAS, Gleidson Sena. A descrição dos dados permite afirmar que a taxa de crescimento da população urbana, em nível nacional e estadual apresenta índices crescentes desde 1950 até 1970, e entre 1980 e 2010 os valores decrescem. Na escala municipal esse crescimento indica oscilações ao logo do tempo, ou seja, apresenta crescimento, após decréscimo, seguido de progressão e depois de regressão. 6. Considerações Conclusivas O território é definido e delimitado tomando como base as relações de poder, sejam elas de qualquer tipo, e tais relações são conflituosas, algumas vezes ensejando guerras. Assim, observa- se que durante todo processo de ocupação/invasão pelos portugueses do território que hoje é conhecido como brasileiro, que era pertencente aos povos pré-cabralinos, o objetivo foi a expansão territorial lusitana, fato que ensejou guerras e dizimação da população Referências FONSECA, A. C. N. O. Aspectos do desenvolvimento regional no Recôncavo Sul Baiano: O caso de Município de Cachoeira – Bahia – Brasil. Tese de Doutorado em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional. Faculdade de Geografia e História, Universidade de Barcelona. Barcelona, 2006. FREITAS, N. B. O descoroamento da princesa do sertão: de chão a território, o vazio no processo da valorização do espaço. Tese de doutorado apresentada ao programa de Pesquisa Pós-graduação. Núcleo de Pós-graduação em Geografia. (NPGEO) da Universidade Federal de Sergipe. Aracaju – Se, 2013. HAESBAERT, R. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no Nordeste. Niterói: EDUF, 1997. HENRIQUE, Wendel. Cidades Médias e Pequenas da Rede Urbana do Recôncavo da Bahia: uma análise sobre Cachoeira. 12º Encontro de ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 152 Geógrafo da América Latina. Montevideo, 2009. NEVES, J. B. Colonização e Resistência no Paraguaçu – Bahia, 1530 – 1678. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Bahia – Curso de Mestrado em História Social, Recife, 2008. SANTOS, Milton. A rede urbana do Recôncavo. In: BRANDÃO, Maria de Azevedo (Org). Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado; Academia de Letras da Bahia; Universidade da Bahia, 1998. Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In) Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. O Caso de amor Ágaba e Sady. (Cidade da Parahyba, 1923) Iranilson Buriti1 ... sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se desatam, entram na luta, se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável conflito (FOUCAULT, 1993) ______. Espaço e método. 5ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. SANTOS, M. R. A. As fronteiras do sertão baiano: 1640-1750. Tese apresentada ao programa de Pós-Graduação em História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. SACK, R. D. Territorialidade Humana: sua teoria e história. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. VILHENA, L. S. Bahia no século XVIII. Salvador: Editora Itapuã, 1969. (Coleção Baiana, v.II) Parahyba, tarde de 22 de setembro de 1923. Era um sábado, dia letivo nas escolas paraibanas. As aulas transcorriam normalmente tanto no Lyceu Paraibano quanto na Escola Normal da Paraíba, principais escolas da capital e, também, do Estado, ambas situadas na praça Comendador Felizardo, hoje denominada Praça João Pessoa. O contexto histórico local estava marcado pela remodelação arquitetônica do centro da cidade e pela ampliação do número de grupos escolares 2, fruto dos projetos políticos do governador da Paraíba, Solon de Lucena (1920-1924), a exemplo da inauguração dos grupos escolares Thomaz 1 ___________ Doutor em História. Professor de História da Universidade Federal de Campina Grande-PB. Pesquisador do CNPq. Email: iburiti@yahoo.com.br 2 Na Mensagem presidencialde 1909, a lei nº 313, de 18 de outubro de 1909, autorizou o poder executivo a instituir grupos escolares nos municípios paraibanos. Na Mensagem de 1910, está escrito: “Como fiz sentir com meu relatorio anterior, a instituição dos grupos escolares, embora com organização modesta, conformadas ás condições financeiras do Estado, será de maior utilidade para o ensino popular do que as escolas isoladas. Nesses institutos em que terão de funccionar três ou mais escolas com um só prédio, conforme a população escolar da localidade, os respectivos professores serão mais estimulados no desempenho de seus deveres, pelo contacto interino em que se acham. A direcção e fiscalização serão mais fáceis e efficazes, assim aggrupadas todas as escolas”. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Recôncavo Baiano: Formação, Evolução Territorial, Econômica e Populacional do Município de Cachoeira (BA) Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 154 155 Mindello (1916), Epitácio Pessoa (1918), na capital, e do Solon de Lucena (1924), em Campina Grande. Em cada uma dessas escolas, os alunos aprendiam suas lições, resolviam os exercícios propostos pelos docentes, escutavam os professores, faziam anotações, eram normatizados pelos códigos ditos e/ou interditos. Na capital da Parahyba ou nas cidadezinhas do interior, alunos e mestres apresentavam-se cotidianamente nos espaços escolares, munidos de livros, canetas, atlas, tinteiros, ideais. Os alunos mais pobres simplificavam seu arsenal escolar e levavam, quando muito, papel e tinteiro. Nesse cenário de letras, de fórmulas, de linguagens afetivas e de cantos orfeônicos, de corpos pedagogizados para os ideais nacionalistas, dois jovens declaravam juras de amor um para o outro na capital. Alunos de escolares diferentes (Lyceu Paraibano e Escola Normal) que fariam parte de um enredo que envolveu paixão, letras, transgressão de códigos morais, afetividade, sangue e veneno. Ágaba Gonçalves de Medeiros 3 e Sady Castor Correia Lima 4. Estudantes das principais escolas da capital, corpos protagonistas de uma das histórias e tragédias de amor mais comentadas na década de 20 do século passado. As juras de amor deram lugar a cenas de violência e de morte dos dois estudantes. Estudar as histórias desses jovens é provocar a ressurreição do corpo morto, dar-lhe fôlego, vida, tendões, carne, espírito, nervos e músculos. Assim, olhando para as histórias de Ágaba e de Sady Castor, nasceu este texto, fruto de muitos olhares. Olhares meus, mas também de outros. Afinal, como leitor e como escrevente, meus lugares de fala são produtos de leituras diversas, de (in)compreensões possíveis, de problematizações diversas. As fontes da época sobre a tragédia são muito repetitivas e não exploram outras leituras sobre o caso, resumindo-se a uma narrativa, às vezes linear, dos episódios. Portanto, quero situar meu olhar em relação aos objetivos propostos, a saber, questionar os modos de ler as histórias cruzadas de Ágaba e de Sady Castor. Neste artigo, procuro apresentar uma leitura, dentre tantas outras possíveis, sobre o relacionamento amoroso de Ágaba e Sady. Meu desejo é narrar não apenas a relação de amor de dois jovens no contexto escolar dos anos 20, mas problematizálos como corpos marcados pelos discursos socioeducativos que circularam no referido contexto e que contribuíram para formar identidades e gerar identificações. Relacionamento marcado por uma certa cultura escolar e por códigos normativos sociais, que punham homens e mulheres em espaços diferenciados, às vezes rivais. Homens e mulheres, alunos e alunas em espaços de disputas ou em disputas por espaços. Não foi tão somente um episódio fatídico, mas as representações das relações de gênero marcadas por lugares demarcadas para o masculino e para o feminino. Apresento ao leitor cenários de um novo século, de uma nova década, de um novo tempo, no entanto, cruzo esses cenários com os velhos padrões de comportamento, com os antigos códigos de honra, pelo culto a um certo jeito de se comportar, de andar, de expressar e viver o seu corpo, de ensinar e de aprender. O corpo feminino, seja o de Ágaba, das alunas da Escola Normal, aparecia no discurso de seu diretor, o Monsenhor João Batista Milanez, como uma superfície de pulverização, um território de conflitos, de inscrição de acontecimentos, de repressão, de incitamentos, de pelejas, de duelos, alvo de políticas familiares de proteção à honra. Diz Foucault (1993, p.22), 3 Ágaba Medeiros era filha do Coronel José Peregrino de Medeiros. Sady Castor Correia de Araújo, natural de Soledade-PB, era filho do Major Emiliano Castor de Araújo. ___________ 4 Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. O corpo – e tudo que diz respeito ao corpo, a alimentação, o clima, o solo – é o lugar da Herkunft: sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se desatam, entram na luta, se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável conflito. O cenário no qual foi inscrita esta tragédia romântica foi a Praça Felizardo Leite, uma área considerada nobre da capital que testemunhou um evento que marcou negativamente a sociedade local na época. Ágaba Medeiros (1907-1923) era uma jovem estudante da Escola Normal da Parahyba, namorada de Sady Castor ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 156 157 (1898-1923), reservista do exército e aluno preparatório do Lyceu Paraibano, colégio fundado em 1836, “uma instituição escolar tradicionalmente destinada à formação da elite paraibana masculina” (PINHEIRO, 2006, p.2). As escolas, à época, situavam-se bem próximas. A Escola Normal, criada em 18855, funcionava no prédio do atual Tribunal da Justiça e o Lyceu Paraibano no prédio da antiga Faculdade de Direito, ao lado do Palácio da Redenção. Entre elas, uma praça e uma linha imaginária estabelecida pelo então diretor da Escola Normal, Monsenhor João Batista Milanez, demarcava não somente os códigos de honra e moralidade, mas também os preceitos e interdições escolares. Fronteiras que apontavam para os modos de ler e as formas de escrever a decência, a amizade entre pessoas de sexo diferente, as relações de gênero, as vivências da sexualidade de meninos e meninas. Corpos tatuados pelas normatizações e pelas interdições que objetivavam criar sujeitos feminino e masculino educados para a obediência e para a submissão, atendendo um ideal de nacionalismo que ganhará maior visibilidade durante a Era Vargas (1930-1945). No início do século XX, as antigas forças de solidariedade e dependência e o poder do homem como mantenedor do poder patriarcal começam a ser abalados e fragilizados, sendo urgente a emergência de intervenções diretas do Estado burguês para tutelar as mulheres e proteger a família brasileira. Ágaba é um exemplo dessas mulheres tuteladas pelo Estado, protegida pelo olhar pedagógico do diretor da Escola Normal, defendida pelo discurso que a vê como frágil e vítima dos encantos e meneios dos jovens sedutores da Cidade da Parahyba, a exemplo de Sady Castor. As duas escolas situavam-se em um espaço urbano rodeado por praças e outros edifícios públicos, a exemplo do Palácio do Governo. Em meio a essa circularidade de pessoas, de transeuntes que iam trabalhar, passear, comprar no comércio próximo às escolas, o Diretor da Escola Normal, com o objetivo de manter a ordem estabelecida, solicitou ao chefe da Polícia, Demócrito de Almeida, autorização para policiar o local que, de imediato, foi atendido, vindo com a função de vigiar a “honra das meninas” o guarda civil Antônio Carlos de Menezes, conhecido como “Guarda 33”: “E, a partir daquele instante, Antonio Carlos de Menezes, ou simplesmente, o ‘guarda 33’, passou a exercer a função de guardião da honra das moças”, inspecionando-as, procurando protegê-las dos olhares dos rapazes e dos espaços de perdição (SILVA, 2009, p.2). O Monsenhor Milanez, figura conhecida do clero e da sociedade paraibanos, considerava um insulto e um desrespeito à moralidade e aos bons costumes da família paraibana as conversas e namoro dos estudantes. Isso deveria acabar, pelo menos para as meninas que estudavam na Escola Normal. Dessa forma, em 1922 estabeleceu uma “linha de decência”, um marco imaginário para que os rapazes não atravessassem sob o risco de serem punidos pela Instituição na qual estudavam, já que, até então, a praça era frequentemente visitada pelos alunos e alunas que conversavam ou namoravam. Mas, na opinião do Diretor da Escola Normal, as meninas, honradas e devotas, deveriam se entregar a Deus e aos estudos e não conversarem com o sexo oposto nos intervalos das lições. Além da “linha da decência”, outros modos de ler a juventude paraibana dos anos 20 se encontram. São linhas, fronteiras, receituários. Na encruzilhada das palavras e da “linha de decência”, encontram-se as acusações, as defesas, as exaltações, a elaboração de um corpo feminino alvo dos comentários, a defesa de uma honra que pertence muito mais à família do que às vítimas. Visto como frágil, vulnerável, fraquinho, o corpo feminino torna-se uma história cercada pelo desejo da sociedade em demarcar e reproduzir uma imagem calcada no tempo, em outros tempos: a da mulher vitimada, destronada de seu lugar de honra e posta num outro lugar: o da violação e dos comentários. Emerge do processo-crime em análise a figura de uma jovem fragilizada, adocicada pelos códigos prescritos e, de tão frágil, acaba sucumbindo. Assim sendo, a intervenção, tutelamento e estabe- 5 A Escola Normal Paraibano, ou viveiro de preceptores, conforme expressão cunhada pelo gestor José Ayres do Nascimento, foi oficialmente instalada no dia 7 de abril de 1885, durante a gestão do presidente da Província Antônio Sabino do Monte, e teve seu regulamento publicado em 14 de janeiro de 1886. As disciplinas ofertadas eram: Gramática e Língua Nacional, Língua Latina, Aritmética, Álgebra e Geometria, Língua Francesa, Língua Inglesa, História e Geografia, Retórica e Poética, Filosofia e Pedagogia (ARAÚJO, 2010, p. 189) ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 158 159 lecimento de novos códigos pelo Estado, de “linhas de decências”, de fronteiras divisórias entre o masculino e o feminino, de gradis morais, transformam casos de amor em processos-crime, amizade entre jovens em morte, tragédia e sofrimento. Sobre os corpos de Ágaba e Sady encontramse os discursos que os construíram como vítimas ou como participantes ativos dos “crimes de amor”. Sady, a primeira vítima, é muito mais réu aos olhos das testemunhas da moralidade, dos que aplaudem os interditos e as balizas de decência. Porém, como a imagem de fragilidade do corpo feminino ainda era recorrente, Ágaba continuou a ser vítima, menina indefesa, tão frágil a ponto de tirar a própria vida. O corpo das alunas da Escola Normal, como um espaço de circunscrições várias, de definições e de redefinições ao longo do tempo histórico, era um lugar de investimento pedagógico por parte do Monsenhor Milanez; lugar privilegiado de investimento sobre a vida; “lugar de convergência de um poder controlador que individualiza o seu desempenho, ao mesmo tempo em que o regula em favor da espécie humana” (FRAGA, 2000, p.18). Cercadas de códigos disciplinares, as mulheres tinham as identidades culturais tatuadas em seu corpo; eram celebradas ou repudiadas, benditas ou malditas, santas ou profanas de acordo com a postura adotada em seu cotidiano. As alunas da Escola Normal da Parahyba, portanto, são policiadas em suas atitudes por uma rede de saberes e por fios de poderes, dentre os quais situa-se o pensamento de base católica (cujo representante maior era o Monsenhor Milanez), que ordena a mulher, controlando seus gestos, seus desejos, suas emoções através de fórmulas “sagradas”. Santuário, altar e púlpito são metáforas utilizadas para amedrontar o “sexo frágil” e alertá-lo do perigo da desterritorialização, vista como desagregador de lares. São micropolíticas que agem sobre os corpos e sobre as mentes dos integrantes do “santuário familiar”, investindo em temas como a sexualidade, a monogamia conjugal e a virgindade, ordenando as mulheres a cultuar o lar, exaltar a moralidade e reprimir sexualmente as crianças, baseadas em leituras de encíclicas e de bulas papais. É um trabalho pedagógico que atua de forma a produzir uma sub- jetividade modelizada a partir dos discursos normativos. Quando isso acontece, os indivíduos reproduzem os modelos e padrões de referências e não criam saídas para os processos de singularização (GUATTARI; ROLNIK, 2008). Baseado em preceitos biologizantes e naturalizantes, o código civil republicano de 1916 inscreve os gêneros numa ética “canônica”, circunscrevendo posturas sexuais e comportamentos sociais que reforçam a divisão biológica do sexo e responde a um projeto político-cristão de regenerar moralmente as famílias brasileiras. Esses discursos, portanto, constroem a imagem de uma família normatizada e civilizada, havendo a transferência do poder de julgamento da Igreja para o Estado burguês. Essa lógica jurídica, mas também de viés religioso, circunscreve o corpo das mulheres dentro dos ditames da castidade, da honestidade, da virtude e da submissão. Por meio de um discurso normativo, deveria a mulher preservar a espécie, repetindo, por sua vez, o discurso ditado pelo catolicismo que dava visibilidade à mulher frutífera, repetidora do discurso “corpo-objeto”, “cama-mesa-banho”. Para Maritza Maffei da Silva, “o direito por meio das normas jurídicas determina o que é legal na utilização do nosso corpo, diz o que devemos fazer com ele, como ele deve ser empregado como fator de produção, como devem ser mediadas suas relações com outros corpos, e como ele deve ser remunerado” (1995, p. 113). Assim, por causa de narrativas de interdição e de espaços gradeados pela moral familiar da época, o amor entre dois jovens da classe média paraibana tornou-se um dos mais tristes episódios afetivos que a Paraíba conheceu, uma história que se aproxima do drama amoroso de Romeu e Julieta, escrito por Shakespeare ,em 1595. Ágaba, a Julieta paraibana, e Sady, o Romeu que se sacrificou em nome da paixão, do amor e da valentia. Mas como tudo isso aconteceu? Como na Escola Normal só estudavam meninas, Sady foi proibido de frequentar as imediações da mesma para encontrarse com Ágaba. Os encontros furtivos eram cada vez mais perigosos, pois a vigilância ao sexo feminino era norma e prescrição escolar. Dessa forma, não apenas Sady, mas qualquer outro rapaz não poderia frequentar nem se aproximar dos portões da escola normalista, muito menos cruzar a linha imaginária criada pelo Monsenhor. Mas Sady ousou, se aproximou e ultrapassou o marco divisório. Nessa aproximação, um dos “guardiões das virgens norma- Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino ___________ Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. ___________ Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 160 161 listas” o descobre. Os “ouvidos” do Monsenhor Milanez estão a postos. Imediatamente Sady foi advertido por Antônio Carlos de Menezes. Reincidente, o rapaz repetiu o ato para falar com sua amada e, novamente, foi surpreendido pelo guardador da virtude das moçoilas normalistas. Travou uma ríspida discussão com o Guarda 33, que, de forma inesperada, atirou no peito do rapaz que, sem resistir aos ferimentos, morreu em poucas horas na residência de Francisco Nóbrega, situada na Avenida General Osório, na capital do estado. Nessa residência, recebeu cuidados médicos dos doutores Adhemar Londres e Newton de Lacerda. O socorro médico, porem, foi em vão. Sady morreu por volta das 16 horas. Uma tragédia que mobilizou a sociedade civil e política da Paraíba, deixando atordoado o diretor da Escola Normal, alunos do Lyceu e as meninas normalistas: “A comoção logo tomou conta da cidade, despertando uma onda de manifestações açuladas pela oposição àquele governo, chegando, inclusive, a abalar a vida administrativa e social da província no governo Solon de Lucena” (SILVA, 2009, p.2). O crime teve graves repercussões imediatas na sociedade local e junto ao governo estadual. Foi uma tarde em que Shakespeare “visitou” a capital da Paraíba. Imediatamente, a notícia do assassinato se espalhou e comoveu a população. Os colegas e amigos de Sady juntaram-se aos estudantes do Lyceu Paraibano que, unidos, se aglomeraram na frente da escola e passaram a hostilizar a direção e a sede da guarda civil com palavras de ordem e pedidos de renúncia do Diretor da Escola Normal. Para piorar a situação, os familiares de Sady decidiram que o corpo do jovem seria velado no próprio Lyceu. Durante a noite do dia 22 de setembro, os discursos inflamados de alunos, professores e familiares despertaram mais ainda a raiva contra o diretor e contra o atirador. O corpo de Sady, mesmo morto, emitia sons, palavras às vezes indizíveis, às vezes agressivas demais. Corpo-discurso, representante de posturas de uma certa elite local preocupada com as linhas e fronteiras de decência. O corpo de Sady, vivo ou morto, é um objeto da história. Nas narrativas do processo-crime ou dos articulistas de jornais, ele foi construído, elaborado, perfurado e mutilado pelos diversos saberes (religioso, escolar, político, moral). É no espaço-corpo onde tropeçam as palavras, as adjetivações, as classificações que ajudam o outro construir uma imagem do sujeito. Escutemos o corpo e, provavelmente, seja “impossível” nos apoderar de todos os seus sons, porque a linguagem, nascida dos desejos com os quais inflam o corpo, existe para criar uma distância que possa conter e tornar pensáveis os pedidos do corpo. No dia seguinte, o enterro. Carregado pelos professores e alunos do Lyceu, o féretro é conduzido até o Cemitério da Boa Sentença. Celebração e pesar eram acompanhados por lágrimas. Discursos em honra ao morto feitos pelo empresário e professor Miguel Santa Cruz, pelo discente Cézar de Oliveira Lima e pelo coronel José Peregrino de Medeiros, pai de Ágaba, trouxeram ainda mais comoção aos presentes. Lágrimas-discursos. No meio dos assistentes do féretro estava a jovem Ágaba, cabisbaixa e chorosa. A multidão se aglomerou para ver o reservista, o aluno, o amante, o corpo frio, os sons do seu corpo, o seu corpo em sons. Notas de uma tragédia, notas de interdições sóciomorais. Após o velório, muitos voltaram para casa, dentre eles, Ágaba e sua família. Enquanto uns se dirigiam aos seus lares, um grupo de estudantes e amigos da vítima saiu em manifestação pelas ruas da capital, destruindo os exemplares do jornal “A União” que encontravam pela frente, finalizando a manifestação com o enterro simbólico do Monsenhor Milanez, às portas do Seminário Diocesano (O CASO DO ESTUDANTE CASTOR. A União, Terça-feira, 25 de Setembro de 1923, n° 200): ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. O ato de desagravo foi duramente censurado pelo governo de Sólon de Lucena que, para evitar novas manifestações, teve de tomar medidas rigorosas, usando da força policial para coibir qualquer aglomeração de estudantes na frente da Escola Normal. A polícia também fez distribuir um boletim avisando de sua ação em caso de desordem, pois constava desde domingo, plano de vaia ao monsenhor Milanez (SILVA, 2009, p.3) Entre as palavras de ordem, destacavam-se: “Monsenhor Milanês, um irresponsável!”, “Abaixo o governo de Sólon de Lucena!”; “Fora o Chefe de Polícia e seu comparsa, o Guarda 33”! ; “Cadeia para os assassinos!” “Prisão para o assassino!”; “Morte para o Guarda 33!”; e “O Jornal A União esconde a verdade!”. Tais agitações, que também se espalharam por outras cidades do Estado, provocaram a saída do Diretor da Escola Normal e ameaçou o governo de Solon de Lucena. Uma das medidas foi o fechamento das escolas até que os ânimos se acalmassem: “Para evitar desdobramentos negativos Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 162 163 que abalassem a credibilidade política do Governo, ambas as escolas são fechadas por 15 dias e o diretor monsenhor João Milanez é substituído, interinamente, pelo cônego Pedro Anísio” (SILVA, 2009, p.4). Ainda sobre esse assunto, Silva complementa: dentre as quais duas ficaram desconhecidas do público e somente a endereçada a sua sogra foi notificada. Ao finalizar cada uma das correspondências, o corpo de Ágaba já sentia muitas agonias. Próximo do entardecer do dia 6 de outubro de 1923, no seio de seus familiares em pranto, Ágaba falece. Mais uma vez, a sociedade se comove. Em seu enterro, movido por forte emoção, o vigário da catedral ministrou a bênção nupcial sobre os dois amantes perante os túmulos no cemitério da Boa Esperança, na capital paraibana. Houve muito choro e emotividade no local. Em sua lápide, foi escrito o seguinte epitáfio: “Ágaba Gonçalves de Medeiros aqui jaz – Viandantes do destino, orai por ela, a vítima do amor e da dedicação”. Despedindo-se da família e dos amigos, uma carta é escrita por Ágaba, explicando seus motivos, tentando consolar aqueles que ficaram abalados com a tragédia. Ágaba e Sady Castor. Um caso de amor na Paraíba que Shakespeare escreveu com outros nomes: Romeu e Julieta. O estopim que “incendiou” os estudantes foi dado, aparentemente, pelo órgão oficial de imprensa, o jornal A União, responsável por veicular as primeiras informações sobre o referido crime, ainda na manhã do domingo. De algum modo, os estudantes entenderam que o jornal A União havia sido parcial ao noticiar a história, isentando o estado e a Igreja de quaisquer responsabilidades pelo incidente. No entanto, o jornal A tarde, de tendência política oposta ao governo, e sobre o comando do líder da oposição estadual, o Desembargador Heráclito Cavalcanti, tratou de defender os estudantes e “alfinetar” o governo, veiculando notícias que a “situação” estaria acobertando os responsáveis pelo ato criminoso (2009, p.9). Depois dos primeiros cinco dias, os embates diminuíram, principalmente após o presidente da República, Arthur Bernardes, prestar solidariedade ao governador da Paraíba, acalmando os ânimos dos opositores políticos de Solon de Lucena, que desde o dia 24 vinham o acusando de ser responsável pela morte de Sady. Trancada em sua casa, Ágaba continuava sentindo as dores da perda, a solidão, a tristeza, a falta do corpo vivo do seu amado. Não tinha ânimo para voltar à Escola, não tinha forças para voltar aos seus afazeres cotidianos. Faltavam-lhe forças, faltava-lhe Sady, o castor. Sobravam saudades e angústias. Duas semanas se passaram. O caso Sady estava pouco comentado entre a oposição. Embora os jornais locais diminuíssem com as matérias sobre o caso, as faixas de luto nas casas dos familiares de Sady ainda continuavam. O coração da família do jovem assassinado parecia não acreditar em tamanha tragédia. Ágaba continua introspectiva, com poucas conversas com os pais e com as amigas que lhe visitavam de vez em quando. Visivelmente estava abatida e fragilizada. Após enfrentar uma crise de depressão, Ágaba Medeiros, com 16 anos, ingere uma forte dose de veneno arsênico que havia subtraído de um depósito de drogas que seu pai, José Peregrino, possuía. Depois, caminha lentamente aos seus aposentos. Sente as primeiras náuseas, os sintomas da morte são cada vez mais intensos, porém, Ágaba precisa deixar registradas algumas explicações para a família e para os amigos. Pega caneta e papel e escreve três cartas, Box – Carta de Ágaba para a mãe de Sady “Parahyba, 6 de outubro de 1923. Minha mãezinha. ___________ Peço-vos desculpas de assim vos tratar, mas os laços que me prendiam ao vosso filhinho, permitem que assim vos trate. É lamentável dizer-vos o estado em que me acho desde o desaparecimento de meu inesquecido mui amado Sady. Peço-vos perdão de minha ousadia, mas venho, por meio desta, dizer-vos que comungo convosco da mesma dor. Ah! se não fosse ferir o vosso e o meu coração relataria o modo, os sentimentos daquele que tão cedo foi arrebatado do meio honrado em que vivia. Não sei por onde se acha a mala daquele que espero que Deus tenha em sua companhia; queria que vos interessásseis em mandar buscar. Resta-nos confiar na justiça da terra? Não, confiarei na Divina, pois que aquela falha e esta não falhará jamais. Confiando no vosso coração, espero não se zangará quando esta receber. Peço-vos que abençoeis aquela que amanhã irá fazer companhia àquele que soube honrar e fazer-se honrar. Abraçai as maninhas pela desventurada. Ágaba Medeiros” ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento 164 165 Considerações Finais Referências Bibliográficas Estudar o caso de Ágaba e Sady nos faz questionar os modos de ler a sociedade e as práticas socioculturais do contexto paraibano dos anos 20 (século XX), marcado pelas rígidas divisões binárias entre os sexos, pela normalização das ações, pela normatização dos corpos. As famílias da elite paraibanas buscavam, através do casamento, especialmente das filhas virgens, o fortalecimento político e econômico, bem como a pureza de sangue que, por conseguinte, significavam elementos fundamentais e determinantes da condição social ocupada por esse grupo na sociedade. Puro sentimento de egoísmo individual ou uma forma de manutenção das diferenças sociais? A criação de um lugar moral para a mulher ou o sequestro social de seus corpos? ARAÚJO, Rose Mary. Escola Normal da Parahyba do Norte: movimento e constituição de professores no século XIX. Tese (Doutorado em Educação). João Pessoa: UFPB, 2000. CASO LAMENTÁVEL: um guarda civil mata um estudante do Lyceu. Jornal A união, 24 de setembro de 1923. CRIME BÁRBARO. Jornal A Imprensa. Parahyba. 28 de setembro de 1923. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 11 ed., Rio: Graal, 1993. GUATTARI, Felix; ROLNIK, Sueli. Micropolíticas: cartografias do desejo. 12 ed., Petrópolis: Vozes, 2008. SILVA, M. M. Mulher, identidade fragmentada.In: ROMERO, E. Mulher, corpo e sociedade. São Paulo: Papirus, 1995. O CASO DO ESTUDANTE CASTOR. A União, Terça-feira, 25 de Setembro de 1923, n° 200. PINHEIRO, Antônio Carlos. As “Peculiaridades” da Instrução Pública e Particular Na Província Da Parahyba Do Norte (1860 A 1889). Disponível em: <http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/506AntonioCarlosPinheiro.pdf> Acesso em 04.jul.2014. SILVA, Favianni da. O caso Sady e Ágaba: desdobramentos discursivos de uma tragédia paraibana. Anais do II Seminário Nacional de Gênero e Práticas Culturais: Culturas, leituras e representações. João Pessoa: UFPB, 2009. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Estado da Parahyba. Petição de Habeas-corpus preventiva da Comarca da Capital. 26 de setembro de 1923. Caixa 5, Arquivo do Tribunal de Justiça da Paraíba. VARANDAS, Edival Toscano. Promessa de amor além-túmulo. Disponível em: www.eliezergomes.com/. Acessado em 18 ago. 2011. VASCONCELOS, Amaury. Apologia do Amor: Sady e Ágaba. João Pessoa. Unipê Editora, 2008. VASCONCELOS, Antônio Benvindo. O drama de Ágaba. 2.ed. Natal: Empresa Jornalística, 1987. ___________ ___________ Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Perspectivas Interdisciplinares em Filosofia e Ensino Além da “Linha da Decência”: Linguagem Afetiva e (In)Sensibilidades Educativas nas tessituras amorosas. Coleção de Ensaios em Direito, Linguagem e Produção do Conhecimento