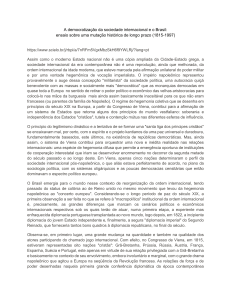Análise de Política Externa: Manual para Relações Internacionais
advertisement

" Elementos de Análise
de Política Externa
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
•
.;
""lo'
>
.
"~."-".
.. .
r
ELEMENTOS DE ANÁLISE
DE
POLÍTICA EXTERNA
Nesta colecção:
1.
Representação Política, Eleições e Sistemas Eleitorais
Martim
Manu~l M~irinho
2.
A União Europeia como Actor Global
Carla Costa, Marcos Perrdra, Maria Perdra. Andreia Soar~s
3.
Manual de Economia do Desenvolvimento - Apontamentos
António &belo d~ Soma
4.
Economia Pública
Josi Albano dos Santos
5
Manual de Comunicação Estratégica: As Relações Públicas
Sónia &bastião
6.
Introdução ao Serviço Social
Maria Josi Silv~ira Núncio
7.
Os Conflitos Étnicos e Interculturais
Marina Pignatelli
8.
Gestão Financeira
António Rebelo d~ Sousa
9.
Cidadania e Participação Política - Temas e perspectivas de análise
Manuel Mârinho Martins
10. Temas de Relações Económicas Internacionais
Carla Costa
11. Instituições e Política de Regulação
Eduardo Lop~s Rodrigues
12. Sociologia do Consumo - aplicada ao Marketing e à Comunicação
Raquel Barbosa Ribeiro
13. Sociedade e Cultura na Área Islâmica
Tema de Almeida e Silva
14. Ciência Política - Estudo da Ordem e da Subversão (6.' edição)
António de Sousa Lara
15. Subversão e Guerra Fria
António de Sousa Lara
16. Sociologia Política e Eleitoral (2.' edição)
Paula do Espírito Santo
17. Princípios de Economia
Carla Costa, Armando CnlZ, Elvira Pereira, Josi Dantas Saraiva eJorge Rio Cardoso
18. www.CulturasDigitais
Coord. Clál/dia Vaz
19. Teoria da Política Social
Hermano do Carmo
20. Sociologia da Comunicação
Maria João Cunha Silvestre
,
,
..
Victor Marques dos Santos
Elementos de Análise
de
Política Externa
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
2012
,~
...
Ficha Técnica
Título: Elementos de Análise de Política Externa
Autor: Victor Marques dos Santos
Editor: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Data da edição: Abril de 2012
Tiragem: 1000 exemplares
Execução gráfica, impressão e acabamentos: Europress, Lda.
Depósito Legal: 336278/11
ISBN: 978-989-646-075-4
© Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Coleção Manuais Pedagógicos
ELEMENTOS DE ANÁLISE D E POLÍTICA ExTERNA
,,'\
...
AGRADECIMENTOS
Cumpre-me agradecer à Senhora Professora Doutora Maria João Militão
Ferreira de Sousa Pereira, pela colaboração na recolha bibliográfica, bem
como pela sua constância, rigor e objectividade analítica, na leitura e revisão
do texto.
Bom Sucesso, 21 de Julho de 2011.
Victor Marques dos Santos.
v
-.> .
I'
. '
..,. •.
:
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
~
.
....
.1
ÍNDICE
LISTA DE SIGLAS
IX
PREFÁCIO
XI
INTRODUÇÃO - NAÇÃO, ESTADO E POLÍTICA ExTERNA
CAPÍTULO I - Os ESTADOS
.
. . . . .. . . .. .....
XIII
........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
1.1. - Características e Evolução do Conceito de Estado .. . .. . ..... ,.
. . .. ... .. .. ..
1.2. - Os Elementos Constitutivos dos Estados .
.......
. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ...
1.2.1. A População ..
. ....... .......
1.2.2. O Território .. . . .... .......
.......
. ...... , .... ......
1.2.3. A Estrutura Política ....
.. ................
1.3. - Sobre a "Crise do Estado Soberano" ...
CAPÍTULO II - FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
2.1. - A Soberania Externa dos Estados ... ... .. . .......................
2.1.1. Os Actos Unilaterais dos Estados ...... . ..... . ........... .,
2.1.2. O Exercício do Direito de Celebrar Tratados Internacionais
2.1.3. Os Actos Concertados Não-Convencionais .... . . . . . . .. .......
2.1.4. O Exercício do Direito de Reclamação Internacional
2.1.5. O Exercício do Direito de Fazer a Guerra .....................
2.1.6. O Exercício do Direito à Igualdade Soberana . ......... .. ...
2.2. - Deveres e Obrigações dos Estados ............ ......................
2.2.1. A Responsabilidade Internacional dos Estados ............ ....
2.2.2. A Resolução Pacífica de Conflitos Internacionais ... ,.........
2.2.3. Governação Global e "Responsabilidade de Proteger" ........
23
23
29
29
32
35
38
49
49
51
62
65
68
69
71
72
72
75
78
As ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS ...... , ....... , ... , . . . 91
3.1. - Origens e Evolução ............................................. 91
3.2. - Definição e Características . ... ............. . ................. 95
3.3. - Classificação, Competências e Estrutura Orgânica ............. 107
3.3.1. Critérios de Classificação ......................... ............... 107
3.3.2. Competências Institucionais . ....... .......... ............... 111
3.3.3. Estrutura Orgânica ...... ,
.. .......................... 113
3.3.4. Acesso e Participação dos Estados .............................. 118
3.4. - Formas de Interacção Internacional .......................... 121
CAPÍTULO III -
VII
ELEMENTOS DE
ANÁLI~E DE POLÍTICA ExTERNA
3.4.1. Os Actos Unilaterais das Organizações Internacionais
3.4.2. O Exercício do Direito de Representação .
3.4.3. O Exercício do Direito de Celebrar Tratados Internacionais
3.4.4. O Exercício do Direito de Reclamação Internacional
3.4.5. A Resolução Pacífica de Conflitos Internacionais
3.4.6. As Acções de Estabilização do Ambiente Relacional .
141
141
141
144
146
152
CAPÍTULO IV - POLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
4.1. - Identificação e Caracterização da Política Externa
4.1.1. O Significado da Política Externa ...... .
4.1.2. A Identificação da Política Externa ........... .
4.1.3. A Caracterização da Política Externa ....... .
4.2. - Sobre o Conceito de Interesse Nacional .
CAPÍTULO V - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
5.1. - O Ambiente de Formulação
5.1.1. Características do Ambiente Interno .................. .
5.1.2. Os Agentes Processuais ........ .
5.2. - A Definição dos Objectivos ....... .
5.2.1. A Tipologia de Holsti
........ .
5.2.2. A Tipologia de Wolfers
5.2.3. O Caso dos Pequenos Estados
5.3. - A Implementação da Política Externa
5.3.1. Características do Ambiente Relacional
5.3.2. A Implementação das Acções
CAPÍTULO VI - INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
6.1. - Lógicas e Técnicas de Utilização
6.2. - A Diplomacia .
6.2.1. A Evolução Histórica das Práticas Diplomáticas .
6.2.2. Definição e Características da Diplomacia
6.2.3. As Funções da Diplomacia
. .. ..
6.2.4. Os Desafios Globais da Diplomacia Contemporânea
6.3. - A Propaganda
6.4. -A Acção Económica
•
121
126
126
127
128
129
..
165
165
165
168
172
173
177
180
182
182
186
203
203
207
207
215
219
224
228
238
CAPÍTULO VII - ANÁLISE E AVALIAçÃO
DE RESULTADOS EM POLÍTICA ExTERNA ...... .
7.1. - Enquadramento Analítico
....... .
7.1.1. Sistematização dos Factores de Enquadramento
7.1.2. Desenvolvimento Analítico
7.2. - Reflexões Sobre a Problemática da Avaliação
VIII
255
255
255
258
261
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
... \
LISTA DE SIGLAS
AG - Assembleia Geral da ONU
APE - Análise de Política Externa
APRI - Associação Portuguesa para o Estudo das Relações Internacionais
BERD - Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento
BIRD - Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento
CECA - Comunidade Europeia de Cravão e do Aço
CEE - Comunidade Económica Europeia
CGG - Commission on Global Governance
CS - Conselho de Segurança da ONU
CSCE - Conferência de Segurança e Cooperação Europeia
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade
IDE - Investimento Directo Estrangeiro
ISA - International Studies Association
ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
NAFTA - North America Free Trade Agreement
NOEI - Nova Ordem Económica Internacional
NOnC - Nova Ordem Internacional da Informação e da Comunicação
OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico
ODMs - Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
OEA - Organização dos Estados Americanos
OIGs - Organizações Internacionais
OIT - Organização Internacional de Trabalho
OMC - Organização Mundial do Comércio
OMM - Organização Meteorológica Mundial
ONG's - Organizações Não Governamentais
ONU - Organização das Nações Unidas
ONUDI - Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação Europeia
OTAN/NATO - Organização do Tratado do Atlânico Norte
R&D - Research and Development
RI - Relações Internacionais
SADC - Southern African Development Community
IX
;oELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
SDN - Sociedade das Nações
TIJ - Tribunal Internacional de Justiça
TPA - Tribunal Permanente de Arbitragem
TPJI - Tribunal Permanente de Justiça Internacional
UA - União Mricana
UE - União Europeia
UIT - União Internacional de Telecomunicações
UNCTAD/CNUCED - United Nations Conference on Trade and
Development
UPI - União Postal Internacional
UPU - União Postal Universal
UTL - Universidade Técnica de Lisboa
x
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
.,.,
PREFÁCIO
o presente manual constitui um resumo das lições ministradas no âmbito
da unidade curricular de Análise de Política Externa, do 1.0 ano do curso de
Mestrado em Relações Internacionais (2.° ciclo de Bolonha) do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
O tratamento analítico dos temas desenvolvidos pretende corresponder às
exigências básicas da aquisição de competências através do acesso a conhecimentos específicos constituindo, ao mesmo tempo, uma abordagem introdutória
à Análise de Política Externa, perspectivada como área de estudo sub-disciplinar
das Relações Internacionais, destinada aos alunos do referido Mestrado, designadamente, aos que são provenientes de outras áreas disciplinares e académicas.
A criação recente da unidade curricular de Laboratório II - Análise de Política Externa, no plano de estudos do 3.° ano curricular da licenciatura em Ciência
Política (1. 0 ciclo de Bolonha), cuja regência nos foi atribuída, justifica que a
sistematização das matérias transcenda a perspectiva e as temáticas especificamente internacionalistas, com a finalidade de se promover a interacção dinâmica entre as áreas disciplinares das Relações Internacionais e da Ciência Política,
bem como, entre os 1.0 e 2.° ciclos de Bolonha, mantendo-se o grau diferenciado da profundidade analítica. A articulação entre as perspectivas internacionalista e politológica permite identificar os objectivos específicos das respectivas
abordagens.
Neste sentido, as matérias específicas de Análise de Política Externa foram
complementadas através da análise dos actores estatais, designadamente, o
estado e as organizações internacionais intergovernamentais, acentuando-se as
respectivas formas de interacção internacional. Esta perspectiva permitirá estabelecer um enquadramento simultaneamente politológico e internacionalista da política externa. No primeiro caso, enquanto política pública transsectorial do estado, e no segundo caso, enquanto processo de integração
sistémica, estrutural e estruturante, do actor estado no ambiente relacional,
ou seja, na sociedade internacional.
VIctor Marques dos Santos
XI
...
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
J
INTRODUÇÃO
Nação, Estado e Política Externa
A área de actividade política que designamos por política externa corresponde a um conjunto de processos, decisões e acções desenvolvidas pelos
estados, desempenhadas por órgãos próprios através da utilização de recursos
e de instrumentos específicos. No plano académico, o estudo da política externa insere-se no objecto comum a várias disciplinas científicas, ~esignada­
mente, nas áreas da Ciência Política e das Ciências Sociais e, neste contexto,
das Relações Internacionais (RI) 1•
Numa perspectiva politológica, o estudo da política externa, nomeadamente,
a Análise de Política Externa (APE) situa-se no plano analítico comum às diversas
políticas sectoriais do estado e às inerentes interacções. Através da política externa,
os estados estabelecem e desenvolvem as suas interacções relacionais. Numa perspectiva internacionalista, a APE insere-se no âmbito do estudo do ambiente relacional, designadamente, dos sistemas de relações internacionais, a partir dos efeitos das acções de contacto desenvolvidas entre estados, mas também entre estes e
os outros actores estatais e não-estatais da sociedade internacional.
No plano das Ciências Sociais, esta diferença entre perspectivas de abordagem analítica evidencia uma transdisciplinaridade metodológica, cuja prática
define tanto a Ciência Política como as RI, constituindo a sua complementaridade académica, um factor significativo em termos de progresso científico.
A permanência do actor estado verifica-se, tanto no plano analítico politológico, partindo do próprio estado através da interacção relacional interno / externo / interno, como no plano analítico internacionalista, partindo do sistema
/ ambiente através da dinâmica interactiva externo / interno / externo. Ao mesmo tempo, as características da intervenção processual do estado, em termos
Utilizaremos a sigla "RI" para referirmos as Relações Internacionais enquanto disciplina científica no
contexto das Ciências Sociais. Utilizaremos a expressão "relações internacionais" para referirmos as dinâmicas sociais interactivas verificadas no plano relacional da sociedade internacional, e que constituem
o objecto material das RI, bem como os conteúdos teórico-práticos e analíticos da disciplina, ou ainda,
quando incluída em citações.
XIII
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
de grau variável e de formas diferenciadas de agenciamento, evidencia a alternância da centralidade do objecto em análise, variando entre o próprio actor
estado e o sistema / ambiente relacional. Os resultados da pesquisa decorrem
da convergência dos esforços analíticos desenvolvidos a partir de ambas as
perspectivas de abordagem, sobre uma matriz teórica pluridisciplinar.
Enquanto elemento humano constitutivo do estado, a população integra
os indivíduos que participam processualmente, tanto na concepção das políticas, como na execução das acções. Assim, torna-se pertinente recordarmos o
processo genético da formação e enquadramento organizativo das sociedades,
designadamente, as causas que suscitaram e adquiriram expressão evolutiva
nas formas de relacionamento humano, desde a sua origem grupal, até à sua
fixação em termos de comunidade politicamente organizada e, eventualmente, de estado e de estado-nação.
Sobre a temática da relação e da formação sequencial entre nação e estado, o
debate admite, geralmente, que o estado possa ter inspirado o fenómeno nacional. No entanto, em certos casos, parecem ter sido os indivíduos e a sociedade a
consciencializarem-se sobre o fenómeno da pertença comum a um grupo cuja
natureza específica e diferenciada, gerou a ideia de nação. Tendo como objectivo primário a salvaguarda da própria sobrevivência nacional num ambiente relacional adverso, o fenómeno adquire expressão através do processo de sedimentação de práticas relacionais e de consolidação de modalidades funcionais e de
transacções interpessoais que evoluíram, gradualmente, para formas organizacionais complexas, entre as quais se inclui o estado. Apesar de determinante em
termos da dinâmica interna da relação entre governantes e governados, a questão da precedência genética entre estado e nação parece ser menos relevante para
o desenvolvimento das posteriores formas de interacção entre o estado e o ambiente, bem como com os outros actores, estas mais influenciadas pelas solicitações do relacionamento imperativo, em termos de exigências de resposta.
Neste contexto, considerando o actor estado como o gerador das formas de
agenciamento internacional decorrentes das respectivas capacidades, o estudo
da APE, referido ao plano estatal, abordará apenas as formas de projecção do
poder e do exercício da influência através das competências da soberania externa, bem como a interacção dos estados na sociedade internacional, através
das respectivas acções.
O fenómeno gregário identificado na génese da formação dos grupos humanos verifica-se ao longo de um processo evolutivo de sistematização de actividades colectivas e de sedimentação de práticas sustentadas. Os resultados
destes desenvolvimentos adquirem expressão elementar no contexto de uma
matriz identitária e cultural caracterizada pela complexidade progressiva das
relações de socialização intra-grupais (Santos, 2009, 27-29).
XIV
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLITICA ExrERNA
..
"('.
Ao longo desse processo, e através da inerente experiência empírica derivada da elaboração de soluções para as necessidades colectivas, desenvolve-se a
percepção individual e a consciencialização colectiva sobre a existência de
uma comunidade de interesses, indutora de um futuro sentimento de pertença mas que, num primeiro momento, consubstancia apenas o carácter comunitário do grupo. Tal como referido, o desenvolvimento societal verificado até
se atingir o estatuto de comunidade politicamente organizada, constitui, pois,
um processo de complexificação progressiva que evoluirá, eventualmente, no
sentido da formação do estado.
Solucionadas as necessidades primárias, inerentes à sobrevivência da própria comunidade, entramos, assim, numa fase que incluirá, necessariamente,
a estruturação gradual dos padrões de relacionamento. Com efeito, a imperatividade das soluções anteriormente encontradas é agora complementada por
uma capacidade potencial de selecção relativa a opções que, não pondo directamente em causa a gestão imediata e sustentada do grupo, serão, contudo,
decisivas para a sua evolução identitária e determinantes de futuros comportamentos relacionais, perante a inevitabilidade dos contactos com outras comunidades politicamente organizadas, resultantes de processos evolutivos semelhantes.
Esta fase societalmente complexificante, mais elaborada, quer nas suas formas de organização intrínseca, quer nas suas formas de expressão relacional, e
que poderemos designar como fase de projecto, incluirá também, nos estágios
mais avançados, a dimensáo utópica a que, noutros contextos, nos temos referido (Santos, 2000). Independentemente da evolução conceptual sobre a
perspectiva utópica (Innerarity, 2004), essa dimensão da fase de projecto é,
simultaneamente, causa e consequência do processo de complexificação cultural diferenciador das sociedades, justificando e fundamentando, ao mesmo
tempo, a projecção das comunidades no sentido do seu encontro com o mundo. Poderemos, então, considerar que a comunidade partilha da "visão" que
Christopher Dawson reconhece existir antes e para além de cada civilização, e
que todas as comunidades, designadamente, as nações possuem projectos próprios e capacidades específicas de realização (Dawson, 1972,41).
Neste sentido, David Thomson caracteriza o fenómeno nacional considerando que
"a nação pode ser descrita como uma comunidade de pessoas cujo sentido de pertença ("the sense ofbelonging toghether") deriva [do facto] de
acreditarem que têm uma pátria ("homeland'), e da experiência de tradições e desenvolvimento histórico comuns" (Thomson, 1966, 119).
xv
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
A nação significa, assim, a dimensão da
"comunidade terminal, a maior comunidade que gera efectivamente a
lealdade dos homens, integrando pretensões de todas as comunidades
menores no seu seio e integrando igualmente todas aquelas que a atravessam no quadro de uma sociedade cada vez mais alargada" (Emerson,
apudHuntzinger, 1987,213 e n.1).
Neste sentido, Anthony D. Smith operacionaliza o conceito de nação definindo-a como
"uma população humana identificada ("named'), partilhando um território histórico, mitos e memórias históricas comuns, uma cultura
pública de massa, uma economia comum e direitos e deveres legais
comuns a todos os membros" (Smith, 1991,43).
Estamos perante conteúdos operacionais descritivos do conceito de nação
que correspondem, no plano empírico, à realidade social que Ernest Renan
caracterizava pelo passado comum e pela vontade de realização de projectos
comuns, consubstanciados numa vivência colectiva do presente e na perspectiva de realização de um futuro em "comunidade imaginada", na expressão de
Benedict Anderson (1991), ou do fenómeno a que André Malraux se referiu
como "a comunidade de sonhos" (Santos, 2007, 67-69).
A diversidade dos projectos idealizados por cada comunidade politicamente organizada adquire expressão actual sob a forma de estado. A pluralidade
dos estados implica a respectiva coexistência num ambiente relacional geralmente designado por sociedade ou comunidade internacional, impondo o
contacto recíproco entre formações sociais ou comunidades semelhantes e, tal
como referido, também elas portadoras de um projecto de realização próprio.
Esta circunstância, que justifica o relacionamento internacional ou, mais precisamente, interestatal, determina também que os interesses, inicialmente
identificados no âmbito interno da comunidade se convertam em "interesses
nacionais", e que as soluções encontradas para a sua satisfação consequente
transcendam o âmbito intra-comunitário do grupo, bem como a expressão
geográfica da sua fixação territorial, exigindo, agora, o desenvolvimento de
uma prática política, que designamos por política externa e que, apesar de
formulada no plano interno do estado, encontra no ambiente relacional o seu
espaço de implementação próprio. Da convergência interactiva e sinérgica
entre as políticas externas dos diferentes estados derivará, por sua vez, o conceito de política internacional
XVI
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Estabelecendo a convergência entre as perspectivas internacionalista e politológica, a Foreign Policy Analysis, revista especializada publicada sob os auspícios da International Studies Association (ISA), identifica a APE caracterizando-a pela análise especificamente centrada no actor ("actor-specific flcus"),
designadamente
"no estudo dos processos, efeitos, causas e resultados ou acções derivadas da tomada de decisão em política externa, tanto numa perspectiva
comparada, como na perspectiva de específica de cada caso (" case-specific"). O argumento subjacente e frequentemente implícito, postula
("theorizes") que os seres humanos, agindo em grupo ou dentro de um
grupo, elaboram ("compose") e causam a mudança em política internacional" (ISA, 2009).
Neste sentido, a APE concentra-se no estudo dos
"factores (tanto domésticos como externos) que influenciam a formulação e a implementação da política externa, dos instrumentos utilizados na condução da acção política e das comparações entre políticas
externas de diferentes estados (" cross-nationaf')" (Webber, Smith et ali.,
2002,341).
Uma abordagem elementar e introdutória à APE, pressupõe a consideração
prévia dos estados e das organizações intergovernamentais, enquanto principais
actores envolvidos, e em cujo contexto se situam os aparelhos de decisão, constituindo as entidades geradoras dos processos de elaboração e das acções de
implementação das políticas externas. Assim, o estado e as organizações internacionais intergovernamentais serão analisados no enquadramento referido, acentuando-se as suas formas de acção externa e de interacção internacional.
A identificação da localização sistémica dos agentes e da génese processual,
bem como das inerentes formas de acção, serão consideras segundo o princípio generalizado de que a realização dos interesses nacionais constitui a finalidade última e o objectivo "chave" de toda a política externa. São estes interesses que fundamentam as grandes opções estratégicas de um país e determinam
as acções do estado, enquanto aparelho político que serve a comunidade nacional e que estarão sempre, e por consequência, no cerne da actividade política específica a que chamamos política externa. Esta perspectiva justifica que
procuremos identificar essa mesma política situando-a entre as políticas sectoriais do estado, mas acentuando as características próprias que permitem a sua
diferenciação enquanto objecto de análise.
XVII
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Na sequência desta abordagem, analisaremos o processo interno, nacional
ou de formulação e elaboração da política externa - em cujo âmbito será referida também a problemática da identificação do interesse nacional - e o processo externo, internacional ou de implementação. Referiremos, seguidamente, a questão da instrumentalidade acentuando a centralidade da diplomacia
no contexto da política externa, referindo também a propaganda e a acção
económica. Finalmente, procedemos a uma breve sistematização dos principais factores de enquadramento analítico, sugerindo alguns elementos de reflexão sobre a problemática da avaliação de resultados em política externa.
O objecto de análise refere-se apenas ao modelo dos regimes políticos democráticos de tipo ocidental, em cujo contexto o caso português se insere, e
onde o primado do direito, a liberdade de expressão política pluralista e a representação parlamentar asseguram o debate e a alternância entre perspectivas
diferenciadas, bem como - e ainda que de formas diferenciadas e em grau
variável - a participação da sociedade civil nos referidos processos.
Procuramos, assim, corresponder à necessidade básica e específica da adaptação expositiva a uma funcionalidade esquemática de abQrdagem que não
visa uma finalidade analítica aprofundada. Perante o objectivo introdutório e
elementar sobre a APE, pressupõe-se um conhecimento suficiente sobre as
teorias das RI, que se torna decisivo para a análise e para o estudo comparado
da política externa.
A opção metodológica adoptada concede relevância aos esforços de evolução teórico-conceptual surgidos a partir dos anos 60, que se situam na origem,
entre outras, das noções de "linkage" e ''penetration'', bem como da tendencial
indefinição entre os contextos "doméstico" e "internacional", todas elas inseridas na esteira de uma "global society approach" centrada no reconhecimento
das interdependências de complexidade crescente e na inevitabilidade da respectiva gestão integrada, decorrentes da verificada transnacionalização dos
relacionamentos (Santos, 2009, 1993). Privilegia-se, no entanto, a esquemática elementar da abordagem a partir da formulação operacional das noções e
dos conteúdos conceptuais, no sentido de possibilitar futuros esforços de
eventual aprofundamento da pesquisa, a partir das bases teórico-analíticas definidas.
XVIII
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
LEITURAS COMPLEMENTARES
- ALDEN, Chris, AMNON, Aran, 2011, Foreign Policy
Analysis. New Approaches, London, U.K., Routledge.
- CARLSNAES, Walter, GUZZINI, Stefano, 2011, Foreign
Policy Analysis, London, U.K., Sage.
- HUDSON, Valerie, 2006, Foreign Policy Analysis. Classic
and Contemporary 1heory, New York, N.Y., Rowan & Littlefield Publishers.
- MINTZ, Alex, DEROUEN Jr., Karl, 2010, Understanding
Foreign Policy Decision-making, Cambridge, U.K., Cambridge University Press.
- SMITH, Steve, HADFIELD, Amelia, DUNNE, Tim,
2008, Foreign Policy: 1heories, Actors, Cases, Oxford, U.K.,
Oxford University Press.
XIX
:ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
WEBOGRAFIA
www.foreignpolicy.com
www.foreignaffairs.com
xx
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ANDERSON, Benedict, 1991, Imagined Communities. Reflectiom on the
Origin and Spread 01 Nationalism, revised edition, London, u.K., and
New York, N.Y., Verso.
- HUNTZINGER, Jacques, 1987, Introduction aux Relations Internacionales,
Paris, Du Seuil.
- INNERARITY, Daniel, 2004, A Sociedade Invisível, Lisboa, Teorema.
- ISA, International Studies Association, 2009,"Foreign Policy Analysis" ,
Curators of the University of Missouri, in http://foreignpolicyanalysis.
org/, consultado em 10 de Maio de 201!.
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 2007, Introdução à Teoria das Relações Internacionais. Referências de
Enquadramento Teórico-Analítico, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 2000, "Reflexões sobre a Problemática da Avaliação de Resultados
em Análise de Política Externa", in Discursos. Estudos em Memória do Prof
Doutor Luís Sá, Lisboa, Universidade Aberta, Dezembro de 2000, pp. 89109.
___ , 1993, "Ordem Mundial e Relações Internacionais", in Nação e
Defesa, nO 68, Lisboa, Instituto da Defesa Nacional, Out.-Dez., 1993, pp.
33-75.
- SMITH, Anthony D., 1991, NationalIdentity, London, U.K., Penguin
Books.
- WEBBER, Mark, SMITH, Michael et ali., 2002, Foreign Policy in a Transformed World, Edinburgh Gate, Harlow, U.K., Pearson Education I Prentice Hall.
XXI
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ANDERSON, Benedict, 1991, Imagined Communities. Reflectiom on the
Origin and Spread 01 Nationalism, revised edition, London, U.K., and
New York, N.Y., Verso.
- HUNTZINGER, Jacques, 1987, Introduction aux Relatiom Internacionales,
Paris, Du Seuil.
- INNERARITY, Daniel, 2004, A Sociedade Invisível, Lisboa, Teorema.
- ISA, International Studies Association, 2009,"Foreign Policy Analysis",
Curators of the University of Missouri, in http://foreignpolicyanalysis.
org/, consultado em IOde Maio de 2011.
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ ,2007, Introdução à Teoria das Relações Internacionais. Referências de
Enquadramento Teórico-Analítico, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 2000, "Reflexões sobre a Problemática da Avaliação de Resultados
em Análise de Política Externa", in Discursos. Estudos em Memória do Prof
Doutor Luís Sá, Lisboa, Universidade Aberta, Dezembro de 2000, pp. 89109.
___ , 1993, "Ordem Mundial e Relações Internacionais", in Nação e
Defesa, nO 68, Lisboa, Instituto da Defesa Nacional, Out.-Dez., 1993, pp.
33-75.
- SMITH, Anthony D., 1991, NationalIdentity, London, U.K., Penguin
Books.
- WEBBER, Mark, SMITH, Michael et ali., 2002, Foreign Policy in a Tramformed World, Edinburgh Gate, Harlow, U.K., Pearson Education / Prentice Hall.
XXI
ELEMENTOS DE ANÁLISE O:t POLÍTICA ExTERNA
Objectivos do Capítulo
- Caracterizar o estado em termos da génese e da evolução
teórico-conceptual e da projecção operacional do conceito, através dos seus elementos constitutivos e interactuantes, relacionando-os com o conceito de nação.
- Assinalar as características de identidade própria e os objectivos concretos do estado, enquanto forma de organização política e jurídica específica, na sua articulação com
o território e com a nação.
- Abordar o debate sobre a "crise do estado soberano" e a
sua relação com o facto nacional, enquadrando as premissas analíticas no plano das interdependências crescentes.
Síntese dos temas abordados
- As génese e a evolução do conceito teórico e operacional
do actor estado em articulação com o conceito de nação.
- Descrição dos elementos constitutivos dos estados e das
suas interacções, acentuando a relação entre estado e nação.
- Reflexões sobre o debate "crise do estado soberano" e sua
relação com a nação, no contexto da evolução do ambiente relacional e da inserção do estado na sociedade internacional.
22
Os EsTADOS
r
-("'
"Aceitar ofacto básico de que o homem só vive em sociedade
náo implica reconhecer que necessariamente
tem de viver numa sociedade política
nem que o Estado é a sociedade política necessária. "
Adriano Moreira,
in Ciência Política,
(1979b, 19-20).
CAPÍTULO
I
Os ESTADOS
1.1. - Características e Evolução do Conceito de Estado
Numa perspectiva alargada ao plano das Ciências Sociais, Políticas e Jurídicas, o estado pode ser considerado como um "fenómeno histórico, sociológico e político" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,373). Desde a sua origem, no
século XV, até à actualidade, o conceito de estado tem evoluído, adquirindo
conteúdos operacionais nos planos da Ciência Política, do Direito e das RI.
No campo de estudos e no plano analítico próprio das RI, o actor estado
representa a correspondência intrínseca estabelecida entre um território, uma
população e uma estrutura política. Neste contexto, o fenómeno estatal adquire expressão através da convergência entre elementos, políticos, sociais e
geográficos, cuja interacção sinérgica se traduz na génese e na permanência de
uma entidade histórico-institucionalmente definida, geoculturalmente identificável como grupo social autónomo, distinto dos outros que se situam no
seu ambiente relacional, e socioeconomicamente viável em termos de autonomia relativa, inserida numa rede de interdependências.
Numa perspectiva de integração sistémica do conceito de estado, Adriano
Moreira recorre a Jacques Huntzinger, observando que a noção de sistema é
utilizada em RI "na convicção de que é possível afirmar a existência de 'relações regulares entre o comportamento dos Estados e o tipo de ambiente em
23
ELEMENTOS DE P.NÁLlsi DE POLÍTICA ExrERNA
,,'r."'C iII
que se encontram"'(Moreira, 2002, 321 e n. 250). E, neste sentido, considera
o estado como um sistema formado por
"um conjunto de elementos com identidade própria, interdependentes por um feixe de relações, e que se perfilam dentro de uma
fronteira"(Moreira, 2002, 354).
Identidade própria e autonomia relativa num contexto determinado, interdependência elementar, interacções relacionais e um espaço territoriallimitado pela coexistência inevitável com outras entidades sociais politicamente
organizadas, são as características de um sistema a que chamamos estado, que
integra sub-sistemas de natueza diversificada e que, por sua vez, se integra
num sistema mais vasto, formado por unidades políticas semelhantes.
Numa perspectiva político-jurídica generalizadamente aceite, o estado "é
um povo, sobre um território, organizado em torno de um determinado poder político" (Maltez, 1991, II, 26), ou seja, pode ser
"definido como 'uma colectividade que se compõe de um território
e de uma população submetidos a um poder político organizado' e
'carcteriza-se pela soberania"'(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,374 e n.s).
No contexto académico e disciplinar das RI, a definição de estado tem por
objectivo a identificação específica deste "fenómeno" e da "instituição" que
lhe corresponde, isolando-o conceptual e operacionalmente dos outros actores das relações internacionais.
Será, no entanto, pertinente recordar que o estado de direito, constituindo
"o principal sustentáculo da nossa ordem internacional acaba por ser
uma crença dependente do movimento das ideias, algo que flutua ao
sabor das vagas doutrinárias dos mestres intelectuais e das vulgatas dos
comunicadores, na relação directa com a opinião pública. Com efeito, neste nosso tempo de 'incertezas' científicas, os homens não conseguiram ainda entender-se quanto à noção mínima relativalemente
à matriz institucional susceptível de lhes proporcionar uma relação
estável"(Maltez, 1991, II, 9).
Também neste sentido, e começando por opercionalizar o conceito de ins-
tituição, definindo-a como
24
Os EsTADOS
"'"
"uma empresa ao serviço de uma ideia e organizada de tal modo que,
estando a ideia incorporada na empresa, esta dispõe de uma duração
e de uma potência superiores às dos indivíduos através dos quais ela
age" (Burdeau, 1970, 79-80),
Georges Burdeau reconhece e identifica, no estado, todos os elementos
institucionais referidos, permitindo-lhe caracterizá-lo, em primeiro lugar,
como
"o Poder institucionalizado e depois, por extensão, [como] a própria
instituição na qual reside o poder" (Burdeau, 1970, 79).
Os estados são geralmente considerados como os actores principais, ou
mesmo "privilegiados", das relações internacionais. O chamado estado moderno de tipo ocidental surge na Europa do Renascimento, constituindo a
fase mais complexa de um longo processo de articulação entre uma população, um território e uma estrutura política, traduzindo-se, tal como referido,
pelo reconhecimento da sua relação interactiva. Trata-se de uma correspondência fixada entre o grupo social politicamente organizado e o "príncipe",
mediada pelo espaço territorial que a população ocupa, e sobre cujo conjunto,
aquele exerce a sua função e autoridade.
Esta autoridade é inerente ao exercício da acção política. Podemos definir
conceptualmente política como o conjunto das acções que têm por finalidade
a aquisição, preservação, exercício e acrescentamento do poder, bem como as
acções conducentes à realização indirecta desses objectivos, designadamente,
em termos de aquisição e potenciação dos elementos que o viabilizam. A variação espácio-temporal das modalidades distributivas e de exercício do poder, evidenciam a sua permanência como factor de referência essencial, constante analítica e denominador comum a todas as formas de organização
política das sociedades. O estado constitui uma dessas formas de organização,
na medida em que é através da detenção e do exercício do poder político que
as sociedades asseguram a sua própria existência. O estado soberano representa
uma forma caracteristicamente ocidental dessa organização política consolidada ao longo de vários séculos, baseada nos princípios da soberania e da
territorialidade, consagrados como os "pilares de Westphalià'.
A Convenção de Montevideu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de
1933, identifica, no seu Art.° 1.0, os elementos constitutivos dos estado, designadamente, uma população, um território definido, um governo e capacidade de estabelecer relações com outros estados (Escarameia, 2003). A mesma
convenção declara, no seu Art.O 4.°, a igualdade jurídica entre os estados con-
25
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
ferindo-lhes os mesmos direitos e reconhecendo-lhes igual capacidade do seu
exercício. A igualdade jurídica decorre da igualdade soberana dos estados,
constituindo esta, um dos princípios fundamentais consignados na Carta das
Nações Unidas (Escarameia, 2003) e sendo equivalente, enquanto atributo
fundamental do estado, à afirmação da sua independência política (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999,384).
O território, a população e a estrutura política representam, pois, os três
elementos constitutivos do estado soberano, cuja capacidade relacional, materializa a realidade da sua própria existência, natureza específica e interacções relacionais, conferindo um conteúdo operacional à construção político-jurídica
do conceito teórico de estado. É neste plano que se identificam as características próprias de cada estado, que se estabelecem as diferenças e se verificam as
hierarquias entre estes actores do sistema internacional, permitindo a Marcel
Mede concluir que "[o] Estado é uma abstracção; os Estados são realidades"
(Mede, 1982,299).
As definições de estado variam conforme a perspectiva política de quem
detém e exerce o poder. Kelsen refere que "[o] Estado somos nós", caracterizando a democracia como "o Governo do povo pelo povo". Noutra perspectiva que acentua a "permanente diferenciação" entre governantes e governados, o Estado é considerado como a sede do poder efectivo que, no caso
extremo, pode ser uma só pessoa. Neste sentido, o "1'État c'est moi", de Luís
XIV, caracteriza o limite absoluto de todas as autocracias possíveis (Moreira,
2002,353).
Caracterizando o exercício da autoridade e do poder como a acção política
de um governo,
"a definição mais curta de Estado é talvez a de uma comunidade política estável, dotada de uma ordem jurídica, estabelecida numa determinada área. A existência de um governo efectivo, com órgãos administrativos e legislativos centralizados, constitui a melhor evidência de uma
comunidade política estável"(Brownlie, 1997, 95).
O aparecimento de outras entidades geradoras de poder, dentro e fora do
estado, influencia decisivamente a perspectiva de Bertrand de Jouvenel, para
quem o "estado é um certo governo de vários grupos e do que lhes é comum,
usando um poder soberano"(Moreira, 2002, 353). Como acentua Adriano
Moreira, é devido a este fenómeno que convém distinguir e limitar operacionalmente os conceitos de sistema político e regime político, pois a organização
política, cujas finalidades foram referidas, sofre evoluções significativas. De
facto, o
26
Os EsrADOS
"fenómeno da luta pela aquisição, manutenção e exercício do poder
político excede externa e internamente os quadros organizacionais desse poder"(Moreira, 2002, 354).
Assim, se considerarmos o estado como o aparelho do poder, verificamos
que ele não coincide necessariamente com o "sistema político integral", podendo transcender, no plano externo, o espaço territorial da soberania através
da expansão político-ideológica do sistema, ou no plano interno, no caso de o
poder de decisão não corresponder, de facto, aos órgãos "institucionalmente
apontados", originando o fenómeno da "clandestinidade do estado"(Moreira,
2002, 134). Existem, de facto, contra-poderes internos e forças de pressão
organizadas, bem como uma articulação externa determinada, quer pelos
compromissos assumidos, quer pela existência de entidades e conjunturas que
limitam a soberania, mesmo sem o seu consentimento expresso. Constituem
exemplos destes casos, o facto de os estados não poderem ignorar os efeitos
decorrentes de tratados celebrados entre terceiros, ou o facto das filiações partidárias internacionais, quando implicam a concertação e a obediência política dos indivíduos e dos sub-actores da sociedade civil, a princípios ideológicos
comuns que transcendem o plano nacional do estado.
A excedência registada do sistema político em relação ao estado, considerado como o aparelho do poder soberano, resulta, entre outros efeitos, designadamente jurídicos, na verificação do princípio da hierarquia das potências.
O regime político pode, pois, não coincidir com a extensão do sistema, interna ou externamente considerado, tendo que conviver, no contexto do próprio
sistema, com outras expressões de poder, não necessariamente instituído ou
legitimado, mas que limitam e influenciam o exercício do poder soberano,
organizado e institucionalizado, por parte do estado, designadamente, em termos de capacidade relacional.
Neste sentido, Adriano Moreira considera que,
"[j]ustamente porque a questão do poder de reger o sistema é central, a
definição do regime exprime-se num normativismo que visa disciplinar
as relações entre os elementos do sistema, e esse normativismo nunca é
exclusivamente de meios. fins, não é na totalidade eticamente neutral,
tem apoios e contestações internos e externos, decorrentes das diferentes escalas de valores, objectivos, interesses, concepções do mundo
e da vida que se colocam desafiantes perante as opções da totalidade
dos homens e das instituições que constituem a organização política"
(Moreira, 2002, 355).
27
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
A manifestação externa destas limitações decorrerá da oposição interna representada, não apenas pelos contra-poderes não legitimados, mas com expressão concreta no terrorismo e na guerra civil mesmo se, em democracia, o
regime político fundamentar a legitimidade do exercício do poder numa
Constituição. Pode verificar-se, com efeito, uma falta de autenticidade ou de
correspondencia entre a Constituição proclamada e a realidade governativa.
O totalitarismo de Mussolini ou o autoritarismo de Hitler, correspondem a
uma ditadura de partido. A legitimidade revolucionária instituída pela Revolução Francesa, fundamentava o exercício do poder até à imposição da "utopia directora" assumindo, pois, poderes constituintes.
É nestes casos que as oposições se encontram, de facto, excluídas do enquadramento dito democrático, tendo de recorrer a meios de expressão contrários
à normatividade da ordem política e jurídica estabelecida. Intervêm aqui, com
frequência, a justificação da "razão de estado" (Moreira, 2002, passim; Maltez,
1991, II, 76-82) ou a solicitação de "poderes especiais" ou "de excepção",
pelos "governos de crise" e pelos "pactos de regime" que correspondem ao
sentido da ditadura romana, transitória e legitimizada temporariamente com
o objectivo de superar a crise (Maltez, 1991, II, 76-82).
O significado da evocação da "razão de estado", articulada com a noção de
"interesse nacional" ou de "interesses público", está, assim, frequentemente
relacionada com a "razão do príncipe"(Mandrou, 1980) sendo, quando necessário, imposta pela força, considerada como elemento "inerente ao fenómeno político". Neste sentido, o regime político consiste "'na solução que se
dá de facto aos problemas políticos de um povo"'Oiménez de Parga, apud
Moreira, 2002, 355).
Neste contexto,
"[o] regime político pode, portanto, não abranger a regência de todo
o sistema, nem interna, nem externamente, e os elementos que ficam
subtraídos a tal regência representam, no ambiente decisório do poder
político, limitações que fazem com que as expressões Estado, soberania
e poder político não tenham o mesmo conteúdo para todos os regimes
observáveis e formalmente equivalentes, designadamente possuindo
constituições escritas coincidentes"(Moreira, 2002, 355).
28
Os EsTADOS
1.2. - Os Elementos Constitutivos do Estado
1.2.1. A População
A população constitui o elemento determinante da existência do estado.
Referindo-se a uma "população permanente", a Convenção de Montevideu
estabelece uma associação elementar intrínseca entre população e território,
acentuando a necessidade da existência de uma "base física que sirva de suporte a uma comunidade organizada"(Brownlie, 1997, 85).
A afirmação de que "sem população não há estado"(Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 374) conduz, em primeiro lugar, à definição da própria população. Neste contexto, e enquanto elemento constitutivo do estado, a população pode ser perspectivada segundo um critério descritivo, no plano
estritamente operacional das suas características geográficas e demográficas.
Neste sentido, evidencia-se a importância do elemento demográfico, em
termos de quantidade e distribuição geográfica da população, características
da sua estrutura etária, distribuição de riqueza, etc., bem como das suas
capacidades individuais e colectivas em termos de literacia, graus de qualificação educacional e de especialização profissional, traduzidos na utilização
sincrética e consequente dos recursos, da mobilização em torno de elementos de coesão identificados, consciencializados e aceites, da participação política da sociedade civil em termos de exercício de influência sobre os aparelhos decisionais, etc.
Em segundo lugar, aquela afirmação conduz também à questionação sobre
a constituição dessa população, bem como às relações estabelecidas entre esta
e o estado, considerado no sentido estrito de uma estrutura política organizadora de um ordenamento que constitui a base da correspondência e da coerência sincrética entre a população e o território. Neste sentido, a noção de
população deve ter em consideração, por um lado, os indivíduos estrangeiros
residentes no território e, ao mesmo tempo, os indivíduos nacionais residentes no estrangeiro. No entanto, ao atribuirmos à noção de população a classificação de elemento constitutivo, torna-se pertinente questionar a participação
constitutiva dos residentes estrangeiros que preferem manter a sua nacionalidade original ou, inversamente, a exclusão constitutiva dos nacionais residentes no estrangeiro, que preferem participar na vida política do seu estado de
origem.
Estabelece-se aqui uma articulação intrínseca entre as noções de nacioalidade e de população. Se, em sentido lato, podemos considerar a população de
um estado como o conjunto dos "habitantes que vivem e trabalham no seu
território", num sentido estrito, ou seja,
29
;I
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
"[e]nquanto elemento constitutivo do Estado, a população é entendida sobretudo como a massa dos indivíduos ligados de maneira estável
ao Estado por um vínculo jurídico, o vínculo da nacionalidade. É o
conjunto dos nacionais. A nacionalidade cria uma fidelidade pessoal do
indivíduo para com o seu Estado nacional; ela fundamenta a competência pessoal do estado, competência que o autoriza a exercer certos poderes sobre os seus nacionais onde quer que eles se encontrem" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999, 375).
Esta perspectiva jurídica é tributária do princípio das nacionalidades, originário do século XIX, segundo o qual,
"todos os indivíduos que pertencem a uma mesma nação têm o direito
- mas não a obrigação de viver no interior de um estado que lhes seja
próprio" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,376).
Apesar de não ser considerado como princípio geral de direito internacional,
o princípio das nacionalidades tornou-se um elemento decisivo do legado político ocidental, em cujo contexto, constituiria a referência fundamental de vários
regimes convencionais adoptados e consagrados ao longo dos séculos XIX e XX.
Neste contexto, o estado-nação ou estado nacional, procura ser a realização concreta da correspondência desejavelmente intrínseca e mediada pelo
território, entre uma entidade política e uma entidade social, mas cuja prática demonstra não ser sempre viável no plano da realidade política internacional. Com efeito, a sua existência é frequentemente sujeita aos interesses
estratégicos de outros estados, ou à viabilidade geoeconómica da entidade
sócio-política que se pretende constituir e afirmar através da expressão territorial, como estado.
A estes factos, acresce ainda o desacordo entre as concepções subjectiva e
objectiva do conceito de nação, questionando-se também a relação de precedência entre esta e o estado. Tal como referido, é aceite por vários autores que,
em geral, o estado origina e molda a nação, conferindo-lhe um sentido de
pertença que se torna indutor da acção racionalmente desenvolvida e dirigida
à defesa do estado, designadamente, da integridade do seu elemento territorial, como condição necessária à preservação do seu próprio bem estar e do
melhoramento da qualidade de vida dos cidadãos nacionais.
O termo povo designa o conjunto de indivíduos que formam a população,
ou seja, a universalidade dos cidadãos submetidos ao mesmo poder político.
Porém, é pouco frequente, a coincidência entre povo e nação. Verifica-se que
o critério que preside à definição de povo se baseia na relação entre o poder
30
Os
ESTADOS
político e a sociedade, isto é, o conjunto de indivíduos, os cidadãos sobre os
quais esse poder é exercido, e não se baseia
"na natureza das relações que, eventualmente, dão carácter nacional a
tal conjunto de pessoas, porque o estado pode ser multinacional e não
corresponder a uma nacionalidade"(Moreira, 2002, 364).
Apesar de poder suscitar comportamentos organizativos colectivos, a nação não corresponde necessariamente a um enquadramento de organização
política, designadamente, a um estado. De facto, existem nações divididas
entre vários estados, tal como existem estados que compreendem em si várias
nações. O designativo povo refere-se, em ambos os casos, ao colectivo social da
população, que constitui um dos elementos fundamentais do estado, mas que
não corresponde necessariamente a uma nação.
A correspondência entre estado e nação tem funcionado, no entanto, ao
nível do imaginário político como projecto catalizador e orientador da transformação evolutiva das relações interpessoais e intergrupais, no sentido da
construção social de estruturas de lealdade e de uma percepção de pertença
colectiva, que adquirem expressão numa realidade societal a que chamamos
nação. De facto, essa desajada correspondência tem constituído uma visão de
idealismo político de difícil tradução concreta no plano das realizações e da
construção de uma realidade internacional, apesar de tudo, baseada no conceito ideal de estado-nação.
Por isso mesmo, vários autores afirmam que terá sido o estado a construir
socialmente a nação, no sentido de lhe dar forma e de conferir expressão de
coesão, consistência e coerência de acção, a um colectivo humano que constitui o seu povo, independentemente da sua pertença nacional. Outros autores
vêem nesse enquadramento de organização política que é o estado, o resultado
derivado da percepção comum da necessidade de satisfação colectiva de interesses de um grupo social específico que se identifica em termos de comunidade, ainda que, e tal como referido, "imaginada", e se caracteriza como nação
(Anderson, 1991). A nação surge, pois, como unidade social polarizadora da
acção política, ou como a entidade societal que origina e que confere a razão
de ser à dinâmica que conduz e orienta o processo de criação e estabelecimento das modalidades de organização política. Este processo envolve sempre elites que, de algum modo, adquiriram autoridade e legitimidade de acção.
O princípo tÚJs nacionalidades, mais tarde consagrado no ideal do estado-nação, viria a operar a indiferenciação entre povo e nação. Esse princípio constituiase, assim, numa expressão do desejo esperançado de que seria possível estabelecer uma correspondência efectiva entre aqueles dois conceitos, e uma identidade
31
:"ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
concreta entre estas duas realidades, fazendo coincidir a expressão social do conjunto humano sobre o qual se verifica o exercício do poder político, ou seja, o
povo, com a expressão cultural diferenciada e exclusiva que permite identificar
em cada indivíduo, o sentido da pertença comum, ou seja, a nação.
1.2.2. O Território
O território é o elemento constitutivo espacial, de expressão geográfica, do
estado. Tal como acontece relativamente à população, também sem território
não existe estado. A interdependência estabelecida entre os outros dois elementos constitutivos do estado verifica-se, tendo como base física, o território. É sobre ele que a sua população habita, e é sobre ele que a estrutura política exerce as suas competências de soberania interna.
A relação intrínseca entre a população e o território constitui a base dos
vínculos sociais, históricos e culturais entre os indivíduos e a terra. Em certos
casos, esta articulação entre o grupo social e a terra gera um sentido de pertença a partir do qual se verifica, por um lado, a génese da referida estrutura de
lealdades interpessoais entre os indivíduos que compõem o grupo social e que
poderá tornar-se numa nação, e por outro lado, o princípio de fidelidade do
grupo em relação a quem exerce o poder.
O território torna-se o elemento mediador entre o grupo social enquadrado
por um poder político, e o "príncipe" ou a elite dirigente que exerce esse poder, representando a base matricial do princípio da territorialidade. Mas, ao
mesmo tempo, o território constitui também o espaço físico inerente à subsistência do grupo e à sobrevivência dos seus elementos individuais. Neste sentido, o território representa um recurso ao qual a comunidade atribui o valor
correspondente à sua capacidade de satisfação imperativa das respectivas necessidades básicas, tornando-se por isso, um elemento potencialmente gerador de comportamentos conflituais e uma potencial "fonte de malentendidos" (Badie, 1996, 8), no plano das relações políticas interestatais.
N este contexto, perante a necessidade colectiva da defesa de um espaço
comum e exclusivo, identificado nos seus limites territoriais pela extensão
geográfica do exercício da autoridade do "príncipe", o grupo cria um vínculo de ligação intrínseca ao chão que defende, em obediência a esta autoridade exercida pela estrutura política, é certo, mas porque esse chão é - ou
passará a ser - a sua terra. A lógica de organização espacial concretizada
através da fixação de limites territoriais torna-se
32
Os ESTADOS
"o princípio estruturante de uma comunidade política e o meio discriminante de controloar uma população, de lhe impor uma autoridade,
de afectar e inRuênciar o seu comportamento. O princípio da territorialidade torna-se assim político, não naturalmente, mas impondo-se
como instrumento de dominação no seio da sociedade"(Badie, 1996,
12; ver, th., Devetak, 1995; Santos, 2007, Cap. II).
A nação eventualmente resultante deste processo, corresponde, espacialmente, a um território definido, delimitado, que é o estado nacional.
Enquanto elemento constitutivo do estado, o território representa o resultado da aplicação desta lógica de organização espacial, de uma modalidade politicamente definida de partilha do espaço, entre outras modalidades possíveis, e
que corresponde, nos seus limites e fronteiras geográficas, à expressão sintetizada
da dialéctica estabelecida entre poderes políticos opostos, ou entre os desafios da
orografia e da geografia, e as capacidades de resposta, em termos de gestão dos
obstáculos físicos, por parte do grupo social politicamente organizado.
O território é também um elemento diferenciador dos estados em termos
de projecção das respectivas capacidades, e da gestão dos constrangimentos
inerentes. Com efeito, a importância da constituição física do território tornase determinante para a perspectiva e a percepção que a sua estrutura política e
a sua população têm da sua situação geográfica relativa, e das suas capacidades
em relação aos outros estados, ou seja, do posicionamento determinante da
sua visão própria e do seu modo específico de estar no mundo.
Neste contexto, são importantes a forma e a dimensão física do território,
a sua capacidade de satisfação das necessidades da população como fonte directa de recursos ou de acesso aos mesmos, bem como da sua localização geográfica e posicionamento relativ~ente ao conjunto geoestratégico e geopolítico regional em que se insere. E importante a característica continental,
insular ou arquipelágica do território, a capacidade de acesso ao mar, as características orográficas, localização e distribuição dos principais acidentes geográficos, como cadeias de montanhas, a existência de rios, a constituição dos
solos e dos sub-solos, a vizinhança ou proximidade de outros estados de interesses potencialmente conflituantes, que fazem das fronteiras áreas de relação
normalizada, de contactos regulares ou condicionados, ou áreas de defesa e
linhas de limite, de separação, eventualmente, de isolamento recíproco entre
entidades estatais.
O território é constituido por áreas terrestres, marítimas, fluviais, lacustres
e aéreas. O chamado espaço exterior não faz parte dos territórios dos estados.
O território terrestre compreende o solo e o subsolo das áreas delimitadas
pelas fronteiras terrestres e marítimas. Pode ser contíguo ou separado por rios,
33
:ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
canais, áreas marítimas ou áreas terrestres pertencentes a outro estado, constituído por várias ilhas mais ou menos distantes entre si, ou ainda por áreas
continentais e insulares. Quando se trata de fronteiras terrestres fluviais e marítimas entre estados, a sua delimitação consiste em linhas traçadas segundo
regras convencionadas internacionalmente, podendo ser aproveitados acidentes orográficos que servem como fronteiras naturais, ou áreas demarcadas no
terreno e politicamente convencionadas.
Em relação aos territórios marítimo e aéreo, o estabelecimento de fronteiras é um processo complexo. Quanto ao território marítimo encontram-se
ainda por definir as modalidades de exercício de uma "jurisdição funcional",
traduzidas nos "feixes de competências" soberanas para além da largura das
doze milhas em relação à costa, que correspondem ao chamado mar territorial
ou águas territoriais, e sobre as quais o estado ribeirinho exerce soberania plena. O direito de perseguição fora das águas territorais, o direito de passagem
inocente, os direitos de utilização e exploração sobre a chamada zona contígua, sobre a plataforma continental, em zonas de pesca ou sobre a zona económica exclusiva, sobre a exploração dos fundos e do sub-solo marinhos, bem
como da coluna de água e do espaço aéreo adjacente à superfície, constituem
casos específicos que se encontram regulamentados, entre outros instrumentos, pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de Dezembro de 1982 (Santos, 2001, Cap. VII).
As fronteiras do território ou espaço aéreo, situam-se no prolongamento vertical das fronteiras terrestres e marítimas, continuando por definir os limites
horizontais superiores desse território. A utilização e exploração do chamado
espaço exterior encontra-se regulamentada por vários tratados e convenções que
convergem, entre outros aspectos, na negação total dos direitos e/ou reivindicações de soberania por parte de qualquer estado. Entre os vários acordos que regulamentam a actividade humana no espaço exterior, destacam-se o Tratado
sobre os Princípios que devem reger as Actividades dos Estados na Exploração e
Utilização do Espaço Exterior, incluindo a Lua e outros Corpos Celestes, de
Janeiro de 1967, e o Acordo que deve reger as Actividades dos Estados sobre a
Lua e outros Corpos Celestes, de Dezembro de 1979 (Santos, 2001, Cap. VIII).
Também aqui se verifica que a hierarquia das potências se traduz na capacidade
tecnológica que permite a utilização e a exploração apenas a alguns estados.
A problemática do reconhecimento internacional dos limites territoriais
origina, frequentemente, conflitos relativos ao traçado das fronteiras, existindo regulamentações e técnicas precisas de traçado de fronteiras fluviais, lacustres e marítimas, de estreitos internacionais e de conjuntos arquipelágicos. No
entanto, apesar da importância fundamental do território como elemento
constitutivo do estado, o essencial é que exista, nesse território
34
Os
ESTADOS
"uma comunidade política razoavelmente estável e esta deve controlar uma
determinada área. A prática anterior demonstra claramente que não é exigida a existência de fronteiras totalmente definidas e o que importa é o estabelecimento efectivo de uma comunidade política"(Brownlie, 1997,95).
1.2.3. A Estrutura Política
Consideradas as características intrínsecas do actor estado, poderemos definir a estrutura política enquanto seu elemento constitutivo, como a entidade
ou conjunto de entidades orgânicas que formam o governo e que, dentro
desse estado, exercem a autoridade e o poder, sobre o conjunto da população
e do território. O exercício da autoridade concretiza-se nas formas de relacionamento entre governantes e governados, através das quais, se consegue a
"obediência pelo consentimento, decorrente do reconhecimento da legitimidade de quem manda"(Moreira, 1979,22). O exercício do poder, frequentemente expresso através do uso da força ou da ameaça da sua utilização, representa a capacidade de conseguir a obediência por constrangimento a partir do
reconhecimento dessa capacidade de exercício da violência, e não do reconhecimento da autoridade legitimada de quem a exerce.
O relacionamento entre governantes e governados estabelece-se segundo as
diversas formas de regime político, designadamente, regimes republicanos e
monárquicos, democráticos de direito, autoritários, autocráticos, ditatoriais
etc .. Quanto ao estatuto, verifica-se também, que nem todas as formas de estado são soberanas. Neste contexto poderemos identificar vários tipos de estado, desde o estado unitário, aos estados federados, confederados, associados e
condomínios, aos estados vassalos, aos protectorados, aos mandatos, etc ..
A noção de soberania deriva da articulação entre os conceitos de legitimidade, autoridade, poder e força, sendo considerada como o princípio organizador fundamental das relações interestatais, na medida em que separa político-juridicamente as esferas interna e externa do exercício do poder. Neste
contexto, o conceito de soberania exprime, na sua origem, "uma força que
reúne simultaneamente a autoridade e o Poder"(Moreira, 1979,23).
Ao mesmo tempo, a soberania designa a situação caracterizada por Bodin,
no século XV, quando referia que o soberano não reconhece qualquer poder
igual dentro do seu estado, e que nas suas relações externas não reconhece
qualquer poder superior. A consideração de um
"poder sem igual na ordem interna e sem superior na ordem externa deu nova actualidade ao problema da relação entre a força e a
legitimidade" (Moreira, 1979b, 23).
35
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Com efeito, na esfera interna, o poder soberano confere à estrutura política ou governo, o domínio exlcusivo da capacidade de estabelecimento de uma
ordem política e jurídica, independentemente do grau de legitimidade de
exercício do poder. Na esfera externa, tendo a independência como corolário
de garantia, a soberania estabelece uma igualdade jurídica entre os estados.
Assim, enquanto que no plano interno "a soberania do Estado não se choca
com qualquer outra", o mesmo não sucede na sociedade internacional, onde
"coexistem entidades iguais, tendo as mesmas pretensões ao exercício da soberania absoluta"(Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 75). Porém, se, por um lado, o
direito internacional constitui "o indispensável regulador" da referida coexistência inevitável, àquela igualdade jurídica corresponde uma desigualdade de
facto, em termos de capacidade do exercício do poder, que induz o reconhecimento de uma hierarquia de estados baseada nesse factor de referência essencial, elevado à categoria de critério analítico das relações.
No plano jurídico, o estado identifica-se como um actor das relações internacionais a partir do seu reconhecimento como sujeito de direito internacional, verificando-se que
"[a] sua definição ambiciona essencialmente isolar este fenómeno e esta
instituição jurídica de outras entidades que desempenham um papel
nas relações internacionais: o estado deve permanecer um sujeito de
direito suficientemente poderoso e 'raro' para pretender conservar um
lugar privilegiado na condução das relações internacionais. Este fim é
alcançado na medida em que o Estado é o único sujeito de direito que
beneficia de um atributo fundamental, a soberania ou a independência"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,373).
Neste sentido, o estado soberano possui um estatuto que traduz "a totalidade das prerrogativas que a comunidade internacional lhe atribui", e que
pode ser definido como
"o conjunto de competências internacionais que lhe pertencem de
acordo com o direito internacional"(Moreira, 2002, 344-345).
Este estatuto encontra-se previsto e regulamentado, designadamente quanto às respectivas competências externas decorrentes do atributo fundamental
da soberania, em diversos instrumentos de direito internacional, sendo essas
competências e atributos, bem como o respeito e o cumprimento dos respectivos deveres e obrigações, da responsabilidade da estrutura política ou governo.
36
Os EsTADOS
0.
o estado soberano deve, em princípio, assegurar o governo efectivo do seu
território, o que implica a superioridade político-jurídica do aparelho político
governamental em relação a outros poderes ou sub-actores de base interna,
bem como garantir, em condições de plena igualdade em relação aos outros
estados, o monopólio do exercício dos seus direitos no plano internacional. A
soberania evidencia-se, pois, como um elemento fundamental entre os critérios jurídicos da atribuição da qualidade de estado (Brownlie, 1997, 84-91)
constituindo, ao mesmo tempo, um dos princípios organizadores dos relacionamentos interestatais e um dos elementos estruturais e estruturantes do sistema internacional.
A salvaguarda da soberania e da independência política, encontra-se protegida pelo princípio da não-ingerência nos assuntos internos dos estados, consagrado também na Carta das Nações Unidas, designadamente, no seu Art. °
2.° § 7.°, pela inviolabilidade do território e pelo direito de autodeterminação
dos povos, bem como pelo conceito jurídico do "domínio reservado", cuja
extensão evolutiva e dinâmica própria são inerentes à própria variação do alcance dos compromissos assumidos pelo estado ou pelas intervenções das organizações internacionais.
Neste contexto, o conceito de soberania
"exprime ao mesmo tempo a submissão do Estado ao direito internacional e a liberdade de decisão do Estado quando o direito internacional se
contenta em fundamentar as competências estatais sem regulamentar
as modalidades de exercício" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 398).
Para além dos instrumentos jutídicos já mencionados, que consagram a
protecção da soberania e da independência, torna-se pertinente destacar ainda
a Declaração de Direitos e Deveres dos Estados, Res. A.G. 375 (IV), da Assembleia Geral da ONU, de 6 de Dezembro de 1969, e a Declaração sobre a
Inadmissibilidade da Intervenção nos Assuntos Internos dos Estados e a Protecção da sua Independência e Soberania, Res. A.G. 2131 (XX), da mesma
Assembleia, de 21 de Dezembro de 1965.
No plano das competências internas, o estado soberano determina o tipo
de regime político que rege o modo de vida da sociedade. Estabelece uma
ordem política e uma ordem jurídica possuindo, por isso, competência territorial plena e liberdade de acção sobre o seu território, o que significa a exclusividade do "direito de recusar qualquer acto de autoridade por parte de um
outro Estado no seu território"(Pereira e Quadros, 1993,330). O estado possui também competência pessoal exclusiva que se traduz, por exemplo, no
direito de estabelecer critérios de atribuição da nacionalidade aos indivíduos
37
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
que constituem a sua população, a pessoas singulares e colectivas, bem como
a meios de transporte internacionais e a engenhos espaciais (Pereira e Quadros, 1993,331).
A exclusividade desta competência pode, no entanto, ser limitada por disposições de tratados e convenções internacionais de que o estado considerado seja
signatário, bem como pelo direito comunitário, no caso dos estados membros
da U.E .. Por outro lado, os limites territoriais do exercício destas competências
implica o estabelecimento de fronteiras formalmente reconhecidas entre estados, facto este que implica questões de relacionamento internacional. Ao mesmo tempo, apesar do princípio da não-ingerência continuar consagrado na Carta das Nações Unidas, tendo sido posteriormente reafirmado pela referida
Declaração sobre a Inadmissibilidade da Intervenção nos Assuntos Internos dos
Estados e a Protecção da sua Indpendência e Soberania (Res. A. G. 2131 (XX),
de 21 de Dezembro se 1965, verifica-se que a comunidade internacional exerce
uma "competência crítica" em relação à condução das políticas internas dos
estados, designadamente, quando a invocação daquele princípio pretende viabilizar situações de violação de direitos humanos, questionando-se então a prevalência das competências internas da soberania, sobre aqueles direitos, perante
um nascente "direito de ingerência" ou mesmo sobre o dever de "ingerência
humanitária", perante a incapacidade ou o incumprimento voluntário do estado, em relação à "responsbilidade de proteger" a sua própria população.
Neste contexto, verifica-se que as situções de interdependência crescente
estabelecem um linkage que transcende os limites territoriais do exercício das
competências internas da soberania, inviabilizando a separação total entre política interna e politica externa, permitindo questionar a pertinência da generalização abstracta dos princípios. Neste sentido, Adriano Moreira identifica
a tendência que os factos e as problemáticas internas evidenciam, para se tornarem "internacionalmente relevantes", e destas para se tornarem, tendencialmente, em factos e problemáticas internacionais (Moreira, 2002, 346).
1.3. - Sobre a "Crise do Estado Soberano"
A evolução da cena internacional permite verificar, como consequência da
complexidade crescente das relações internacionais, a exigência de uma imperativa gestão comum e coordenada das interdependências gradualmente
intensificadas pela conjugação interactiva e sinérgica entre o fenómeno da
transnacionalização dos relacionamentos, e a aplicação da inovação técnicocientífica às áreas da comunicação e da informação.
A inerente evolução transformacional acelerada a que chamamos globalização, tem produzido, entre outras consequências, o agravamento da ero-
38
Os ESTADOS
•
c'
são e da desvalorização dos elementos constitutivos do estado. Resultante de
um conjunto de processos interactivos iniciados em meados do século XX,
a chamada "crise do estado soberano"(Moreira, 2002, 374-388; 1993) tornou-se "o principal desafio deste fim de século"(Moreira, 2002, 388) evidenciando, por um lado, da desvalorização dos elementos constitutivos do
estado e, por outro lado, da "erosão" gradual e progressiva dos referidos
"pilares de Westphalia", entre eles os princípios da soberania, da independência e da territorialidade. Este fenómeno resulta do aprofundamento das
interdependências crescentes, interactivas e intersectoriais, bem como da
inerente tendência para a formação de "grandes espaços" segundo critérios
de coerência funcional, que ameaçam alterar e fragilizar a relação intrínseca
entre a população, o território e a estrutura política que, ao longo de quase
quatro séculos, tem caracterizado o estado moderno de tipo ocidental (Moreira, 1960; Santos, 2001, Caps. II e III; 2002, Caps. II-IV; 2009, Cap. III).
Com efeito, o fenómeno identificado como "a crise do estado soberano"
significa a perda gradual das capacidades de exercício do poder e, perante as
problemáticas globais emergentes, o desfasamento das capacidades funcionais
do aparelho de estado, tanto para desempenhar as competências inerentes à
manutenção dos atributos da soberania, como para perspectivar objectivos de
longo prazo num contexto de mudança acelerada e para enfrentar, em termos
de soluções de curto e médio prazos, essas novas problemáticas, ameaças e
exigências decorrentes dos processos de mudança acelerada e globalizante.
Trata-se, no entanto, de uma incapacidade funcional, geradora de sinergias e de interdependências complexas, interactivas e intersectoriais, que adquirem expressão substantiva nas delegações de competência, na gradualidade
das jurisdições e na subsidiariedade. Não se trata de uma perda de identidade
nacional ou cultural por desvalorização dos elementos agregadores que conferem sentido de pertença aos indivíduos relativamente ao grupo societal que
constitui à nação, ou seja, não se trata de uma crise da nação, mas antes de
uma crise do estado. O que, de facto, evolui e se altera, é a hierarquia de fidelidades institucionais, perante as prioridades e os interesses objectivos das populações submetidas a um poder político, porque este transfere para outras
entidades institucionais, por delegação de soberania, as competências para o
exercício daquele poder.
As novas instituições promovem, por sua vez, a indução de fenómenos de
transformação evolutiva das identidades e das capacidades de percepção e
identificação de novos interesses e problemáticas, por parte das populações.
Neste contexto, se, por um lado, a nação mantém os seus elementos agregadores e de coesão, por ourro lado, a sua correspondência em termos de fidelidade pessoal dos indivíduos ao estado nacional, será potencial e tendencialmen-
39
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
te atenuada. Evidencia-se, neste sentido, a perspectiva do actor estado,
enquanto "produto em processo" evolutivo de adaptação ao ambiente relacional, permitindo verificar as referidas evoluções identitárias, bem como a percepção de novos interesses, objectivos e prioridades, perante a permanência de
um sentido de pertença e de coesão societal identificada com a nação ou, na
referida expressão de David Thomson, "the sense ofbelonging together" (Thomson,
1966, 119).
Com efeito, as causas da crise do estado, têm permitido verificar a afirmação simultânea e acentuada de elementos identitários diversificados como a
religião, a etnia ou a nacionalidade. Evidenciam-se, assim, os factores de coesão que conferem coerência ao grupo social politicamente organizado, identificando a personalidade colectiva que caracteriza as nações, os povos, por vezes, as minorias, em relação aos outros grupos sociais que partilham o mesmo
ambiente relacional, perante os factores de fragmentação dos elementos constitutivos do estado e da articulação intrínseca que se estabelece entre eles, e
que se encontra na base desse "fenómeno histórico, sociológico e
político"(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,373).
As situações decorrentes da evolução no sentido dos "grandes espaços"
traduzem-se, também, pela coexistência das consequentes fronteiras múltiplas, tanto em termos socioeconómicos e sócio-culturais, como em termos
políticos e jurídicos. Neste plano, evidenciam-se os regimes político-jurídicos
diferenciados, que estabelecem "feixes de competências" ou áreas de "jurisdicidade funcional" internacionalmente reconhecidas ou atribuídas ao estado, e
que se caracterizam pelas servidões técnico-funcionais que limitam a soberania plena.
No plano teórico das RI, verifica-se um processo de operacionalização conceptual evolutiva do conteúdo da noção de soberania, sua classificação e limites internos e externos. Ao mesmo tempo, identifica-se a génese de noções e
conceitos, como "soberania de serviços", "soberania funcional", "simbólica" e
"simulada", conduzindo ao fenómeno da "erosão da soberania", que se articula com os processos de desvalorização dos elementos constitutivos do estado,
e com a consequente crise do estado soberano.
Ainda no plano de uma conceptualidade inovadora e complexificante,
evidencia-se também uma caracterização das formas substantivas e potenciais
de evolução dos estados, designadamente, o "estado exíguo", o "micro estado protegI· d
·
d o ",o "
esta
o "
,o" estad o vass al"
o ,ou d
os regImes,
como as "democracias limitadas", o ''penetrated state", e ainda o "rogue state", o ''foiled
state", o "fragmented state", etc., que, de certo modo, justificam a actualidade
dos conceitos e dos processos de "regime change" e de "state building' ou "na-
tion building'.
40
Os ESTADOS
Todas as problemáticas decorrentes desta complexidade conceptual operatória acentuam a exigência política e estratégica de enquadramento, por parte
da comunidade internacional, das entidades/actores que correspondem a grupos humanos/societais politicamente organizados, no contexto estatutário de
estado. Trata-se, neste sentido, de garantir, da parte dos estados, não apenas o
exercício de direitos, mas também o cumprimento dos deveres internacionalmente assumidos, designadamente, nos planos dos direitos humanos, das acções de carácter humanitário e através da observância da "responsabilidade de
proteger"(Santos, 2009, 133).
Neste contexto, a referida tendência para a formação de "grandes espaços"
exerce uma influência decisiva no processo evolutivo do conceito de soberania,
em termos de conteúdo operacional e substantivo, alterando o respectivo significado, limites e formulações. No plano das relações internacionais, a referida
tendência verifica-se através das evoluções, políticas, sociais e territoriais decorrentes, subordinadas a lógicas, critérios e sinergias interactivas de coerência económica, política e estratégica, que se sobrepõem, contrariando, inviabilizando
ou invalidando, as competências e os atributos da soberania clássica, estabelecendo fronteiras de gradualidade e significado diferenciado nas suas interacções
com as áreas exteriores de relacionamento, transcendendo o objectivo inicial de
reprodução do modelo estatal num espaço geográfico alargado.
No entanto, apesar da "crise do estado soberano" e da evolução do conceito de soberania, torna-se pertinente acentuar a permanência do fenómeno
estatal como processo dinâmico e evolutivo, reconhecendo-se a relevância
acrescida do papel do estado enquanto instância fundamental de regulação e
ordenamento relacional. Essa relevância torna-se evidente no contexto do actual processo de mudança sistémica acelerada, transformacional e globalizante, designadamente, em termos das inerentes modalidades de relacionamento
interactivo inovador entre os estados e os outros actores das relações internacionais.
Se a "crise do estado soberano" continua a constituir o "principal desabo
político" neste início de século e de milénio, talvez se torne admissível considerar que
"o modelo a reinventar não afecta o valor da Nação, obriga sim a rever
os modelos políticos para responder simultaneamente a dois valores essenciais: o respeito pelas identidades nacionais, étnicas e culturais, e a Declaração dos Direitos do Homem. (. .. ). [O] valor da Nação permanece.
O que não permanece é a funcionalidade do Estado soberano, que não
é sempre a resposta procurada para a defesa da identidade nacional"
(Moreira, 2002, 388).
41
;\
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
LEITURAS COMPLEMENTARES
- BOBBITT, Philip, 2009, Terror and Consent: lhe Wars for
the Twenty First Century, New York, N.Y., Anchor.
- KAPLAN, Robert D., 2001, The ComingAnarchy: Shattering
the Dreams ofthe Post Cold War, New York, N.Y., Random
House.
- SHORTELL, Christopher, 2009, Rights, Remedies and the
Impact ofState Sovereign Immunity, New York, N.Y., 1he
University ofNew York Press.
- TAYLOR, Paul, CURTIS, Devon, 2005, "The United Nations", in BAYLIS, John, SMITH, Steve, eds., 2005, The
Globalization ofWorld Politics. An Introduction to International Relations, 3rd • ed., Oxford, U.K., Oxford University
Press, pp. 405-424.
42
Os ESTADOS
WEBOGRAFIA
http://www. whitehouse.gov/
http://www.elysee.fr/president/accueil.l.html
http://www.fco.gov. uk/ en/
http://www.mne.gov.pt/mne/ pt/
43
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ANDERSON, Benedict, 1991, Imagined Communitíes. Reflections on the Origin
and Spread o/ Natíonalism, revised edition, London, D.K., and New York,
N.Y., Verso.
- ANNAN, Kofi, 1997a, "Address to the National Press Club", Washington,
D.e, 24th • January, 1997 (SG/SM/6149), in The Quotable Kofi Annan.
Selections from Speeches and Statements by the Secretary-General, N ew York,
N.Y., United Nations Department ofPublic Information, 1998.
_ _ _ , 1997b, "Address to the World Economic Forum", Davos. Switzerland, 1't. February, 1997 (SG/SM/6153), in The Quotable Kofi Annan.
Selections from Speeches and Statements by the Secretary-General, N ew York,
N.Y., United Nations Department ofPublic Information, 1998.
- ARENAL, Celestino del, 1983, "Poder y Relaciones Internacionales. Un Analisis Conceptual', in Revista de Estudios Internacionales, voI. 4, n. °3, Madrid, Universidad Complutense, Julho-Setembro de 1983, pp. 501-524.
- BAD IE, Bertrand, 1999, Um Mundo sem Soberania. Os Estados entre o Artificio e a Responsabilidade, Lisboa, Instituto Piaget.
_ _ _ , 1996, O Fim dos Territórios. Ensaio sobre a Desordem Internacional
e sobre a Utilidade Social do Respeito, Lisboa, Instituto Piaget.
- BARSTON, R.P., 1988, Modern Diplomacy, London, U.K., Longman.
- BAYLIS, John, SMITH, Steve, eds., 2005, The Globalizatíon o/World Politics. An Introduction to International Relations, 3 rd • ed., Oxford, U.K.,
Oxford University Press.
- BROWNLIE, lan, 1997, Princípios de Direito Internacional Público, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian.
- BURDEAU, Georges, s.d., O Estado, Lisboa, Europa-América. Edição original, 1970, Paris, Du SeuiI.
- CUNHA, Joaquim da Silva, 1990, Direito Internacional Público, Lisboa,
ISCSP-UTL.
44
Os ESTADOS
___ , 1987, Direito Internacional Público. I -Introdução e Fontes, 4.° ed.,
Coimbra, Almedina.
- DEVETAK, Richard, 1995, "Incomplete States: 7heories and Practices ofStatecraft', in MACMILLAN, John, LINKLATER, Andrew, eds., 1995,
Boundaries in Question. New Directions in International Relations, London,
U.K., Pinter Publishers.
- DINH, Nguyen Quoc, DAILLIER, Patrick, PELLET, Alain, 1999, Direito
Internacional Público, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
- ESCARAMEIA, Paula, 2003, Colectânea de Leis do Direito Internacional, 3. a
ed., Lisboa, ISCSP-UTL.
- GRIFFITHS, Martin, O'CALLAGHAN, Terry, 2002, International Relations. 7he Key Concepts, London, Routledge.
- MAGALHÃES, José Calvet de, 1982, A Diplomacia Pura, Lisboa, Associação Portuguesa para o Estudo das Relações Internacionais.
- MALTEZ, José Adelino, 1991, Ensaio sobre o Problema do Estado, 2 tomos,
tomo I, A Procura da República Maior, tomo II, Da Razão de Estado ao
Estado da Razão, Lisboa, Academia Internacional da Cultura Portuguesa.
- MANDROU, Robert, 1980, La Raison du Prince. L 'Europe Absolutiste,
1649-1775, Paris, Marabollt.
- MERLE, Marcel, 1982, Sociologie des Relations Internationales, 3eme. ed.,
Paris, - Dalloz.
___ , 1974, Sociologie des Relations Internationales, Paris, Dalloz.
- MOREIRA, Adriano, 2002, Teoria das Relações Internacionais, 4. a ed.,
Coimbra, Almedina,
___ , 1993, "A Crise do Estado Soberano", in Nação e Defesa, n.O 70,
Lisboa, IDN, MDN, 1993, pp. 27-37.
___ , 1992a, Comentários, 2. a ed., Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 1992b, "A Lei da Complexidade Crescente na Vida Internacional",
in idem, 1992a, Comentários, 2. a ed., Lisboa, ISCSP-UTL., pp.1I-20.
___ , 1991, "O Poder e a Soberania", in Nação e Defesa, n.O 57, Lisboa,
IDN, 1991, pp. 25-48.
___ , 1985, "Instituição", in, Polis. Enciclopédia Verbo da Sociedade e do
Estado, Lisboa, Verbo, 1983-1987.
45
;\
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
_ _ _ , 1979a, "Poder Funcional e Poder Errático", in Nação e Defesa, Ano
VI, n.O 12, Lisboa, IDN, Outubro-Dezembro de 1979, pp. 13-27.
_ _ _ , 1979b, Ciência Política, Lisboa, Bertrand.
_ _ _ , 1970, Política Internacional, Lisboa, ISCSPU.
_ _ _ , 1960, "Os Grandes Espaços", in Estudos Ultramarinos, voI. 10, n.O 3,
Lisboa, ISEU, 1960, pp. 7-18.
- ONU, 2005a, 2005 World Summit Outcome, Follow-up to the outcome o/the
Millennium Summit, UNGA,60 th • Session doe. N60/150, n.O 05-51130
(E) 230905, United Nations, 20 th • September, 2005.
___, 2005b, ln Larger Freedom: Towards Development, Security and Human
Rights for All, Report o/ the Secretary-General, UNGA 55 th • Session, doe.
N5912005 n.O 05-27078 (E) 210305, United Nations, 21 st • Mareh, 2005.
_ _ _ , 2005e, Organização das Nações Unidas, 2004, New York, U.N.
_ _ _ , 2005d, "NGOs and the United Nations Department o/Public Information: Some Questions andAnswers", New York, United Nations Department ofPublic Information, 2005, in http://www.un.org/dpi/ngoseetion/
broehure.htm, consultado em 12 de Agosto de 2010.
_ _ _ , 2004, A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report o/the
High-Level Panei on lhreats, Challenges and Change, New York, United
Nations Department ofPublie Information.
_ _ _ , 2000a, United Nations Convention against TransnationalOrganized
Crime, Res. A.G. 55/25, 15 de Novembro de 2000.
_ _ _ , 2000 b, Report o/the Ad Hoc Committee on the Elaboration o/a Convention against Transnational Organized Crime on the work o/ its first to
eleventh session, United Nations, 2 de Setembro de 2000. UNGA, 55 th •
Session doe. N55/383, Annex I, n.O V.00-58693 (E) 071 100081100.
___ ,1998, lhe Quotable KofiAnnan. Selectionsfrom Speeches and Statements by the Secretary-General, New York, N.Y., United Nations Department of Public Information.
- PEREIRA, André Gonçalves, QUADROS, Fausto de, 1993, Manual de
Direito Internaicional Público, 3. a ed., Coimbra, Almedina.
- ROUSSEAU, Charles, 1970-1979, Droit International Public, 4 vols., Paris,
Sirey.
46
Os ESTADOS
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 2007, Introdução à Teoria das Relações Internacionais. Referências de
Enquadramento Teórico-Analítico, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 2002, Conhecimento e Mudança. Para uma Epistemologia da Globalização, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 2001, A Humanidade e o seu Património. Reflexões Contextuais sobre
Conceptualidade Evolutiva e Dinâmica Operatória em Teoria das Relações
Internacionais, Lisboa, ISCSP-UTL.
- THOMSON, David, 1966, Europe since Napoleon, London, U.K., Pelican
Books.
47
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
\
Objectivos do Capítulo
- Definir as competências internacionais, ou da soberania
externa dos estados, projectadas no ambiente relacional
através das respectivas políticas externas, como factores
genéticos da política internacional.
- Enumerar e descrever as formas de interacção dos estados,
em termos das acções desenvolvidas no exercício dos seus
direitos, no enquadramento do Direito Interacional.
- Enumerar e descrever os deveres e as obrigações dos estados, decorrentes dos seus actos de compromisso político e
de observância normativa do Direito Internacional.
Síntese dos temas abordados
- O significado político e jurídico da "soberania externa" e
da "competência internacional" enquanto figuras de enquadramento operacional das formas de interacção dos
estados.
- Os actos políticos e jurídicos dos estados, decorrentes do
exercício dos seus direitos e competências, bem com dos
seus efeitos concretos e potenciais sobre os outros actores.
- Os actos políticos e jurídicos dos estados, decorrentes dos
respectivos deveres e obrigações em termos de responsabilidade internacionai, e das consequências potenciais do
náo cumprimento.
48
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS EsrADOS
'~ centenária dourtina
da soberania absoluta
não foz sentido hoje,
e nunca foi na prática tão absoluta
como preconizava a doutrina. "
Thomas G. Weiss,
" Wither the United Nations" ,
in The Wasington Quarterly,
voI. 17, n.°l, Winter, 1994,
pp. 109-129,p. 110.
CAPÍTULO
II
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
2.1. - A Soberania Externa Dos Estados
As formas de interacção internacional do estado derivam das competências
externas da soberania, através de cujo exercício, o estado estabelece relações
com os outros actores influenciando os respectivos comportamentos e atitudes, bem como sobre os processos, a configuração e as alterações do ambiente
sistémico no qual se insere, designadamente, ao nível da estrutura relacional e
dos fluxos interactivos. Estas mesmas competências conferem também ao estado, uma capacidade genética que adquire expressão nos processos de criação
de outros actores, designadamente, das organizações intergovernamentais,
que integram enquanto membros. A importância destas organizações internacionais no plano da política externa dos estados, deriva da relevância da multilateralidade relacional, em cujo ambiente se desenvolem as formas de interacção internacional dos estados.
Definindo-se a noção de "competência internacional" de um estado como um
"poder jurídico conferido ou reconhecido pelo direito internacional a
um estado (... ) de julgar um caso, de tomar uma decisão, de resolver
um diferendo" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,417 e n.),
49
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
as competências da soberania externa do estado são as que exprimem as suas
capacidades de relação e que permitem considerar os estados sob a perspectiva
do desempenho do papel de actor.
Com efeito, e tal como referido, a Convenção de Montevideu sobre os
Direitos e Deveres dos Estados, de 1933, identifica, no seu Art.o 1.0, entre os
elementos constitutivos dos estado, a capacidade de estabelecer relações com
outros estados. Esta capacidade traduz-se num certo número de prerrogativas
ou competências, mas também em deveres e obrigações. No entanto,
"não é fácil conceber que entidades, que se pretendem 'acima de tudo
soberanas', devam, ou mesmo possam, submeter-se ao direito e vejam a
sua liberdade de acção limitada por ele"(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
75).
As acções externas do estado soberano manifestam-se, por um lado, através
do carácter essencial da sua função normativa e reguladora das relações interestatais, evidenciada na produção jurídica fixada pelo Direito Internacional e
pelos tratados e convenções internacionais. Por outro lado, a sua capacidade
legal, política e juridicamente convencionada, do recurso ao exercício da violência, designadamente, através da força armada, a que Max Weber se referiu
como "o monopólio da violência legítima", confere aos estados um lugar de
inequívoca proeminência entre os actores das relações internacionais.
Poderemos considerar que, essencialmente, os estados desenvolvem as suas
acções relacionais com base em factores de poder que constituem também,
frequentemente, elementos polarizadores dessas mesmas acções. Neste contexto, as competências da soberania externa dos estados são exercidas num
ambiente relacional configurado pela estrutura sistémica da sociedade internacional que integram, e que é "determinada em grande medida pela distribuição de poder entre os actores ... "(Arenal, 1983,503), verificando-se que "a
estrutura económica internacional determina em grande medida a estrutura
de poder e da própria sociedade internacional" (Arenal, 1983, 502).
Verifica-se, no entanto, que o enquadramento formal das relações interestatais não se fundamenta no poder exercido pela força, mas antes no exercício
da influência, designadamente, através de uma das principais competências
soberanas externas do estado, que adquire expressão através do exercício do
direito de legação, que consiste na capacidade do estado, de receber (legação
passiva) e enviar (legação activa) agentes diplomáticos que asseguram a presença de representantes permanentes nos outros estados e nas organizações
internacionais, capacidade esta, baseada na reciprocidade, ou seja, no princípio do consentimento mútuo (Magalhães, 1982, 141-171; Moreira, 2002,
50
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS EsTADOS
346-348). Esses representantes oficiais são, por estatuto próprio, considerados
diplomatas e o conjunto das actividades e funções que lhes são atribuídas e
que desempenham, inserem-se nas práticas diplomáticas. São, no entanto,
muito diversificadas, as formas de interacção internacional dos estados.
2.1.1. Os Actos Unilaterais dos Estados
Os actos unilaterais, ou actos jurídicos unilaterais, dos estados representam
formas de interacção internacional cujos efeitos se verificam em todos os planos
das relações internacionais, nomeadamente, nas suas dimensões política e jurídica, económica e social. A expressão "acto unilateral" refere-se a um "acto imputável a um único sujeito do direito internacional" (Dinh, Dail1ier e Pellet,
1999, 328). Não constituindo competências específicas derivadas de atributos
da soberania externa, os actos unilaterais dos estados incluem-se, de forma evidente, entre as modalidades de exercício dessa soberania, no plano da respectiva
projecção e interacção internacionais, designadamente, través da "criação ou
modificação unilateral" do direito internacional (Pereira e Quadros, 1993,
265). Neste contexto,
a "consagraçáo dos actos unilaterais estatais pelo direito internacional
(. .. ) [exige] - tal como para qualquer outro acto jurídico - que sejam
demonstradas a imputabilidade do acto do Estado, actuando nos limites da sua capacidade, e uma publicidade suficiente da vontade do
Estado" (Dinh, Daillier, Pellet, 1999,328-329)
não sendo, no entanto, necessária qualquer manifestação de aceitação por parte
de outros sujeitos de direito.
Neste sentido, entende-se que a expressão "acto unilateral" se refere a manifestações de vontade que, não tendo como objectivo a conclusão de acordos
ou a assunção de outros compromissos internacionais, são, no entanto, "susceptíveis de produzir efeitos jurídicos de várias formas (... ) [designadamente,
a] formação de regras consuetudinárias e o direito do reconhecimento ... "
(Brownlie, 1997,660).
Numa "concepção estrita", os actos unilaterais são considerados "autónomos",
sendo a condição de autonomia verificada pelo facto de esses actos constituírem
"manifestações unilaterais de vontade, emitidas sem o menor vínculo
com um tratado ou costume (. .. ) [, e cuja validade] náo depende da
sua compatibilidade com outro acto jurídico, unilateral, bilateral ou
multilateral" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999) 329).
51
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Na sua generalidade, estas manifestações unilaterais de vontade dos estados, caracterizam-se por
"produzirem efeitos jurídicos, como aliás a jurisprudência internacional tem reconhecido; e de esses efeitos não serem reconduzÍveis a outras fontes (como, por exemplo, os tratados) sendo, por consequência,
autónomos. Os actos jurídicos unilaterais são, assim, fonte do Direito
Internacional ... "(Pereira e Quadros, 1993,268).
Neste contexto, os actos unilaterais "autónomos" são independentes de
qualquer outra fonte de direito para a produção autónoma de efeitos jurídicos, sendo definidos numa concepção estrita de fonte autónoma do direito
internacional, apesar de não estarem incluídos no Art. o 38. 0 do Estatuto do
Tribunal Internacional de Justiça (TI]), podendo ser expressos, tácitos ou
implícitos (Pereira e Quadros, 1993,265-267). Não têm exigência de forma
escrita, não sendo por isso obrigatório o seu registo, em conformidade com o
Art. o 102. 0 da Carta das Nações Unidas.
Considerando a dificuldade de enumerar e de classificar por categorias os
actos unilaterais, Silva Cunha parte de uma outra perspectiva de enquadramento, dividindo-os em três grupos, designadamente, os "actos estatais formal e materialmente internacionais"; os "actos internacionais institucionais
ou comunitários" e os "actos formalmente internos mas com relevância
internacional"(Cunha, 1987,267-268 e segs.), incluindo no primeiro grupo,
a notificação, o reconhecimento, o protesto, a renúncia, a denúncia e a promessa,
ou seja, as categorias geralmente incluídas entre os chamados "actos unilaterais autónomos". O mesmo autor considera, no entanto, que, "ressalvando as
excepções espressamente estabelecidas por via convencional" não é reconhecida a estes actos, "a virtualidade de criar directamente regras ou normas jurídicas internacionais"(Cunha, 1987,276).
Neste sentido, Silva Cunha acentua que
"a oponibilidade dos actos desta natureza está condicionada pela existência de norma convencional ou consuetudinária que os autorize e,
consequentemente, (. .. ) possa fundamentar-se a sua validade. Os actos
unilaterais não podem por isso, considerar-se fontes directas ou autónomas de Direito internacional em pé de igualdade com o tratado e o
costume. ( ... ) Devem, em consequência, ser qualificados como fontes
indirectas ou não autónomas de Direito internacional"(Cunha, 1987,
276-277 e n.266).
52
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
.........
Alguns dos actos unilaterais dos estados, são também actos "autonormativos", constituindo situações nas quais
"os estados podem impor a si próprios obrigações ou exercer unilateralmente direitos nos limites admitidos pelo direito internacional geral"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,332).
As obrigações jurídicas decorrentes destas declarações de tomadas de posição significam que
"[q]uando o autor da declaração pretende vincular-se nestes termos,
esta intenção confere à sua tomada de posição o carácter de um compromisso jurídico, ficando doravante o estado em causa obrigado a seguir uma linha de conduta conforme à sua declaração. Um compromisso desta natureza, expresso publicamente e com a intenção de vincular,
tem um efeito obrigatório, mesmo fora do quadro das negociações internacionais" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,332 e n.).
No entanto, apesar da aceitação generalizada do "princípio do efeito obrigatório do acto unilateral válido", levantam-se algumas dúvidas quanto ao regime
jurídico aplicável a tais actos, designadamente, quanto à interpretação do conteúdo, em termos de alcance, durabilidade, irreversibilidade, vontade própria e
limites à independência no momento da tomada de decisão sobre um compromisso unilateral. Para além da "variedade das relações jurídicas envolvidas", as
referidas dúvidas quanto ao regime jurídico aplicável aos actos unilaterais autonormativos são ainda suscitadas pelas as características específicas de categorias
como a promessa, o protesto, ou ainda certas declarações, como a declaração de
neutralidade, indutoras de uma tendencial confusão que se estabelece entre "factos condicionantes e consequências legais", verificando-se que os resultados daqueles actos transcendem inevitavelmente o plano jurídico, no sentido da produção de sinergias de efeitos interactivos potenciais, em todos os planos do
relacionamento internacional. Assim, quanto aos resultados,
"muito dependerá do contexto em que decorrer a 'promessà ou o 'protesto', incluindo as circunstâncias [, designadamente políticas,] que
os rodeiam e, especialmente, o efeito das regras de Direito aplicáveis"
(Brownlie, 1997,661 e n. 13).
Neste contexto, verificando-se que "[n]ão existem normas ou actos jurídicos 'perpétuos"', também relativamente aos actos unilaterais se torna "ne-
53
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
cessário admitir uma 'faculdade de arrependimento'''(Dinh, Daillier e Pellet,
1999,333). Os efeitos desse "arrependimento" não podem, no entanto, constituir um acto discricionário libertando o estado considerado de compromissos, deveres e obrigações livremente assumidas, que se traduzam em prejuízo
de outros sujeitos de direito. Assim, esse estado
"só pode desligar-se das obrigações resultantes dos actos unilaterais
recorrendo aos processos habituais de resolução pacífica de conflitos"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,333).
Verifica-se, assim, que mesmo os chamados actos "autonormativos" podem
conter elementos de hetero normatividade, na medida em que "criam direitos
em proveito de outros sujeitos de direito" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,333).
Assim, "[a] exigência de autonomia do acto unilateral, admitida pelos partidários da concepção estrita, acaba por restringir sensivelmente o número dos
actos unilaterais estatais"(Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 330) verificando-se
que, por um lado, os próprios autores que defendem o critério da exigência de
autonomia, não são consensuais quanto "à lista dos actos unilaterais que correspondem à exigência de autonomia" e que, por outro lado, na perspectiva
"da formação do direito internacional, a exigência de autonomia já não constitui um critério necessário de delimitação de actos unilaterais"(Dinh, Daillier
e Pellet, 1999,330).
Com efeito, apesar da igualdade soberana dos estados e da inexistência de
"relações de subordinação", existem duas circunstâncias limitadoras destes
princípios fundamentais. Por um lado, a imposição de obrigações a terceiros
sem o respectivo reconhecimento expresso, pode decorrer do exercício de
"prescrições" ou "competências estabelecidas por regras convencionais ou
consuetudinárias" com as quais o acto se articula, sendo por vezes invocadas,
como fundamento desses actos unilaterais, as resoluções de organizações internacionais, facto, aliás, frequentemente gerador de controvérsia jurídica e
política. Por outro lado, o mesmo se verifica quando o estado está
"em condições de agir como representante ou 'mandatário' da comunidade internacional (. .. ). As disciplinas impostas aos Estados terceiros
com este fundamento pressupõem uma aceitação expressa ou implícita
da sua parte, muitas vezes difícil de obter" (Dinh, Daillier e Pellet,
1999,333-334).
Neste contexto, a concepção extensa ou "lata" de acto unilateral permite a
consideração de actos relativamente aos quais, se verifica a característica do-
54
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
minante e acentuada da hetero normatividade, ou seja, dos chamados actos
"heteronormativos", através dos quais um estado procura impor obrigações
ou comportamentos determinados a outros sujeitos de direito autónomos,
através de um acto unilateral.
Esta faculdade deriva, pois, da "concepção lata" de acto unilateral, que o
articula com uma "prescrição convencional ou consuetudinária", podendo
resultar de uma competência conferida por um tratado ou convenção de que
o estado é parte e que estipula como condição de acesso, a declaração unilateral de adesão, tratando-se, assim, de um acto unilateral não autónomo. Verifica-se, neste caso, a convergência entre o acto convencional e o acto unilateral,
traduzindo-se na confirmação objectiva da intenção, no caso da adesão a tratados que prevêem a mera declaração em substituição de um processo de adesão formal.
Neste sentido, perante "o carácter 'objectivo' do tratado em causa a declaração substitui (. .. ) a adesão formal" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,331). A mesma convergência entre um acto convencional e um acto unilateral, torna-se verificável em relação à denúncia que, enquanto acto unilateral no sentido lato,
resulta também, geralmente, das disposições de um tratado ou convenção de
que o estado denunciante é signatário, produzindo efeitos jurídicos a partir
dessa situação. Outro tipo de articulação entre a "concepção lata" de acto unilateral e uma "prescrição convencional ou consuetudinária", pode resultar numa
declaração unilateral, como se verifica, por exemplo, em relação à aceitação de
jurisdição obrigatória prevista pelo n.O 2 do Art.o 36.° do Estatuto do TI], ou
seja, pela chamada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória.
O acto unilateral pode também prolongar no tempo os efeitos da convencionalidade expressa, permitindo
"conciliar a vontade dos Estados de só tomarem compromissos experimentais e de curto prazo, e a sua preocupação de não criarem soluções
de continuidade quando a negociação de um novo acordo se arrasta
muito. Um acto unilateral de um estado pode também dar 'existência
jurídica' ao conteúdo de um tratado que não está em vigor, ou porque
já o deixou de estar, ou por não o estar ainda" (Dinh, Daillier e Pellet,
1999,330-331).
A articulação estabelecida entre os actos unilaterais e as resoluções das organizações internacionais decorre da capacidade de recurso a uma "habilitação
fornecida por tais resoluções", ou do compromisso de "respeitar as suas decisões", actos que, neste caso,
55
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
"transformam uma recomendação em acto obrigatório se forem expressos antecipadamente, e tornam uma recomendação oponível aos estados que a aceitem após a sua adopção" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
332).
Em sentido amplo, numa concepção extensa ou "lata", a figura do acto
unilateral inclui também os actos não-autónomos, isto é, os actos que, tal como
referido, se articulam com uma "prescrição convencional ou consuetudinária". Nesta perspectiva, os actos unilaterais não são fontes autónomas de direito internacional, sendo a competência do estado adquirida através da celebração de um acordo. Este instrumento, do qual o estado passa a ser parte,
confere-lhe o direito de adesão, denúncia e recesso, convencionalmente regulamentados, bem como a faculdade de invocar o direito de reserva relativamente a determinadas cláusulas de um tratado.
As formas de manifestação unilateral de vontade autónoma por parte dos
estados, independentemente da concepção estrita ou lata da perspectiva analítica, incluem categorias diversificadas, e qualquer tentativa de enumeração
poderá ser mais ou menos abrangente, mas será, dificilmente, exaustiva. Admite-se, no entanto, que as categorias de actos unilaterais autónomos mais frequentes são a declaração unilateral de aceitação ou aquiescência, a notificação,
o protesto, a renúncia a um direito, prerrogativa ou reclamação, a promessa ou
garantia e o reconhecimento.
A declaração unilateral de aceitação demonstra, por parte do estado que a
produz,
"uma clara intenção em aceitar obrigações vis-à-vis de outros Estados
por meio de uma declaração pública a qual não se traduz numa proposta contratual nem depende, de outro modo, de compromissos recíprocos assumidos pelos Estados em causa"(Brownlie, 1997,661 e n.14).
A aceitação da referida "cláusula facultativa de jurisdição obrigatória", prevista pelo n. O 2 do Art. O 36. 0 do Estatuto do TI], constitui o exemplo de um
direito, cujo exercício, representa um acto unilateral não-autónomo, ou seja,
representa uma manifestação de vontade concretizada através de uma competência "cuja existência e validade depende de uma outra fonte" (Pereira e Quadros, 1993,266). Neste contexto,
"os actos unilaterais dos estados desempenham um papel decisivo para
a elaboração e a aplicação do direito convencional e consuetudinário"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,330).
56
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
Ao mesmo tempo, as declarações unilaterais de aceitação
"implicam, pelo menos em princípio, concessões que são intencionais,
públicas, coerentes e definitivas em relação às questões que abordam.
Contudo, os actos de aquiescência e as declarações oficiais podem,
numa situação de interesses concorrentes, ter valor probatório da aceitação de direitos incompatíveis com as pretensões do declarante, embora tais actos, individualmente, não resolvam as questões de forma
definitiva" (Brownlie, 1997, 662).
A notificação consiste na informação transmitida por um estado, o sujeito
activo, a outro ou outros estados, ou sujeitos passivos, sobre uma situação
determinada, cuja evolução ou desenvolvimento poderá conduzir ao desencadeamento de consequências jurídicas inconvenientes para o relacionamento
mútuo, designadamente, a conflitos jurídicos ou políticos. As notificações
susceptíveis de produzir consequências jurídicas podem também designar-se
por "constitutivas", enquanto as que têm por finalidade a simples publicitação
ou proclamação de uma questão determinada, são consideradas "declaratórias". "A notificação é sempre um 'acto-condição', na medida em que condiciona a validade de outros actos" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,330). As notificações podem ser "obrigatórias" ou "facultativas" verificando-se, com
frequência, que
"os Estados procedem a numerosas notificações sem terem sido solicitados por um tratado, nem serem obrigados pelo direito consuetudinário, mas com a preocupação de acelerar a oponibilidade das suas
reivindicações aos outros Estados (delimitação dos espaços marítimos,
por exemplo)" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,330).
o acto da notificação pode também ser utilizado por outros actores das RI,
designadamente, organizações internacionais, ou por indivíduos actuando
isoladamente, em grupo ou movimento organizado, relativamente a tribunais
e a outras entidades internacionais cujo estatuto confira o direito de acesso,
produzindo efeitos jurídicos sobre os estados, neste caso, sujeitos passivos.
O protesto consiste num acto de declaração pública, através do qual, um
estado "reserva os seus próprios direitos" perante as "reivindicações" de outro
ou outros estados, ou na imiência da formulação de uma regra em projecto,
tentando, deste modo, "impedir que uma regra consuetudinária lhe seja oponível" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 329-330). Neste sentido, o protesto
constitui "uma vertente negativa do reconhecimento" (Dinh, Daillier e Pellet,
57
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
1999,329). O estado exprime, assim, a sua aceitação ou recusa de uma proposta ou dos efeitos políticos ou jurídicos decorrentes de um acto que institua
ou crie uma nova situação, alterando o status quo ou a ordem relacional previamente estabelecida.
Neste contexto, o protesto pode reflectir a discordância de um estado numa
circunstância ou questão determinada, perante uma atitude ou posição de outro
estado. O protesto pode revestir a forma oral ou escrita, e ser dirigido directamente ao outro estado, ou veiculado através da intermediação de uma organização internacional ou de outra entidade competente solicitada para o efeito.
A validade do protesto é também condicionada em vários aspectos. Neste
sentido, a proveniência do protesto deve ter origem num estado ou numa organização internacional. Ao mesmo tempo, essa proveniência deve ser identificada como originária de um órgão que detenha essa competência efectiva.
Finalmente, a veiculação do protesto deve seguir as vias competentes, processando-se pelos canais diplomáticos estabelecidos.
A ausência "inequívoca" de protestos significa, ou equivale, ao reconhecimento "dos direitos dos outros Estados, ou a validade de uma situação originariamente contestável" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 330 e n.). Talvez se
torne pertinente referir, neste contexto, o conceito de acto unilateral tácito,
por oposição aos que podemos classificar como actos unilaterais expressos. Nesta perspectiva, o "silêncio", não poderia ser interpretado como ausência de
manifestação, mas antes como "uma modalidade particular de expressão da
vontade unilateral do estado" (Rousseau, 1970, voI. I, 430). Tratar-se-ia, pois,
de um acto, consubstanciado no facto de o estado em questão não contrapor
a um acto unilateral de outro estado, o que significaria a aceitação do referido
acto e dos respectivos efeitos jurídicos.
Enquanto que os actos unilaterais expressos, para efeitos de imputabilidade
dentro dos limites da capacidade do sujeito, e tal como referido, à semelhança
de quaisquer outros actos jurídicos, exigem uma demonstração de vontade
expressa e uma publicidade suficiente dessa mesma vontade, a validade do
"silêncio", enquanto acto unilateral tácito, dependeria da verificação outras
condições, nomeadamente, o conhecimento pleno da questão em apreço, a
relevância jurídica da mesma, e o decurso de um período temporal considerado suficiente para assegurar que o estado em causa, tendo conhecimento pleno da questão, decidiria não se manifestar (Rousseau, 1970, voI. I, 416, 430432; Dinh, Daillier e Pellet, 1999,328-329).
Neste sentido, a ausência de manifestação, correspondendo a um acto unilateral tácito, se, por um lado, pode ser considerada como aceitação do pressuposto de um acto unilateral expresso praticado por outro estado, por outro lado, o
acto unilateral expresso também não pressupõe "que se estabeleça qualquer acei-
58
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
tação do compromisso unilateral pelos outros sujeitos de direito" (Dinh, Daillier
e Pellet, 1999,329). A consideração do "silêncio", como acto unilateral tácito,
significando a aceitação do pressuposto ou a presunção de consentimento pela
não contraposição, torna-se, no entanto, discutível ou, pelo menos, problemática em termos de demonstração da vontade e da publicidade suficiente, enquanto condições exigidas para a consideração da existência de qualquer acto
jurídico, designadamente, de um acto unilateral expresso, e da inerente produção
de efeitos jurídicos. Neste sentido poderão verificar-se circunstâncias em que "o
silêncio é internacionalmente indiferente", e outras em que "o silêncio é assimilável a uma aquiescência tácita"(Rousseau, 1970, voI. I, 430-431).
O significado do "silêncio" mantido pelos estados, a sua interpretação
como acto unilateral tácito e a sua consideração enquanto acto jurídico constituem, assim, uma questão em debate e que suscita algumas reservas. Esta
"hesitação" fundamenta-se na verificação de que
"a jurisprudência não comporta precedentes muito esclarecedores, pois
o juiz ou o árbitro decidirá em termos de oponibilidade dos comportamentos dos estados e interessar-se-á sobretudo pela convergência dos
actos positivos de uns e do silêncio dos outros" (Dinh, Daillier e Pellet,
1999,329 e n.).
Neste contexto a jurisprudência considera que "o valor a atribuir ao silêncio" de um estado, dependerá da análise das circunstâncias em que esse silêncio se verificou (Rousseau, 1970, voI. I, 432).
Um acto unilateral menos frequente, é o da renúncia a um direito. Neste caso,
"[n]ão são os actos ou os direitos dos outros Estados que estão em causa, mas os do Estado que renuncia" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,330).
Através da renúncia, o estado abdica de um direito que lhe pertence, tendo
por isso que constituir um acto inequívoco e claramente expresso. Com efeito, ao perder o direito a que renuncia, o estado cria ou altera, pelo menos
potencialmente, os termos do seu relacionamento político e jurídico com os
outros actores, designadamente, quanto às legítimas expectativas dos outros
estados, relativamente a comportamentos e atitudes do estado em questão.
Partindo do
"princípio segundo o qual 'as limitações à independência não se presumem' ( ... ) as renúncias devem ser expressas e não se presumem"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,330).
59
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
A promessa ou garantia consiste num acto unilateral pelo qual um estado
impõe a si próprio um determinado comportamento, determinando uma
obrigação. Contrariamente aos actos unilaterais anteriormente referidos, que
"incidem sobre factos ou actos exixtentes, a promessa (ou a garantia) dá origem as novos direitos em proveito de terceiros" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
330). Tornando-se vinculativa para o estado que a formula, a promessa significa que, para além de assumir um compromisso, em termos do cumprimento
da inerente obrigação, o estado concede aos outros actores o direito de exigência desse cumprimento.
Entre os actos unilaterais dos estados, o acto do reconhecimento adquire
uma relevância acentuada, tornando-se pertinente a sua abordagem analítica
mais aprofundada, no contexto em apreço. Com efeito, a capacidade de actuação dos estados no plano das relações internacionais decorre, em primeiro
lugar, do facto da sua própria "existência" de jure, e esta deriva, em termos
político-jurídicos, do reconhecimento por parte dos outros estados.
Em segundo lugar, adquirido o estatuto de estado soberano através desse
reconhecimento, a actuação do estado inscreve-se entre as competências externas inerentes ao estatuto de soberania. Numa perspectiva abstracta e generalizante, a noção jurídica de "reconhecimento" pode caracterizar-se como
acto pelo qual um Estado, verificando a existência de certos factos
(... ) declara ou admite implicitamente que os considera como elementos sobre os quais seráo estabelecidas as suas relações jurídicas ... " (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999,496),
"O
verificando-se que a natureza dos regimes políticos tem implicações directas na atitude e comportamento relacional dos estados.
Com efeito, as diferenças entre regimes políticos tornam-se fundamentais
em termos de projecção de capacidades, atitudes e comportamentos no plano
do relacionamento externo, designadamente, em termos de aparelhos e processos de tomada de decisão. No plano interno, essas diferenças adquirem
expressão em termos do grau de domínio exercido pela estrutura política sobre os respectivos territórios e populações, ou seja, através do tipo de relação
estabelecida entre governantes e governados pelas modalidades de legitimização exigida aos primeiros, e inerentes ao regime político vigente.
Neste contexto, e relativamente às competências externas em geral, e aos
actos unilaterais em particular, evidencia-se, desde logo, a importância do direito que assiste ao estado, de decidir sobre o reconhecimento de outro estado.
Apesar dos interesses envolvidos, do significado simbólico, ou da oportunidade política ou estratégica do reconhecimento, este constitui também o acto ju-
60
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
rídico que se situa na génese do estatuto soberano do novo estado, ou da legitimação internacional do novo regime político, no caso de um estado já
existente, bem como da inerente capacidade de exercício das prerrogativas e
de atribuição de competências internas e externas que definem a soberania,
permitindo o exercício de direitos e reconhecendo as responsabilidades, através do cumprimento dos deveres e das obrigações inerentemente assumidos.
Assim, a figura do reconhecimento torna-se fundamental ao processo de
admissão de jure de um estado, no seio da comunidade internacional permitindo-lhe, designadamente, o estabelecimento de relações político-diplomáticas. Com efeito, é através do reconhecimento que o estado, que poderia já
existir de facto, adquire personalidade jurídica internacional podendo, a partir
de então, exercer as referidas prerrogativas inerentes.
A doutrina divide-se quanto aos critérios e modalidades do reconhecimento.
Uma corrente "declarativa" considera que os efeitos jurídicos do reconhecimento são limitados, na medida em que o estado existe de facto, e a atribuição
de personalidade jurídica internacional a um estado não depende do reconhecimento formal por parte dos outros, mas antes do próprio direito internacional.
Uma outra corrente, dita "atributiva" ou "constitutiva", considera que a
capacidade de exercício das competências da soberania depende do reconhecimento prévio por parte dos outros estados. Neste sentido, 1an Brownlie
considera que
"( ... ) o acto político do reconhecimento é uma condiçáo prévia do reconhecimento da existência de direitos; na sua forma externa, isto significa que a própria personalidade jurídica de um Estado depende da
decisáo política dos outros Estados" (Brownlie, 1997, 102, 99-111;
ver, tb., Dinh, Daillier e Pellet, 1999,496-512).
Os estados são livres de reconhecer de jure, a existência de outro. Porém,
mesmo que não o reconheçam formalmente, não podem alegar desconhecimento da sua existência efectiva, nem agir com base na recusa de um reconhecimento de facto. Assim, independentemente do critério adoptado, se o reconhecimento formal pode ser considerado como um elemento de ponderação
estratégica no contexto da política externa de um estado em relação a outro,
não pode, no entanto, ser considerado como uma condição indispensável à
atribuição do estatuto de soberania, nomeadamente, quando se trata de reconhecer um governo ou um regime político novo, num estado já existente.
Neste contexto, a corrente "declarativa" parece prevalecer na maioria das
perspectivas jurídicas, designadamente, porque se reconhece que as compe-
61
;\
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
tências da soberania e a personalidade jurídica internacional dos estados são
atribuídas pelo direito internacional e não pelos outros estados.
2.1.2. O Exercício do Direito de Celebrar Tratados Internacionais
A prerrogativa de celebrar tratados internacionais (jus tractuum), é extensiva a todos os estados soberanos, embora não exclusiva destes, e constitui uma
das formas mais relevantes da participação do estado nas relações internacionais. É através do exercício do direito de celebrar tratados internacionais, que
os estados assumem compromissos recíprocos, cujo cumprimento se traduz
no aumento de previsibilidade dos comportamentos e da consolidação de expectativas baseadas no princípio da boa fé, traduzido na expressão pacta sunt
servanda - ou seja, os tratados são para se cumprir - subjacente aos tratados e
que se encontra convencionalmente consagrada. Neste sentido, constituindo
fontes de direito internacional, os tratados podem também ser considerados,
numa perspectiva internacionalista e de efeitos mais vastos, como elementos
estabilizadores dos relacionamentos internacionais.
Os preceitos legais sobre a elaboração, conclusão, entrada em vigor e implicações dos tratados, em termos de observância, obrigações, aplicação, validade, violação, denúncia, alteração, suspensão ou extinção e efeitos decorrentes, encontram-se fixados pela Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados, de 23 de Maio de 1969, pela Convenção de Viena sobre o Direito
dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, de 1986, e na Convenção de Viena sobre a Sucessão de
Estados quanto a Tratados, de 1978 (Escarameia, 2003).
N o seu Art. o 2. o. § 1. 0 alínea a), a Convenção de Viena sobre o Direito dos
T ratados define tratado como
"um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido
pelo Direito Internacional, quer esteja consignado num instrumento
único, quer em dois ou vários instrumentos conexos, e qualquer que
seja a sua denominação particular".
Numa perspectiva extensa, isto é, que transcende os estados no sentido de
uma aplicação generalizada a outros sujeitos de direito internacional, o tratado pode ser definido como
"um acordo de vontades, em forma escrita, entre sujeitos de direito
internacional, agindo nesta qualidade, de que resulta a produção de
efeitos jurídicos"(Pereira e Quadros, 1993, 173),
62
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
ou ainda como um
"acordo concluído entre dois ou mais sujeitos de direito internacional,
destinado a produzir efeitos de direito e regulado pelo direito internacional" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 107),
ou seja, o tratado destina-se a produzir efeitos jurídicos e é, simultaneamente,
regulado pelo direito internacional.
As diferentes designações de tratado, acordo ou convenção, reflectem geralmente o âmbito sectorial, o grau de importância política que lhes é atribuída, bem como das instâncias e entidades directamente envolvidas nos processos de negociação e de conclusão. Outras designações, possíveis, são
"concordata", geralmente utilizada quando a Santa Sé é parte, ou "declaração", quando o objectivo é mais declaratório, programático ou recomendatório, geralmente, não vinculativo, traçando linhas de orientação desejável ou
afirmando intenções de adopção de atitudes e comportamentos, assumindo,
por vezes, o carácter de "acta final" de uma conferência, de grau vinculativo
reduzido e produzindo efeitos de alcance jurídico variáveis.
Os órgãos estatais possuidores do atributo soberano que consiste na capacidade de celebrar tratados, ou seja, de assumir responsabilidades internacionais em nome do estado soberano, são determinados pelo direito interno dos
actores da sociedade internacional, aos quais, a ordem jurídica internacional
confere o referido ''jus tractuum".
Os processos de elaboração dos tratados desenvolvem-se geralmente, ao
longo de quatro fases essenciais: negociação, redacção, assinatura e ratificação.
Após esta última fase, o tratado passa a vincular o estado signatário, mediante
a conclusão dos processos de promulgação e entrada em vigor, fixados tanto
no próprio tratado, como na ordem jurídica interna desse estado (Cunha,
1987, 100-132).
Os tratados, acordos e convenções resultantes dos processos negociais podem ser classificados em acordos de extensão, de normalização, de redistribuição e de inovação. Os acordos e convenções podem ainda focar os efeitos secundários ou marginais dos acordos anteriores. As questões e as problemáticas
cuja resolução ou gestão será fixada pelos tratados, acordos ou convenções
poderão, por sua vez, ser distribuídas por áreas políticas, de desenvolvimento,
contratuais, económicas, de segurança, regulatórias e administrativas (Barston, 1988, 77-80).
No plano jurídico, poderemos classificar os tratados em dois grupos, designadamente, os tratados normativos e os tratados-contratos. Os primeiros têm
como objectivo a definição de uma regra de direito de validade objectiva, ou
63
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
seja, uma norma susceptível de aplicação a uma generalidade de casos, e através dos quais os estados se comprometem a adoptar uma norma comum para
reger a sua coduta permanente. Os segundos, formalizados geralmente num
contexto bilateral, representam acordos sobre uma troca júridica concreta,
por exemplo, uma troca de utilidades ou de concessões de facilidades entre
dois estados, equivalendo a negócios jurídicos internacionais. A doutrina considera, actualmente, que tanto os tratados normativos como os tratados-contratos têm o mesmo valor jurídico, residindo a diferença essencial, na extensibilidade dos respectivos efeitos (Cunha, 1987; Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
111-112).
Ian Brownlie refere-se ainda aos "acordos informais", relativamente aos
quais,
"[o] Direito dos Tratados não contém requisitos de forma obrigatórios, tendo os relatores da Comissão do Direito Internacional admitido a validade de acordos não escritos"(Brownlie, 1997, 659), e
aos "actos quase-legislativos", cujas características especiais ( ... ) [que]
podem ser descritas como 'quase-legislativas"', não permitem, no entanto, concluir que esses actos não sejam considerados como "'tratado ou convenção', pelo menos para certos fins"(Brownlie, 1997,
659-660 e n.s).
Encontram-se neste caso os acordos de mandato e os acordos de tutela,
equiparados aos primeiros para "fins de interpretação". No entanto, mesmo
para estes fins, os
"actos quase-legislativos não podem ser abordados exactamente do
mesmo modo que os tratados bilaterais" (Brownlie, 1997, 660 e n.s).
Através da celebração de tratados, os estados contribuem para a normativização das suas relações recíprocas e, por consequência, para o alargamento e
aprofundamento das áreas de aplicação do direito internacional. Com efeito,
os acordos sobre posições políticas e procedimentos relacionais tornam-se legislação por via convencional. É neste sentido que o "poder de assinar tratados" significa, de facto, que
"os Estados são legisladores, e apenas obedecem às regras que
criam"(Moreira, 2002, 348) .
64
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS EsrADOS
Ao mesmo tempo, a celebração de tratados evidencia as exigências impostas aos estados por um ambiente relacional caracterizado pelas interdependências crescentes, complexas e interactivas. No entanto, é também através deste
"tTeaty makingpower" que os estados se afirmam como o principal agente das
relações internacionais, no plano da produção normativa positivada pelo direito internacional, enquanto elemento regulador e estabilizador dos comportamentos relacionais no seio da comunidade internacional.
2.1.3. Actos Concertados Não-Convencionais
Resultantes de negociações entre estados, os actos concertados não-convencionais constituem instrumentos que, tal como os tratados, se destinam a regular certos aspectos ou sectores de relacionamento entre os signatários. Não
sendo tratados e não estando, por isso mesmo, sujeitos ao direito dos tratados,
nem ao princípio fundamental do ''lacta sunt servanda", estes instrumentos
desempenham, no entanto, uma função política extremamente relevante
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,350).
Os actos concertados não-convencionais assemelham-se àqueles a que a doutrina anglo-saxónica se refere geralmente como "gentlemen's aggrements", ou
"non-binding agreements", podendo ser definidos como
"instrumentos resultantes de uma negociação entre pessoas habilitadas
a comprometer o Estado e chamadas a enquadrar as suas relações, sem
por isso terem um efeito obrigatório" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
351).
A sua heterogeneidade formal, bem como a diversidade das circunstâncias em que são adoptados e das denominações que lhes são atribuídas, dificultam as tentativas de sistematização classificativa. Com efeito, estes actos
são frequentemente chamados comunicados conjuntos, declarações comuns ou
ainda "declarações, cartas códigos de conduta, combinações, memorandos,
actos finais, protocolos, até mesmo acordos ... " (Dinh, Daillier e Pellet,
1999,351).
Os critérios de classificação adoptados podem ser formais ou materiais. No
primeiro caso, a classificação estabelece-se "em função dos titulados ou do
modo da sua elaboração", acentuando-se a distinção entre os que são elaborados no quadro de uma organização internacional, e os que resultam de negociações diplomáticas "clássicas", bilaterais ou multilaterais. Os critérios materiais dividem, por exemplo, os "gentlemen 's agreements" em "acordos informais
políticos, interpretativos e normativos (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 351).
65
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Outros critérios podem ser utilizados, designadamente, o que permite distinguir os actos "autónomos", dos actos que se articulam com uma prespcrição
convencional. Se, por um lado, estes critérios permitem, "distinguir os instrumentos 'jurídicos' dos textos políticos", por outro lado, é difícil conceder-lhes
qualquer outro alcance no plano do direito (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,352
e n.s). No entanto, apesar de uma certa "unidade" e de uma definição geralmente aceite,
"nem sempre é fácil distinguir os actos concertados não convencionais
das outras categorias de instrumentos jurídicos internacionais" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999, 351).
Se, por um lado, os actos concertados não convencionais se distinguem facilmente dos actos unilaterais, visto constituirem o resultado de uma negociação
e não terem efeito obrigatório, por outro lado, e
"da mesma maneira que certos tratados se asemelham a 'actos unilaterais colectivos' face a terceiros, certos actos concertados não convencionais pretendem produzir efeitos a respeito de terceiros (. .. ). Mas é
sobretudo em relação às resoluções das organizações internacionais por
um lado, aos tratados por outro, que se põe o problema da especificidade dos actos concertados não convencionais" (Dinh, Daillier e Pellet,
1999,352 e n.s).
No primeiro caso, e apesar de as resoluções serem actos unilaterais da organização internacional que os adopta, sendo imputável enquanto sujeito de
direito internacional, e os actos concertados não convencionais resultarem da
vontade de, pelo menos, dois sujeitos de direito internacional, diferindo, além
disso, das decisões por, ao contrário destas, não terem efeito obrigtório, verifica-se que
"o alcance jurídico dos actos concertados não convencionais está muito próximo do das recomendações das organizações internacionais"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,353 e n.s).
O mesmo não acontece no segundo caso, verificando-se que as consequências jurídicas de um tratado, são muito diferentes das de um acto concertado
não-convencional, designadamente, pelo carácter de efeito obrigatório do primeiro, e de efeito não obrigatório do segundo, constituindo esta característica,
um elemento da sua própria definição. Essa
66
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS EsTADOS
t
"ausência de força obrigatória do actos concertados não convencionais
tem importantes consequências jurídicas". Por um lado, "não compromete a responsabilidae internacional dos seus autores e não pode ser
objecto de um recurso jurisdicional". Por outro lado, "não se tratando
de acordos internacionais, não estão submetidos ao respeito das regras
específicas do direito dos tratados (... ) não devem ser inroduzidos nas
ordens jurídicas nacionais em conformidade com as regras constitucionais relativas aos compromissos internacionais do Estado; não podem
ser invocados perante os tribunais nacionais, etc."(Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 354).
No entanto, e apesar do seu carácter não obrigatório, os actos concertados
não-convencionais, não podem ser considerados meros "compromissos puramente morais e políticos, sem alcance jurídico" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
356). Encontrando-se, à semelhança das recomendações das organizações internacionais, sujeitos a um regime jurídico, designadamente porque ao celebrarem um acto concertado não-convencional, estão vinculadas pelo princípio
da boa fé, e os estados ficam impedidos de invocarem a "excepção de competência nacional" sobre o domínio em que intervieram. Ao mesmo tempo, tal
como as recomendações das organizações internacionais, os actos concertados
não-convencionais
"têm um valor permissivo no sentido de neutralizarem a aplicação de
uma eventual regra anterior nas relações entre os destinatários" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999, 356).
Por outro lado, o respeito pelas normas contidas no acto pode impor-se
aos estados. Não é o acto em si mesmo que se torna obrigatório, mas sim o
facto de ser confirmativo, no sentido de que apenas se limita a "reassumir as
regras costumeiras preexistentes" e, em certos casos, reforçando a eficácia dessas normas e fazendo os estados reconhecerem a sua "importância e validade
contínua" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,356-357 e n.s). Além disso, tal
"como as resoluções ou convenções que não entram em vigor, o conteúdo de um acto concertado não convencional pode ter força obrigatória para os Estados que o tenham aceite seja por um acto unilateral, seja
por um tratado"(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,357).
Tal como os tratados e as recomendações das organizações internacionais,
também estas manifestações de "soft law" a que chamamos actos concertados
67
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
não-convencionais, "podem contribuir para a formação de regras costumeiras"
(Dinh, Daillier e PeUet, 1999, 356).
Finalmente, será pertinente notar que
"[a]pesar destas características, ou talvez por causa delas, os actos concertados não convencionais são muito largamente utilizados nas relações internacionais e parecem mesmo exercer uma atracção crescente
sobre os Estados. Esta atracção explica-se pela Rexibilidade destes instrumentos, bem adaptados às condições variáveis da vida internacional - muito especialmente em matéria económica - e, e certos casos
pelo menos, pela preocupação dos responsáveis da política externa de
escapar aos constrangimentos constitucionais em matéria de tratados"
(Oinh, Oaillier e Pellet, 1999,355).
2.1.4. O Exercício do Direito de Reclamação Internacional
O direito de reclamação internacional do estado, consiste na capacidade do
recurso à justiça internacional, no sentido de proteger os seus direitos. No
plano jurídico, "estar em justiça", constitui o direito legítimo reconhecido ao
estado, de recorrer, com base numa submissão voluntária, aos meios jurisdicionais que a comunidade internacional coloca ao seu alcance. Estes incluem
o recurso à justiça não institucionalizada ou arbitragem, de cujo processo sairá uma "resolução arbitral", ou à jurisdição institucionalizada, isto é, aos tribunais internacionais, que emitem uma "resolução jurisdicional", decisão jurisdicional, acordão ou sentença. No entanto, o estatuto de soberania confere
aos estados, através das suas jurisdições internas, os meios que permitem "travar" o recurso imediato a instâncias jurídicas internacionais.
De facto,
"[n]a ordem internacional, o recurso a um processo jurisdicional ou
arbitral está subordinado ao consentimento de todas as partes em litígio. Enquanto sobreviver a soberania estatal, será impossível estabelecer
uma justiça internacional obrigatória que autorize cada Estado a citar
unilateralmente um outro Estado perante uma jurisdição internacional
a propósito de qualquer conRito"(Oinh, Oaillier e Pellet, 1999, 760).
Neste contexto, acentua-se o carácter voluntário, facultativo e de reciprocidade da justiça internacional. Com efeito, o próprio Estatuto do TI], consagra no
seu Art.o 36.°, n.O 2, a já referida "cláusula facultativa de jurisdição obrigatória"
que permite aos estados,
68
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
[
"em qualquer momento, declarar que reconhecem como obrigatória ipso
facto [(de pleno direito)] e sem acordo [(ou convenção)] especial, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição do
Tribunal em todas as controvérsias jurídicas... "(Escarameia, 2003,1 70).
A única excepção ao carácter voluntário e facultativo da submissão, é a que
resulta da obrigatoriedade de recurso a instâncias arbitrais ou jurisdicionais,
prevista em instrumentos formais previamente convencionados, designadamente, acordos e outros compromissos internacionais livremente celebrados entre os
estados. Este consentimento convencionado não se refere a um confliro determinado. Com efeito, nestes casos,
"[o]compromisso de se submeter à jursidição do Tribunal assenta sobre
os conflitos eventuais, mais ou menos definidos antecipadamente. A
jurisdição do Tribunal é 'obrigatória' porque o acordo das partes está
contido, preliminarmente, num acto jurídico constrangente" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999, 787).
2.1.5. O Exercício do Direito de Fazer a Guerra
O direito de fazer a guerra implica o direito ao uso da força. Max Weber reconhece no estado, a entidade que possui o "monopólio da violência legítima". No
entanto, isso não significa a legalidade generalizada do seu exercício ou da ameaça do seu uso. Com efeito, o direito internacional restringe o uso da força através
de vários instrumentos jurídicos, desde o Pacto da Sociedade das Nações, de
1919, passando pelo Pacto Briand-Kellog, de Agosto de 1928, até Carta das
Nações Unidas, de 1945, que no seu Art.o 2.°, n.O 4, estipula a abstenção do recurso à ameaça e ao uso da força, apenas limitada pelo direito de legítima defesa
individual ou colectiva, nos termos do Art.o 51.° da Carta. O mesmo Art.o 2.°,
no seu n.O 7, exclui as decisões do Conselho de Segurança sobre a aplicação de
medidas coercivas, tomadas no âmbito do Capítulo VII, da proibição de ingerência em assuntos da jurisdição interna dos estados. Assim, o Art. ° 42.° da Carta
autoriza o Conselho de Segurança a decidir sobre a utilização de forças armadas
para a manutnção ou restabelecimento da paz e da segurança internacionais.
Verifica-se, no entanto, que os estados continuam a recorrer à utilização da
força, usando de uma competência soberana que é contrária à legalidade e ao
regime jurídico estabelecido pelo direito internacional, designadamente, e tal
como referido, nos termos do clausulado da Carta da Organização das Nações
Unidas, da qual são signatários. Neste contexto, o conceito de "conflito armado inernacional" prevalece, tendencialmente, sobre o conceito clássico, tradi-
69
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
t
cional e mais estrito, de "guerra", incluindo-o e adaptando-se com maior pertinência à realidade diversificada dos relacionamentos conflituais violentos da
sociedade internacional contemporânea. Com efeito,
"por um lado, C.. ) o conceito de guerra remete para um formalismo
ultrapassado. Por outro lado, o regime jurídico da guerra perdeu a sua
especificidade e alargou-se a outras situações, sem que seja possível efectuar uma distinção rígida entre umas e outras"(Dinh, Daillier e Pellet,
1999,841).
o próprio estatuto de neutralidade, declarado pelos estados, ou seja, a decisão unilateral de não intervenção em conflitos armados, é revogável. Além
disso, mesmo no caso da chamada neutralidade permanente, verifica-se que os
interesses do agressor prevalecem sempre sobre os interesses do agredido, e a
violação do estatuto de neutralidade tem sido frequente na história recente
das relações conflituais.
Entre os instrumentos convencionais que regulamentam o direito dos conflitos armados, salientam-se a Convenção da Haia, de Outubro de 1907, as
várias Convenções de Genebra, de Agosto de 1949, e respectivos Protocolos
Adicionais, de Julho de 1977, e a resolução A.G. 3314 (XXIX), de 14 de Dezembro de 1974, contendo a definição de agressão (Santos, 2009, 214). Convém, no entanto distinguir entre o "direito da Haia",
"concentrado sobre o comportamento dos beligerantes e combatentes
na condução das hostilidades e que se esforça por limitar a extensão da
violência, e o 'direito de Genebra', consagrado à protecção das vítimas
(1949 e 1977)" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,849).
As manifestações características dos relacionamentos conflituais violentos
da sociedade internacinal contemporânea, permitem verificar que os efeitos
progressivamente agravados do uso da força derivam, entre outras causas, da
prevalência das capacidades baseadas nos avanços tecnológicos aplicados à
área estratégico-militar, sobre os princípios da convivência internacional regulada pelo direito e baseados numa ética tendencialmente esquecida ou
remetida para um estatuto simbólico, apesar de frequentemente evocada.
Neste contexto, "O direito de conflitos armados assenta menos sobre princípios do que sobre um compromisso difícil entre convicções contraditórias.
Por um lado, sendo o resultado pretendido por cada parte a vitória, ela deve
querer utilizar todas as suas possibilidades de acção para o conseguir. Por outro lado, impõe-se o respeito pela vida humana. Assim, o regime de beligerân-
70
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
cia deve conciliar, na medida permitida pela evolução das técnicas, as necessidades militares e as exigências humanitárias elementares" (Dinh, Daillier e
Pellet, 1999,849).
2.1.6. O Exercício do Direito à Igualdade Soberana
O princípio do direito à igualdade soberana encontra-se consagrado no
Art.° 2.0, n. O 1 da Carta das N.V., constituindo um princípio fundamental da
respectiva ordem jurídica. Tendo a independência como um dos seus corolários, o princípio da igualdade tem por finalidade restabelecer, no plano jurídico, um estatuto que, no plano político, corresponde a uma desigualdade efectiva, traduzida na hierarquia das potências. Neste sentido, a referida
Convenção de Montevideu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de 1933,
consagrava também este princípio estipulando, no seu Art. o 4. 0 a igualdade
jurídica entre os Estados e declarando que
"[o]s direitos de cada um não dependem do poder que possui para
assegurar o seu exercício, mas do simples facto da sua existência como
sujeito (''person'') de direito internacional"(Escarameia, 2003, 119).
A Acta Final da Conferência de Helsínquia sobre Segurança e Cooperação
Euroieia, de Agosto de 1975, reforça o mesmo princípio.
Os estados saídos dos processos de descolonização acentuaram a importância deste princípio, através da capacidade de influenciar as decisões da Assembleia Geral, recorrendo a votações em bloco, fazendo prevalecer a força da sua
intervenção baseada na expressão numérica resultante da concertação estratégica.
No entanto, a evolução, tanto do direito internacional, como do conceito
de soberania, têm acentuado a crise do princípio da igualdade soberana, que
tem vindo a evidenciar-se como "desajustada" em relação à realidade internacional, verificando-se nas organizações internacionais, designadamente, nas
organizações supranacionais, a generalização progressiva do
"sistema de ponderação dos Estados em função de critérios pré-definidos, que nomeadamente atendem à sua dimensão demográfica e à sua
extensão territorial" (Pereira e Quadros, 1993, 332).
Do mesmo modo, no que concerne à independência, a realidade actual
permite verificar as frequentes interferências, explícitas e publicamente veiculadas, exercidas pelos estados "no processo de formação da vontade dos
71
ELEMENTOS DE ANÁLISÊ DE POLÍTICA ExTERNA
outros"(Moreira, 2002, 350). Ao mesmo tempo, o aprofundamento das interdependências determina processos interactivos que se caracterizam por
uma crescente indução exógena da mudança.
Assim, num ambiente internacional caracterizado por interdependências
complexas e pela desigualdade efectiva entre os estados em termos de capacidade de exercício de poder, o respeito pela independência, quando se verifica,
"sem interferências provenientes de uma relação de poder, significa uma discricionaridade dentro dos limites fixados pelo direito internacional" (Moreira, 2002, 350). Neste sentido, o princípio da igualdade soberana e o seu corolário da independência constituem, de facto, "duas condições que são garantias
e não direitos ou liberdades" (Moreira, 2002, 349).
2.2. - Deveres e Obrigações dos Estados
2.2.1. A Responsabilidade Internacional dos Estados
A importância do estatuto do estado soberano deriva, não apenas dos direitos e competências que lhe são conferidos, mas dos deveres e obrigações
que lhe são inerentemente atribuídos pela comunidade internacional e consagrados através de instrumentos jurídicos que prevêem e implicam o respectivo
cumprimento. Neste contexto, será possível admitir que os estados e demais
actores das relações internacionais possuem a legitimidade de formulação de
expectativas relativamente a um comportamento determinado, de acordo
com os princípios do direito internacional, ou seja, esperam da parte dos outros estados o desenvolvimento de acções relacionais consentâneas com esse
estatuto.
Com efeito, e tal como referido anteriormente, o conceito de soberania
exprime também "a submissão do Estado ao direito internacional" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999,398). Parte-se, pois, do princípio de que
"OS sujeitos de direito internacional assumam a sua responsabilidade logo
que os seus comportamentos produzam dano aos direitos e interesses dos
outros sujeitos de direito" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,679).
Neste sentido,
"[a] responsabilidade internacional dos Estados aparece como o mecanismo regulador essencial e necessário das [suas] relações mútuas"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,679).
72
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
lamento das inaracterizam por
terdependências
rmos de capaciando se verifica,
5nifica uma discional" (Moreima e o seu corolue são garantias
No plano das relações entre os sujeitos de direito, actores da sociedade internacional, verifica-se que o estado, através das competências inerentes ao estatuto
de soberania, tem capacidade e liberdade de determinar as suas acções, sendo
estas limitadas pela igualdade jurídica e soberana entre todos os estados que,
possuindo o mesmo estatuto, gozam das mesmas liberdade e capacidade.
As abordagens da questão da responsabilidade internacional do estado, remontam a Gentili, Grotius e, posteriormente, a VatteI. A partir do século XIX,
a intensificação das relações interestatais revelaria problemáticas que estariam na
base de tentativas de definição embrionária de princípios de um regime de responsabilidade internacional dos estados, designadamente, com base em numerosas decisões arbitrais que apontavam para "novas orientações". Na sequência
do primeiro conflito mundial, a doutrina e a prática revelam
"a tendência para definir conjuntos sistemáticos de princípios sobre o
tema, ou seja, para organizar códigos internacionais sobre o regime da
responsabilidade dos Estados ... " (Cunha, 1990, 95).
) apenas dos di:es e obrigações
acional e consaam o respectivo
stados e demais
! formulação de
ldo, de acordo
la parte dos ou:âneas com esse
to de soberania
lcional" (Dinh,
ue
idade logo
eresses dos
Deste modo, regras maioritariamente consuetudinárias, sistematizadas pelos autores referidos e adoptadas nas decisões arbitrais anteriormente mencionadas, seriam acolhidas pela jurisprudência do Tribunal Permanente de] ustiça Internacional (TP]I) e, posteriormente, pelo TI].
Perante a exigência reconhecida de uma codificação doutrinária sistematizada, desenvolvem-se os esforços cujos resultados estarão na origem da referida Convenção de Montevideu sobre os Direitos e Deveres dos Estados, de
1933. Após o segundo conflito mundial, Carta da ONU, de 1945, estabelece
os princípios de direito internacional que deverão prevalecer nos relacionamentos entre os seus membros, e a sua Comissão de Direito Internacional
tem continuado os esforços no sentido da sistematização doutrinária e jurisprudencial dos vários aspectos envolvidos na questão da responsabilidade internacional dos estados, que pode ser considerada actualmente como um
princípio geral de direito internacional.
Neste contexto,
"o Direito da responsabilidade diz respeito à incidência e às consequências de actos ilegais e, em particular, ao pagamento de uma indemnização pelos danos sofridos"(Brownlie, 1997,458).
no o me,
"
; mutuas
A tendência actual é para articular o conceito de "responsabilidade internacional" com um âmbito temático mais vasto, designadamente, a partir
das restrições impostas pelos princípios gerais do direito internacional e dos
73
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
trabalhos do TI], que "têm contribuído para uma concepção de responsabilidade mais próxima da ideia de Estado de Direito" (Brownlie, 1997 ,458).
Os conceitos de crime internacional e delito internacional, dano material,
responsabilidade objectiva, culpa, indemnização, satisfação, restituição ou reposição, reparação, prejuízo directo e indirecto, mediato e imediato, material
e moral, articulam-se com o direito da responsabilidade internacional, tendo
alguns deles, um cariz mais político do que jurídico. O carácter ilícito da violação de tratados e de outras regras, bem como de princípios do direito internacional, são de identificação recente e referem-se à prática de actos ilícitos
por abuso da competência do estado bem como à obrigatoriedade de reparação dos danos causados, para além da obrigação de pôr fim a uma situação
ilegal (Brownlie, 1997,539).
Os princípios do direito internacional mais generalizadamente aceites neste contexto, são o referido "pacta sunt servanda" articulado com o princípio da
boa fé, segundo os quais, "um tratado em vigor é vinculativo para as partes e
deve ser cumprido por estas de boa fé" (Brownlie, 1997,640). Neste sentido,
o estado tem a obrigação de cumprir os tratados de que é parte, bem como de
observar as restrições derivadas de compromissos internacionais assumidos no
exercício dos atributos e competências da soberania externa, designadamente,
os vínculos, obrigações e compormissos jurídicos derivados de actos unilaterais autonormativos, e a obrigação de cumprir as regras decorrentes da sua
participação nas organizações internacionais de que é membro.
Ao princípio do "pacta sunt servanda", articulado com o princípio da boa
fé, juntam-se outros, como os princípios gerais do consentimento, da reciprocidade e da igualdade soberana e jurídica entre os estados, o princípio do
carácter definitivo das decisões arbitrais e das resoluções de litígios pelos
tribunais internacionais, a validade jurídica dos acordos, o princípio da inviolabilidade do território dos estados, o princípio da não ingerência nos
assuntos internos de outro estado, a proibição do uso da força, do genocídio, da discriminação racial, dos crimes contra a humanidade, do comércio
de escravos e da pirataria, o princípio da soberania sobre os recursos naturais, o princípio da autodeterminação, etc. (Brownlie, 1997, 30-31, 536537).
Apesar de tudo, desde a fase genética e do processo de elaboração instrumental, até à entrada em vigor das normas acordadas, tanto a experiência relacional, como a subsequente "produção de efeitos de direito", que adquire
expressão através do seu desenvolvimento em termos de aplicação e de observância por parte dos actores, constituem também elementos estabilizadores
do ambiente relacional, na medida em que geram e legitimam expectativas
baseadas numa previsibilidade comportamental formalmente convencionada.
74
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
) de responsabilie, 1997,458).
, dano material,
estituição ou reediato, material
'nacional, tendo
er ilícito da viodo direito interde actos ilícitos
:dade de reparaa uma situação
ente aceites nesn o princípio da
para as partes e
. Neste sentido,
e, bem como de
js assumidos no
lesignadamente,
le actos unilate:orrentes da sua
o.
lrincípio da boa
mento, da reci, o princípio do
le litígios pelos
)rincípio da iningerência nos
,rça, do genocíle, do comércio
; recursos natu-
7, 30-31, 536lboração instruexperiência re)", que adquire
lção e de obser; estabilizadores
1m expectativas
convencionada.
l
Esta capacidade de previsão torna-se, por sua vez, um factor de indução de
entendimentos entre os actores permitindo, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de modalidades de resolução pacífica de conflitos, a partir de um enquadramento jurídico formalmente fixado, produzindo, em consequência,
efeitos significativos que transcendem o âmbito das matérias acordadas, bem
como das áreas e sectores de aplicação específica.
As problemáticas decorrentes da não-observância do princípio da boa-fé,
do ''pacta sunt servanda" e dos pressupostos jurídicos anteriormente referidos,
acentuam a exigência política e estratégica de enquadramento, por parte da
comunidade internacional, das entidades/actores que correspondem a grupos
humanos/societais politicamente organizados sob a forma político-jurídica,
estatutária de estado.
2.2.2. Resolução Pacífica de Conflitos Internacionais
Tal como referido, entre os princípios subjacentes ao conceito de soberania, inclui-se a obrigação do estado contribuir para o desanuviamento internacional e para a resolução pacífica de conflitos, pressuposto e fundamento de
todas as ordens jurídicas. Talvez a avaliação de resultados em política externa,
deva começar pela avaliação do exercício e do cumprimento desta responsabilidade determinante. Com efeito, se a guerra significa que a diplomacia falhou
no seu principal objectivo (Morgenthau, 1993,361-362), torna-se admissível
considerar que, actualmente, "o objectivo da política externa é a paz e a prosperidade, e não o poder ou o prestígio" (Cooper, 2004, 85).
Neste contexto, referiremos, entre outros instrumentos políticos e jurídicos internacionais aos quais os estados signatários se encontram vinculados, as
várias Convenções celebradas no âmbito das Conferências da Haia, de 1899 e
de 1907, sobre meios pacíficos de resolução de conflitos; o Pacto da Sociedade
das Nações, de 1919; a Acta Geral sobre Resolução Pacífica de Conflitos Internacionais, de Setembro de 1928, assinada em Genebra, na sequência do
Pacto Brian-Kellog, celebrado no mês anterior, e que interditava o recurso à
guerra; a Carta das Nações Unidas, de 1945, que no seu Art.o 2.°, §3.0, consagra a obrigatoriedade do recurso a meios pacíficos de resolução de conflitos
e no Capítulo VI da mesma Carta, "Solução Pacífica de Conflitos", o Art.O
33.° "é explícito quanto aos instrumentos a aplicar em situações de conflito
internacional, e tendentes à respectiva resolução pacífica" (Santos, 2009,
213). Resoluções posteriores da Assembleia Geral da ONU, consagram o
mesmo dever, designadamente, a Declaração de Direitos e Deveres dos Estados (res. A.G. n.O 375 (IV), de 6 de Dezembro de 1949). No mesmo sentido
se pronuncia a Convenção Europeia para a Resolução Pacífica de Diferendos,
75
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
do Conselho da Europa, de 29 de Abril de 1957, que distingue os conflitos
jurídicos dos conflitos políticos; a Convenção sobre as Missões Especiais e
Protocolo Facultativo sobre a Solução Obrigatória de Controvérsias, aprovada pela Resolução 2530 (XXIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de
8 de Dezembro de 1969; a Declaração sobre Princípios de Direito Internacional relativos às Relações Amistosas e à Cooperação entre Estados de acordo
com a Carta da Nações Unidas (res. A.G. n.o2625 (XXV), de 24 de Outubro
de 1970), a Acta Final da Conferência de Helsínquia, de 1 de Agosto de 1975,
e a Declaração de Manila sobre Resolução Pacífica de Conflitos, adoptada
pela Resolução A.G. 37/10, de 15 de Novembro de 1982.
Mais recentemente, a Agenda para a Paz, elaborada em 1992 pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Boutros Boutros-Ghali reflectiria uma perspectiva de esperança no plano da resolução pacífica dos conflitos
internacionais, decorrente do novo ambiente político internacional originado
pelo fim da guerra fria. No entanto, essa "agenda" seria "ambiciosa", em termos do papel que a ONU poderia desempenhar após o fim da ordem internacional bipolar, e perante esse novo contexto relacional.
Neste sentido, o autor sugeria conceitos como "diplomacia preventiva"
(Griffiths e O'Callaghan, 2002, 255-257), envolvendo o desenvolvimento
de medidas de construção de confiança, inquéritos e estacionamentos preventivos autorizados de forças da organização; "restabelecimento da paz"
("peace making') concebido no sentido de criar condições de acordo entre
as partes em conflito "essencialmente através de meios pacíficos" mas prevendo, no entanto, a possibilidade do recurso, nos termos do Capítulo VII
da Carta, a acções de "peace enforcement", mesmo sem o consentimento das
partes em conflito; "manutenção da paz" (''peace keeping') concretizada a
través da presença de forças da ONU com autorização das partes e exigindo
"uma definição alargada de segurança humana" (Annan, 1997, 9), e, finalmente, o conceito de "construção da paz", ("peace building') um processo
complementar da "manutenção da paz" (Griffiths e O'Callaghan, 2002,
233-235), aplicável a situações pós-conflituais e concretizada através do desenvolvimento de infraestruturas sociais, administrativas, políticas e económicas, no sentido da prevenção da violência, da consolidação do funcionamento e da estabilidade social, económica e política, bem como do
desarmamento progressivo, prevendo ainda o reforço da cooperação com
entidades da sociedade civil, mecanismos e organizações regionais (Annan,
1997; Taylor e Curtis, 2005, 413), constituindo um plano de acção fundamentado na projecção dinâmica da diplomacia, designadamente, através da
negociação, da representação multilateral permanente e da observância das
normas de direito internacional.
76
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
:t
sue os conflitos
;ões Especiais e
vérsias, aprovaiões Unidas, de
eito lnternacioados de acordo
24 de Outubro
\.gosto de 1975,
Ritos, adoptada
pelo Secretáos-Ghali reflecca dos conflitos
ional originado
iciosa", em teria ordem inter-
)2
cia preventiva"
~senvolvimento
mamentos premento d a paz"
te acordo entre
fi cos " mas preo Capítulo VII
sentimento das
concretizada a
Lrtes e exigindo
97, 9), e, final") um processo
llaghan, 2002,
Latravés do delíticas e eco nóo do funciona)em como do
)operação com
ionais (Annan,
te acção funda!nte, através da
lbservância das
As relações entre os actores do sistema internacional nunca foram , em nenhuma época, relações de anarquia pura. Existe sempre um determinado grau
de ordem resultante, não apenas da percepção de uma certa identidade de
interesses entre os actores estatais, conducente a práticas continuadas e a comportamentos de relacionamento recíproco sedimentados pelo costume e consagrados pelo direito internacional, mas também da derivada normatividade
regulatória cuja função se evidencia na estabilização das relações entre os actores estatais, bem como entre estes e os actores não estatais.
Neste contexto, as relações entre os estados, alternando entre a paz e a
guerra, ou entre uma coexistência pacífica, frequentemente determinada pela
complexidade das interdependências múltiplas, e as manifestações violentas
de uma conflitualidade inevitável, são, também elas, sujeitas a uma regulação
estabelecida pelo direito internacional público, bem como pelos tratados e
convenções que enquadram político-juridicamente, tanto a sociedade internacional, como os sistemas transnacionais de relacionamento. Deste modo,
poderemos considerar que
"[a] extensão da lei internacional traduz o alargamento dos interesses
colectivos da sociedade transnacional e do sistema internacional, isto é,
a necessidade crescente de submeter a leis a coexistência sobre o mesmo
planeta (... ) de colectividades humanas politicamente organizadas sobre
uma base territorial" (Aron, 1962, 115-116).
Neste sentido, o direito internacional modifica, de certa forma, a essência
das relações interestatais, segundo uma teoria "implicitamente normativa"
(Aron, 1962, 116). Após a entrada em vigor, a obrigação de respeitar os compromissos assumidos através de um tratado é, de facto, igual para todos os
estados signatários, internacionalmente reconhecidos como sujeitos de direito
internacional. Ao mesmo tempo, esses instrumentos jurídicos reflectem, através do exercício soberano do referido "treaty makingpower", a vontade política das partes em termos de identificação e de superação de perspectivas divergentes através da aproximaçáo de posições e da conciliação pontual de
interesses específicos.
Mas se as obrigações derivam do costume ou dos tratados assinados pelos
decisores políticos e ratificados pelos estados, o cumprimento das obrigações,
a observância das restrições e dos compromissos comportamentais em termos
de acção, raramente sáo perspectivadas da mesma forma por todos os signatários. Assim, no plano normativo, a relação de forças identifica-se no diferencial entre a capacidade de imposição e a inevitabilidade da aceitação, variando
no tempo e no espaço segundo a percepção conjuntural dos interesses e dos
77
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
objectivos, implicando tácticas, estratégias e atitudes políticas evolutivas que
adquirem expressão através da utilização instrumental dos tratados, especificamente determinada pelas circunstâncias.
Assim, se os processos de resolução pacífica de conflitos internacionais resultam, com frequência, na celebração de tratados, acordos e convenções que
traduzem a vontade expressa dos estados signatários, estes instrumentos político-jurídicos revestem-se, no entanto, de um significado mais vasto. Com
efeito, se, por um lado, no plano da sua elaboração e negociação, os tratados
se podem incluir entre os resultados dos processos de relacionamento político,
por outro lado, no momento em que entram em vigor, adquirem um estatuto
jurídico, tornando-se normas de direito internacional.
Neste sentido, tal como referido, torna-se admissível reconhecer que estes
instrumentos reflectem um "acordo entre membros da sociedade internacional que tem por objectivo a produção de efeitos de direito" (Cunha, 1987,
100-132) e que, neste caso reflectem a obrigação internacional dos estados, de
contribuírem para o "apaziguamento de tensões internacionais", com base no
mencionado pressuposto comum a todas as ordens jurídicas.
No entanto, esse pressuposto jurídico raramente corresponde a um princípio político orientador e regulador subjacente ao exercício de uma "soberania
de responsabilidade", no sentido de um reconhecimento consensual sobre a
"utilidade social do respeito", cuja eficácia, dependeria sempre, e em última
análise, de que
respeito pelo outro se torn[ass]e num valor transnacional, num momento em que nenhuma instituição tem meios para o impor por coação" (Badie, 1996,302).
"O
Trata-se, neste sentido, de garantir, da parte dos estados, não apenas o
exercício de direitos, mas também o cumprimento dos deveres internacionalmente assumidos, designadamente, nos planos dos direitos humanos, das acções de carácter humanitário, assumindo, concretamente, a "responsabilidade
de proteger"(Santos, 2009, 133).
2.2.3. Governação Global e "Responsabilidade de Proteger"
Em finais da década de 1970, a "Independent Commíssíon on International Development Issues", publicava o Relatório e os resultados dos trabalho
de uma vasta equipa de especialistas dirigida por Willie Brandt. As questões
do seu "diálogo norte-sul", envolvendo problemáticas relacionadas com o
desenvolvimento humano, designadamente, demografia, pobreza e cresci-
78
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
evolutivas que
tados, especifiernacionais reonvenções que
rumentos polílis vasto. Com
:ão, os tratados
nento político,
'm um estatuto
hecer que estes
ide internacio:Cunha, 1987,
dos estados, de
", com base no
le a um princílma "soberania
iensual sobre a
e, e em última
rlUm mo-
por coa-
não apenas o
internacionalmanos, das acsponsabilidade
on Internatios dos trabalho
lt. As questões
onadas com o
breza e cresci-
mento económico, bem como de relações económicas e financeiras e comerciais internacionais, de desarmamento e de segurança colectiva, dos direitos
humanos e do acesso aos bens e recursos comuns globais, contribuem, desde
então para a noção de governação global, cujo conceito seria operacionalizado ao longo da década de 1990. Durante a primeira década do século XXI,
e entre diversas áreas e dimensões articuladas com o conceito, a governação
global adquire expressão no plano da segurança humana, através da chamada
"responsabilidade de proteger", atribuindo direitos e deveres à comunidade
internacional.
"A consagração formal deste processo encontra-se consignada em vários
instrumentos político-jurídicos e de realização operacional prospectiva,
embora sem efeitos vinculativos e com carácter, geralmente, declarativo
e recomendatório" (Santos, 2009, 133-134).
Identificam-se, neste contexto, a "Agenda 21", elaborada no âmbito da
chamada "Cimeira da Terra", realizada no Rio de Janeiro, em 1992, bem
como o relatório "Our Global Neighbourhood', de 1995, produzido pela Comissão das Nações Unidas para a Governação Global, cujo texto operacionaliza descritivamente o conceito, referindo-o como "a totalidade das diversas
formas que os indivíduos e as instituições públicas e privadas encontram para
gerir os seus assuntos comuns"(CGG, 1995,2).
No ano anterior, a Agenda para o Desenvolvimento, de Kofi Annan, identificaria a paz como "a base do desenvolvimento", sugerindo a articulação intrínseca entre a estabilização da conflitualidade e o melhoramento progressivo
das condições de vida das populações. Com efeito,
"a manutenção de paz efectiva exige uma noção alargada de segurança
humana. Não podemos estar seguros no meio da fome, não podemos
construir a paz sem aliviarmos a pobreza, não podemos construir a liberdade sobre fundamentos de injustiça" (Annan, 1997,9).
"Na sequência do "Global Compad', proposto por Kofi Annan, a "Cimeira do Milénio", realizada no ano 2000, estabeleceria os chamados "Millennium Development Goals" (Santos, 2009, 133) ou Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs). Neste contexto, a "Agenda 21" e os ODMs
reconhecem a imperatividade da resolução prioritária do fosso de desenvolvimento que continua a verificar-se entre o "global north" e o "global south",
designadamente, como forma de globalizar a sustentabilidade através da erradicação da pobreza extrema, das condições de acesso a recursos básicos e à
79
;t
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
1
educação elementar generalizada, contribuindo estes objectivos e respectivas
acções de conretização, para a prevenção, atenuação e resolução de conflitos.
A ronda de Doha, da OMC, o Protocolo de Monterrey e a "Cimeira de
Johannesburg", de 2002, confirmariam posteriormente,
"a imperatividade da implementação de estruturas e esquemas de funcionamento para a governação global, perante os factores comuns, convergentes e interactivos das problemáticas da sociedade civil transnacional" (Santos, 2009, 133).
A sequência de documentos que consagram estas noções e conceitos, continuaria até à actualidade, designadamente, com os Relatórios das Nações
Unidas, "A More Secure World: Our Shared Responsability", de Dezembro de
2004, e "ln Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights
for AI!', de Março de 2005, bem como a Declaração adoptada pela Resolução
a A.G. A/60/150, "2005 World Summit Outcome", de 15 de Setembro de
2005, e o Relatório do Alto Comissário das Nações Unidas "Prevention 01
Genocide", de 9 de Março de 2009 que, na sua
"articulação com os conceitos de 'segurança humana' e de 'responsabilidade de proteger', alertam para a urgência de medidas estruturais que
se relacionam intrinsecamente com o conceito de governação globat'
(Santos, 2009, 133).
Também durante a "Cimeira do Milénio" das Nações Unidas, realizada
em Setembro de 2000, o Primeiro Ministro Canadiano, Jean Chrétien anunciou o estabelecimento de uma comissão independente, a "lnternational Commission on lntervention and State Sovereignty", numa iniciativa que pretendia
responder ao apelo do Secretário Geral da ONU, na sequência da inoperância
da Organização relativamente ao genocídio do Rwanda, ocorrido em 1994. O
Relatório da Comissão sobre o "direito de intervenção humanitária", intitulado "The Responibility to Proteel', apresentado em Dezembro de 2001, recomenda aos estados a adopção de um conjunto de princípios que implicam
uma série de acções, especialmente no plano da prevenção contra o genocídio,
os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os saneamentos étnicos.
O empenhamento dos estados relativamente à "responsabilidade de proteger", é acentuada, tal como referido, no Relatório do "High-Level Panei on
Threats, Challenges and Change", "A More Secure World: Our Shared Responsability", de Dezembro de 2004, e no Relatório "ln Larger Freedom: Towards
Development, Security and Human Rights for AI!', de Março de 2005, do Se-
80
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
os e respectivas
io de conflitos.
: a "Cimeira de
as de fimluns, con"ansnacio-
conceitos, conios das Nações
e Dezembro de
i Human Rights
pela Resolução
e Setembro de
"Prevention of
'sponsabiturais que
rio global'
t1idas, realizada
:hrétien anunmational Coml que pretendia
da inoperância
do em 1994. O
tária", inti tulade 2001, recoque implicam
:ra o genocídio,
nentos étnicos.
idade de prote·Level PaneI on
bared Responsaedom: Towards
e 2005, do Se-
cretário Geral da ONU. Será, no entanto, a referida Declaração adoptada pela
Resolução a A.G. N60/150, "2005 World Summit Outcome", de 15 de Setembro de 2005, que consagra definitivamente o compromisso dos chefes de
estado presentes à Cimeira de Alto Nível da ONU, desse ano, perante a "responsabilidade de proteger" assumida pelos estados em relação às suas populações e à salvaguarda do respectivo bem estar e da dignidade dos indivíduos,
podendo considerar-se o princípio, como uma "norma internacional emergente".
Esse direito prospectivo implica a responsabilização da comunidade internacional através do exercício do "direito de ingerência humanitária" e da acção colectiva, cujo carácter de urgência, a torna frequentemente num dever,
no sentido da protecção dos Direitos Humanos, da dignidade dos indivíduos
e da protecção física das populações contra actos de violência, no caso de insucesso das acções unilaterais dos estados responsáveis. Reforçando os princípos desta responsabilização da comunidade internacional, as conclusões do
referido "Relatório Preliminar das Nações Unidas sobre a Prevenção do Genocídio", de Março de 2009, articulam-se de forma intrínseca e indissociável
com os conceitos de "segurança humana" e de "responsabilidade de proteger",
no contexto de uma governação globalizada na qual, as políticas públicas estatais convergem de forma interactiva e sinérgica com as actividades de actores
transnacionais numa manifestação de cidadania participativa globalizante e
de uma sociedade civil global, embrionária.
Todos estes documentos reforçam, por sua vez, a articulação entre paz e
segurança humana, cujos conceitos operacionais evoluem no sentido da inclusão das problemáticas comuns globais que, afectando grandes áreas territoriais, vastos conjuntos ecológicos e massas populacionais crescentes, constituem factores de conflitos múltiplos e interactivos, cujos efeitos e ritmo de
alastramento se tornam dificilmente previsíveis ou controláveis.
Por um lado, esta percepção evidencia as responsabilidades acrescidas e
diferenciadas dos estados, cujas capacidades materiais e competências soberanas não foram concebidas para enfrentar as novas problemáticas, e, por outro
lado, sugere que neste contexto de complexidade crescente, a prevenção se
torna a melhor estratégia para a resolução de conflitos. Isso pressupõe a orientação dos esforços e das acções da comunidade internacional no sentido de
neutralizar as respectivas causas sociais e humanas. Em última análise, essa
evolução dependerá, sempre e essencialmente, das vontades políticas dos estados, mas não apenas das "grande potências" tradicionais que adquiriram o
direito de veto no Conselho de Segurança da ONU.
Neste sentido, identificam-se os efeitos das atitudes e das potencialidades
das novas economias emergentes, que competem activamente por uma maior
81
ELEMENTOS DE ANÁLISE b E POLÍTICA ExTERNA
capacidade de intervenção consequente nos planos de reformulação de uma
arquitectura renovada do enquadramento decisório da cena internacional.
Neste contexto, questiona-se, designadamente, a representatividade da respectiva expressão demográfica e a legitimidade da influência exercida, da relevância ou da exclusividade estatutária que aquelas "grandes potências" tradicionais detêm, nos planos decisórios mundiais.
Assim, num ambiente relacional complexo, evolutivo e em mudança
acelerada, evidencia-se a urgência de reformas profundas na conceptualização da arquitectura orgânica do enquadramento regulatório e sistémico
internacional. Ao mesmo tempo, a inoperância progressiva do actual sistema institucional internacional, em termos de funcionalidade efectiva no
plano das respostas à complexidade interactiva das problemáticas globais,
reflecte a nova dinâmica das sinergias verificadas entre dialécticas relacionais convergentes protagonizadas por actores transnacionais cuja relevância crescente, contrasta com a gradual atenuação das capacidades relativas
dos estados.
Com efeito, para além dos estados emergentes, a competitividade acrescida
de actores transnacionais de uma sociedade civil progressivamente activa e
diversificada em termos de natureza, agenda, capacidades e formas de intervenção e de interacção relacional, constitui também um factor de erosão progressiva relativamente à capacidade dos estados. Estas características dos actores transnacionais, das suas percepções e expectativas, atitudes e
comportamentos adaptados ao contexto globalizante, acentuam não apenas a
multipolarização tendencial e a disseminação espacial dos centros de decisão,
como evidenciam, sobretudo, as capacidades dos novos agentes, em termos de
mobilidade geográfica, diversificação de actividades sectoriais e flexibilidade
adaptativa a um ambiente relacional em processo de mudança transformacional acelerada.
Neste contexto, talvez a exigência tendencialmente imperativa da gestão
integrada das interdependências crescentemente complexificadoras dos relacionamentos, se processe no sentido de um reconhecimento consensual sobre
a referida "utilidade social do respeito" mútuo (Badie, 1996), e que esta se
traduza em termos da viabilidade económica, da sustentabilidade ambiental e
de uma estabilidade social baseada na observância dos Direitos Humanos e da
dignidade dos indivíduos.
Se, por um lado, estes desenvolvimentos não permitem questionar o reconhecimento da relevância dos enquadramentos institucionais evidenciado,
designadamente, nas exigências de acção consagradas na referida Declaração
da Cimeira do Milénio de 2000, ou na Declaração sobre a Responsabilidade
de Proteger, de 2005, verificam-se, por outro lado, os limites da capacidade
82
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
1
ação de uma
tlternacional.
dade da rescida, da rele!ncias" tradim mudança
nceptualizae sistémico
actual siste. efectiva no
icas globais,
:icas relacio:uja relevândes relativas
desses enquadramentos, perante a variável da vontade política dos estados,
evidenciada nos resultados desoladores da avaliação dos progressos dos "Millennium Development Goals" , cinco anos mais tarde (ONU, 2005b, 24 e
segs.), ou nos recentes genocídios de 2011, resultantes da ausência de observância da Declaração sobre a Responsabilidade de Proteger, adoptada por
consenso entre os Chefes de Estado reunidos na histórica sessão da Assembleia Geral da ONU, a 14 de Setembro de 2005.
lde acrescida
~nte activa e
nas de inter~ erosão procas dos actoatitudes e
não apenas a
s de decisão,
m termos de
flexibilidade
msformacio-
va da gestão
ras dos relaensual sobre
! que esta se
ambiental e
umanos eda
onar o reco~videnciado,
Declaração
)nsabilidade
l capacidade
83
:t
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
LEITURAS COMPLEMENTARES
- AGNEW, John, 2009, Globalization and Sovereignty, New
York, N.Y., Rowan and Littlefield.
_ BERRIDGE, Geoff, 2010, Diplomacy: Theory and Practice,
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave Maemillan.
- GRAY, Colin, 2011 War, Peace and lnternational Relations:
a Concise lntroduction, London, u.K., Routledge.
- EVANS, Gareth, 2008, Responsibility to Protect. Ending Mass
Atrocity Crimes Once and For Ali, Washington, D.C,
Brookings Institution Press.
- JACKSON, Robert, 2007, Sovereignty: The Evolution of an
Idea, Cambridge, U.K., Polity.
- ONU, 2005a, 2005 World Summit Outcome, Follow-up to
the outcome of the Millennium Summit, UNGA,60 th • Session doe. N60/150, n.O 05-51130 (E) 230905, United
Nations, 20 th • September, 2005.
___ , 2005b, ln Larger Freedom: Towards Development,
Security and Human Rights for All, Report of the SecretaryGeneral, UNGA 55 th • Session, doe. N59/2005 n.O 0527078 (E) 210305, United Nations, 21 st • Mareh, 2005.
___ , 2005e, Organização das Nações Unidas, 2004, New
York, N.Y., U.N.
___ , 2005d, "NGOs and the United Nations Department
of Public lnformation: Some Questions and Answers", Ncw
York, N.Y., United Nations Department of Publie Infor-
84
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS ESTADOS
J
mation, 2005, in http://www.un.org/dpi/ngoseetion/broehure.htm, eosultado em 12 de Agosto de 2010.
___ , 2004, A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report of the High-Level Panei on Threats, Challenges
and Change, New York, N.Y., United Nations Department of Public Information.
___ , 2000a, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Res. A.G. 55125, 15 de Novembro
de 2000.
'ry and Practice,
:., Palgrave Ma-
___ , 2000b, Report ofthe Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized
Crime on the work of its jirst to eleventh session, Uni ted N ations, 2 de Setembro de 2000. UNGA, 55th. Session doe.
N55/383, Annex I, n.O V.00-58693 (E) 071 100081100.
tional Relations:
dedge.
- ORFORD, Anne, 2011, InternationalAuthority and the Responsibility to Protect, Cambridge, U.K., Cambridge University Press.
overeignty, N ew
'ct. Ending Mass
hington, D.e.,
Evolution of an
- TAYLOR, Paul, CURTIS, Devon, 2005, "The United Nations" , in BAYLIS, John, SMITH, Steve, eds., 2005, The
Globalization ofWorld Politics. An Introduction to International Relations, 3 rd • ed., Oxford, U.K., Oxford University
Press, pp. 405-424.
u, Follow-up to
NGA,60 th • Ses30905, United
is Development,
of the Secretary)12005 n.O 05v1areh,2005.
das, 2004, N ew
'ons Department
Answers", N cw
)f Public Infor-
85
ELEMENTOS DE ANÃi.ISE DE POLÍTICA ExrERNA
WEBOGRAFIA
www.foreignpolicy.com
www.foreignaffairs.com
www.progressivegeographies.com
86
FORMAS DE INTERACÇÃO INTERNACIONAL DOS EsTADOS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ANNAN, Kofi, 1997, "Address to the WorldEconomic Forum", Davos. Switzerland, 1sr. February, 1997 (SG/SM/6153), in The Quotable Kofi Annan.
Selections from Speeches and Statements by the Secretary-General, N ew York,
N.Y., United Nations Department ofPublic Information, 1998.
- ARENAL, Celestino del, 1983, "Poder y Relaciones Internacionales. Un Analisis Conceptual', in Revista de Estudios Internacionales, voI. 4, n. °3, Madrid, Universidad Complutense, Julho-Setembro de 1983, pp. 501-524.
- BADIE, Bertrand, 1996, O Fim dos Territórios. Ensaio sobre a Desordem Internacional e sobre a Utilidade Social do Respeito, Lisboa, Instituto Piaget.
- BARSTON, R.P., 1988, Modern Diplomacy, London, U.K., Longman.
- BAYLIS, John, SMITH, Steve, eds., 2005, The Globalization ofWorld Politics. An Introduction to International Relations, 3 rd • ed., Oxford, U.K.,
Oxford Universicy Press.
- BROWNLIE, lan, 1997, Princípios de Direito Internacional Público, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian.
- COO PER, Robert, 2004, The Breaking of Nations. Order and Chas in the
Twenty First Century, London, u.K., Adantic Books.
- CUNHA, Joaquim da Silva, 1990, Direito Internacional Público, Lisboa,
ISCSP-UTL.
___ , 1987, Direito Internacional Público. I-Introdução e Fontes, 4.° ed.,
Coimbra, Almedina.
- DINH, Nguyen Quoc, DAILLIER, Patrick, PELLET, Alain, 1999, Direito
Internacional Público, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
- ESCARAMEIA, Paula, 2003, Colectânea de Leis de Direito Internacional, 3. a
ed., Lisboa, ISCSP-UTL.
- GRIFFITHS, Martin, O'CALLAGHAN, Terry, 2002, International Relations. The Key Concepts, London, U.K., Roudedge.
87
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
- MAGALHÃES, José Calvet de, 1982, A Diplomacia Pura, Lisboa, Associação Portuguesa para o Estudo das Relações Internacionais.
- MOREIRA, Adriano, 2002, Teoria das Relações Internacionais, 4. a ed.,
Coimbra, Almedina,
- PEREIRA, André Gonçalves, QUADROS, Fausto de, 1993, Manual de
Direito Internaicional Público, 3. a ed., Coimbra, Almedina.
- ROUSSEAU, Charles, 1970-1979, Droit International Public, 4 vols., Paris,
Sirey.
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
-TAYLOR, Paul, CURTIS, Devon, 2005, "The UnitedNations", in BAYLIS,
John, SMITH, Steve, eds., 2005, The Globalization ofWorld Politics. An
Introduction to International Relations, 3 rd • ed., Oxford, U.K., Oxford University Press, pp. 405-424.
88
Lisboa, Associa~ionais,
4. a ed.,
193, Manual de
ic, 4 vols., Paris,
. Internacionais.
;CSP-UTL.
ns", in BAYLIS,
7rld Politics. An
~., Oxford Uni-
;t
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
;j
Objectivos do Capítulo
- Descrever as origens e a evolução das organizações internacionais, enquanto actores interestatais e intergovernamentais.
- Definir as características próprias das organizações, a natureza e as formas e modalidades do seu relacionamento
com os estados.
- Caracterizar as competências internacionais das organizações com personalidade jurídica internacional e as suas
formas de interacção no ambiente relacional.
Síntese dos temas abordados:
- As origens, a evolução, as classificações, as tipologias, as
estruturas orgânicas e o funcionamento das organizações
internacionais.
- As instituições internacionais enquanto manifestação do
exercício das competências da soberania externa dos estados e consequências materiais e formais da relação genética.
- As modalidades de acção das organizações internacionais
na sua interacção com os outros actores, e os respectivos
efeitos sobre o ambiente relacional e a política internacional.
As
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
j
"lhe United Nations once dealt with governments.
By now, we know that peace and prosperity
cannot be achieved without partnerships involving
governments, internationalorganizatiom,
the business community and civil society. "
Kofi Annan .
Davos, 1999.
.nizações inter! intergovernanizações, a naelacionarnento
s das organizaional e as suas
al.
CAPÍTULO
As
III
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
3.1. - Origens e Evolução
tipologias, as
lS organizações
5
lanifestaçáo do
terna dos estarelaçáo genétiinternacionais
os respectivos
·ica internacio-
As organizações internacionais constituem uma das principais manifestações do exercício das competências da soberania externa. Com efeito, a sua
existência representa uma das formas mais relevantes da interacção internacional dos estados. Através da criação de organizações intergovernamentais e
de uma participação interventiva e consequente, os estados institucionalizam
os enquadramentos relacionais que lhes permitem implementar as respectivas
políticas externas. A origem das organizações internacionais é, no entanto,
anterior à formação do estado soberano.
Com efeito, as primeiras manifestações de relacionamentos institucionalizados entre unidades políticamente organizadas, podem identificar-se
a partir das anfictionias gregas, associações de carácter religioso polarizadas em torno de um local, de um templo ou de um culto comum que, de
uma forma geral, evoluíam para ligas e confederações entre as cidades gregas. Destacaram-se, entre outras, a Confederação das Doze Cidades, originária da anfictionia do santuário jónico de Poseidon, em Micala; a Liga
Marítima Ateniense, formada em torno do santuário de Apolo, em Delfos, a Liga do Peloponeso, sob a hegemonia de Esparta, a Liga Pan-Helénica de Corinto e a Liga Acaica, surgida em torno do santuário de Amárion, perto de Égion.
91
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLíTICA ExTERNA
Durante a Idade Média, o sistema feudal, ou o Sacro Império Romano
Germânico sugeriam já questões e problemáticas relacionadas com a organização federalista, e a Igreja desempenhou, até ao século XVII, uma função
determinante na coordenação dos relacionamentos "internacionais", a qual se
prolongaria. Para além dos contextos político-diplomático e estratégico-militar, também nos planos sectoriais profissional, comercial e financeiro, social e
religioso, entre ourros, se desenvolveram organizações, confrarias, associações,
comandas, guildas, hansas, ligas, entre as quais, ficaria célebre a Liga Hanseática.
A evolução do conceito de estado moderno verificada desde o século XV,
e o desenvolvimento do direito internacional registado a partir do século seguinte, designadamente, com os jurístas espanhóis Vitória e Suarez, e mais
tarde com Grotius, Gentili e Zouch, situam-se na génese do processo de sistematização codificada das normas de relacionamento internacional entendido, de facto, como relacionamento interestatal ou intergovernamental, na
medida em que os estados podiam ser considerados, então, como os únicos
actores das relações internacionais.
Neste contexto, os Tratados de Westphalia, de 1648, representam o embrião de um futuro processo evolutivo no sentido de um novo tipo de sistematização dos relacionamentos, consagrando a fórmula do congresso como o
modo de tratar das questões políticas multilaterais. Referindo-se às dinâmicas
desenvolvidas, às potencialidades de evolução sistémica e às capacidades prospectivas de alteração de mentalidades, que adquirem expressão e significado
através os Tratados de Westphalia, Jorge Borges de Macedo considera que "o
congresso de estados, com diferentes exigências, forças e posições, era alguma
coisa de novo que se não via desde os grandes concílios do século XV, onde
estiveram presentes todas as potências da Europa. Depois do tratado de Westphalia veio a ser esta a forma pública de tratar dos problemas internacionais,
sendo os trabalhos preparatórios preenchidos por conversações bilaterais"
(Macedo, 1987, 178).
O sistema de congressos, significava a consciencialização generalizada entre as grandes potências, da inviabilidade das hegemonias e da inevitabilidade
da partilha do poder, da necessidade de resolução concertada das problemáticas e das soluções negociadas, constituindo um sinal precursor de outras interdependências futuras. O direito internacional consolidava-se, entretanto,
sistematizando e codificando a doutrina baseada no costume, nos tratados, no
precedente e na jurisprudência, ao mesmo tempo que se definiam e limitavam
os seus enquadramentos de aplicação às questões estritamente internacionais.
No início do século XIX, o chamado "concerto da Europa", saído do Congresso de Viena, de 1815, apresentava-se como a evolução necessária perante
92
as
Cla
Ur
sol
o c
prc
COI
tar
do,
gra
asl
me
ter.
ces
oq
tar
cal
sár
taç
da
do
de]
pe]
nu
res
çã<
COI
nal
m~
rêr
ley
on
do
ec
for
oq
As
Império Romano
ldas com a organiKVII, uma função
acionais", a qual se
e estratégico-milifinanceiro, social e
Frarias, associações,
bre a Liga Hanseálesde o século XV,
>artir do século sea e Suarez, e mais
:lo processo de sismacional entendi;overnamental, na
0, como os únicos
'epresentam o emnovo tipo de siste) congresso como o
do-se às dinâmicas
; capacidades prosessão e significado
) considera que "o
sições, era alguma
>século XV, onde
lo tratado de Wes(las internacionais,
rsações bilaterais"
o generalizada enda inevitabilidade
ia das problemátiusor de outras inlva-se, entretanto,
e, nos tratados, no
iniam e limitavam
lte internacionais.
>a", saído do Connecessária perante
O RGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
as dificuldades decorrentes do sistema de congressos, que pressupunha, inicialmente, a reunião regular e frequente dos dirigentes das grandes potências.
Um sistema de congressos, agora "limitado" e "atenuado", procurando apenas
soluções para os problemas à medida que eles surgiam, abandonando, assim,
o carácter preventivo que originalmente se perspectivara, de antecipação das
problemáticas no sentido de as evitar, passava a coexistir com o sistema de
conferências, característico do "concerto da Europa".
O sistema de conferências, mais funcional e flexível, envolvendo representantes ou agentes diplomáticos dos estados, e não necessariamente ministros
dos governos ou mesmo os próprios monarcas, não satisfazia inteiramente as
grandes potências que evitavam, no entanto, envolver-se em congressos onde
as grandes problemáticas políticas da partilha do poder e da influência, e mesmo as questões internas dos estados seriam inevitavelmente discutidas. O sistema de conferências diplomáticas encontra-se, assim, na génese de um processo evolutivo, gradual, no sentido da institucionalização permanente das
organizações internacionais.
A necessidade consensualizada da solução de problemáticas comuns, resultando na evidente conveniência da colaboração e da coordenação de acções de
carácter muito específico, geralmente técnico e funcional, bem como a necessária periodicidade das reuniões para a avaliação dos efeitos da sua implementação, eventual alteração e respectivo aperfeiçoamento, estiveram na origem
da criação de secretariados encarregados do acompanhamento da aplicação e
do desenvolvimento dessas acções. Ao mesmo tempo, a colaboração e a coordenação das acções encontram-se na génese do estabelecimento de ligações
permanentes entre os estados envolvidos sectorialmente, assegurando a continuidade dos trabalhos desenvolvidos entre as sessões das conferências.
Neste contexto, as conferências, geralmente reunidas com o objectivo da
resolução de problemáticas internacionais e que se concluíam com a celebração de tratados, passam a delegar competências nas entidades executivas que
constituem formas embrionárias de institucionalização organizacional internacional permanente. Estas características essenciais do "concerto da Europa"
mantiveram-se ao longo do século XIX e das mais de duas dezenas de conferências que se realizaram nesse período, para além de alguns congressos (Hinsley, 1963,206-217).
O carácter tendencialmente permanente das conferências, encontra-se na
origem das organizações internacionais perspectivadas como "poder distinto
do estado", que surgem como um "prolongamentc" evolutivo dos congressos
e das conferências internacionais sem, no entanto, se substituírem a outras
formas de relacionamento eventual ou institucionalizado, entre os estados. As
organizações internacionais passam a existir em paralelo com essa "instituição
93
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
clássica do direito internacional" (Reuter, s.d., 218), que são as conferências
periódicas, estabelecendo com os estados interacções complexas, evidenciando que, ainda hoje,
"o problema da relação entre o Estado e a organização internacional é,
inevitavelmente, um problema não resolvido" (Ribeiro e Ferro, 2004,
17).
Em 1840, a propósito da formação de uma aliança das grandes potências
contra a França, Metternich sugeria que, na sequência desse processo, poderia
desenvolver-se
"uma organização para manter a paz futura da Europa, pela renuncia à
força e pelo estabelecimento de um sistema de Conferência permanente" (Hinsley, 1963,215 e n.s).
No entanto, ainda no final do século XIXI, a Conferência da Haia, de
1899, saldava-se apenas pela
"vaga promessa de periodicidade (... ) e no plano regional não se ultrapassou a modesta 'agência' ou 'comissão' C.. ). Foram as organizações
especializadas, com finalidade técnica que apareceram primeiro" (Reuter, s.d., 219).
Com efeito, a
"necessidade de assegurar a gestão conjunta de certos interesses comuns
criou as condições para a constituição das primeiras formas de organização internacional. O carácter marcadamente instrumental dessas
primeiras formas de organização, voltadas sempre para a prossecução
de objectivos muito específicos, justifica a designação que lhes foi dada
de uniões administrativas" (Ribeiro e Ferro, 2004, 23).
Na história recente da Europa, a constituição da primeira organização
internacional, a chamada Comissão Central para a Navegação do Reno, ou
Comissão Fluvial do Reno, prevista na Acta Final do Congresso de Viena,
de 1815, viria a ser criada pela Convenção de Mogúncia (Mainz), de 183l.
A partir de então, a proliferação das organizações internacionais constitui
um dos fenómenos mais marcantes do processo evolutivo das relações internacionais ao longo dos últimos dois séculos. O seu desenvolvimento parece
94
As ORGANIZAÇÕES
io as conferências
lexas, evidencian-
ernacional é,
Ferro, 2004,
~randes potências
INTERNACIONAIS
"responder a duas necessidades distintas: a uma aspiração geral à Paz e ao
progresso das relações pacíficas e, por outro lado, a uma série de necessidades precisas e limitadas, relativas a assuntos particulares" (Reuter, s.d., 217).
Neste sentido, o fenómeno evidencia, por um lado, o reconhecimento das
interdependências crescentes entre os estados, bem como das exigências e inevitabilidades de gestão comum que lhes são inerentes. Por outro lado, as cerca
de 250 organizações internacionais intergovernamentais actualmente existentes (Willetts, 2005, 427; 2001, 357), conferem expressão a um novo sistema
de relacionamento internacional complementar da
processo, poderia
a renuncia à
permanen-
1
ncia da Haia, de
lão se ultra>rganizações
leiro" (Reu-
sses comuns
las de orgaental dessas
prossecução
hes foi dada
eira organização
ção do Reno, ou
gresso de Viena,
l1ainz), de 1831.
:::ionais constitui
as relações inter,lvimento parece
"rede tradicional de relações diplomáticas, [constituindo] um novo circuito de comunicação que oferece aos Estados um quadro permanente
para o tratamento colectivo dos problemas que os ocupam" (Mede,
1982,335; ver, tb., Willetts, 2005, 439-441),
consagrando-se a par do sistema de relações diplomáticas bilaterais permanentes, e do sistema de relações multilaterais eventuais, concretizado através de
conferências diplomáticas periódicas.
3.2. - Definição e Características
Em sentido lato, a expressão organização internacional designa uma entidade dotada de características próprias, polarizadas em torno dos elementos que,
na sua designação, adquirem relevância, ou seja, o elemento organização, referente à instituição específica, e o elemento internacional, que define a sua esfera de actuação. Peter Willetts considera como organização internacional
"qualquer instituição com procedimentos formais e membros formais, de três
ou mais países" (Willetts, 2005, 440).
Philippe Braillard desenvolve as teorias da organização internacional que
considera como um sistema institucionalizado de cooperação desenvolvendo as
interdependências entre os actores e facilitando o aparecimento de condições
favoráveis a uma certa integração (Arenal, 1990, 271). Numa primeira parte,
aquele autor aborda o estudo das organizações internacionais no plano teórico e
prático do seu funcionamento interno, dos seus membros, do sistema de decisão multilateral, etc. Na segunda parte do seu estudo, Braillard analisa
"o papel das organizações internacionais no sistema internacional, (... )
a sua contribuição para a integração regional ou mundial, a sua eficácia
na preservação da paz e na resolução pacífica de conflitos" (Arenal,
1990,272).
95
ELEMENTOS DE ANÁLISE ~E POLÍTICA ExTERNA
Verifica-se, com frequência, a utilização indiscriminada dos termos organização e instituição. No entanto, a organização, mesmo quando formalizada,
pode não adquirir forma institucional. Adriano Moreira considera que
"a instituição aparece como uma ideia de obra ou de empresa que se
realiza num meio social" (Moreira, 1985).
Numa perspectiva institucionalista, os homens e as ideias constituem "os
dois fenómenos sociais mais importantes". Os primeiros "representam o transitório, enquanto as ideias representam o permanente". De facto, as ideias
"sobrevivem aos seus autores, transmitem-se de geração em geração, objectivam-se e agregam meios humanos e materiais que sustentam a sua implantação e desenvolvimento" (Moreira, 1985). As instituições materializam e viabilizam o processo sustentador da permanência das ideias, concretizando o
objectivo da respectiva transmissão através das gerações, perante o carácter
transitório da condição humana.
Neste sentido, James G. March e Johan P. Olsen definem instituição, como
"um conjunto relativamente estável de regras e de práticas organizadas, integradas em estruturas de significado e de recursos, que são
relativamente invariantes perante as mudanças de indivíduos e relativamente resistentes às suas preferências ideossincráticas e expectativas, bem como às mudanças das circunstâncias externas" (March e
Olsen 2005, 4).
Uma instituição implica, assim, um conjunto de elementos estruturados
por regras próprias, segundo um sistema de normas socialmente aceites e sancionadas, que visa a continuidade (1hines e Lempereur, 1984, 506), ou seja,
a preservação de princípios, valores e objectivos, de ideias e de práticas que
estiveram subjacentes à constituição formal e à organização da entidade instituída, e que os seus fundadores pretendem fazer prevalecer no tempo para
além da sua existência.
Neste contexto, as instituições adquirem expressão a partir do desenvolvimento de "formas colectivas ou estruturas básicas de organização social estabelecidas pela lei ou pela tradição humana" e, neste sentido, as organizações
internacionais representam uma forma específica de instituição, na medida
em que se referem
96
As ORGANIZAÇÕES
)s termos organiIdo formalizada,
sidera que
resa que se
; constituem "os
resentam o tran~ facto, as ideias
geração, objectia sua implantaterializam e viaconcretizando o
rante o carácter
nstituição, como
:as organi)s, que são
uos e relae expecta, (March e
tos estruturados
lte aceites e saní, 506), ou seja,
de práticas que
1 entidade instino tempo para
. do desenvolvilção social estaas organizações
ção, na medida
INTERNACIONAIS
"a um sistema formal de regras e objectivos, a um instrumento administrativo racionalizado e que tem 'uma organização formal, técnica e
material' ... " (Archer, 1992,2 e n.s)2.
Numa abordagem sociológica, Amitai Etzioni define as organizações como
"unidades sociais (ou agrupamentos humanos) deliberadamente elaboradas pela
procura de fins específicos", caracterizando-se entre outros aspectos, pela "divisão do trabalho, do poder e das responsabilidades" (Thines e Lempereur, 1984,
670). Neste contexto, a expressão organização internacional pode referir-se a um
processo organizacional da sociedade ou do sistema internacional. Porém, a utilização plural da mesma expressão, organizações internacionais, refere-se a aspectos
representativos formais e, eventualmente, institucionais desse processo, numa
fase espácio-temporal determinada (Archer, 1992,2 e n.s).
O significado do termo internacional, utilizado como qualificativo na expressão relações internacionais, reveste-se de uma complexidade própria (Santos,
2007,69-77). No contexto da expressão organização internacional, utilizada no
sentido da identificação elementar e descritiva de uma organização, o elemento
internacional, pode referir-se tanto às relações intergovernamentais ou interestatais, como às relações transnacionais, que se desenvolvem entre organizações
não-governamentais, multinacionais, etc., e ainda às relações transgovernamentais que se processam entre entidades governamentais, sub-estatais diversificadas, de estados diferentes, e que se desenvolvem em paralelo com os circuitos
normais da diplomacia e da política externa dos estados (Archer, 1992, 1).
No plano da teoria das RI, um dos aspectos mais relevantes do estudo das
organizações internacionais adquire expressão através da superação tendencial
"da perspectiva puramente institucional e jurídica", no sentido da análise crítica "sobre a sua estrutura de poder, sobre as verdadeiras funções que as determinam, e no próprio processo decisório" (Arenal, 1990,272). Neste contexto, a expressão organização internacional é geralmente utilizada em RI no seu
sentido estrito, referindo-se apenas às organizações totalmente ou, pelo menos, predominantemente interestatais ou intergovernamentais (OIGs).
Será nesta perspectiva operacional que a presente abordagem considera as
organizações internacionais como organizações interestatais ou intergovernamentais, em contraste com as organizações internacionais transnacionais e
com outras formas de organização das entidades e agentes que poderemos
considerar como actores e sub-actores das relações internacionais, designadamente os movimentos transnacionais, as empresas multinacionais, as forças
2 O autor utiliza, também, o termo" imtitutions", para referir os órgãos próprios das organizações. Ver,
Archer, 1992,37.
97
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
de pressão organizadas, etc. As organizações internacionais são assim perspectivadas como entidades institucionais, sujeitos de direito internacional, cuja
finalidade é a gestão dos interesses comuns dos estados que as integram, bem
como a resolução dos diferendos e conflitos que os opõem, por meios consensualmente estabelecidos e fixados, no plano jurídico, no quadro de um documento constitutivo e estaturário unanimemente aprovado e explicitamente
ratificado pelos respectivos estados membros.
Neste contexto, a organização internacional pode ser considerada como uma
"associação de Estados, constituída por tratado, dotada de uma constituição e órgãos comuns, e possuindo uma personalidade jurídica
distinta da dos Estados membros" (Gerald Fitzmaurice, apud Dinh,
Daillier e Pellet, 1999, 523).
Tal como referem os autores citados, esta definição, apesar de poder ser
considerada demasiado "dourrinal" e de, na prática, afastar da categoria definida, as organizações que não correspondam ao conjunto dos critérios enumerados, "é a única satisfatória de um ponto de vista teórico", tendo a vantagem de reunir num máximo denominador comum, os elementos matriciais
das organizações internacionais, acentuando dois dos seus pressupostos hmdamentais, designadamente, os princípios convencional e institucional.
N uma abordagem mais descritiva e funcional, Michel Virally define organização internacional como
"uma associação de Estados, estabelecida por acordo entre os seus membros e dotada de um aparelho permanente de órgãos que asseguram a
sua cooperação no prosseguimento dos objectivos de interesse comum
que os determinaram a associar-se" (Virally, 1972,26).
N uma perspectiva eminentemente jurídica, Angelo Sereni define, por sua
vez, organização internacional, como uma
"associação voluntária de sujeitos do Direito Internacional, constituída
mediante tratado internacional e regulamentada nas relações entre as
partes por normas de Direito Internacional, e que se concretiza numa
entidade de carácter estável, dotada de um ordenamento jurídico interno próprio, e de órgãos próprios, através dos quais prossegue fins
comuns aos membros da Organização, mediante a realização de certas
funções e o exercício dos poderes necessários que lhe tenham sido conferidos" (Sereni, apudPereira e Quadros, 1993,412 e n.l).
98
As
assim perspectinternacional, cuja
as integram, bem
por meios consenadro de um docuI e explicitamente
LO
ORGAN!ZAÇÓES INTERNACIONAIS
N uma abordagem internacionalista, Clive Archer define o conceito de organização internacional como
"uma estrutura formal, continuada, estabelecida por acordo entre
membros (governamentais ou não governamentais) de dois ou mais
estados soberanos com o fim de perseguirem o interesse comum do
conjunto dos membros (Archer, 1992,37).
derada como uma
le uma cons[ade jurídica
apud Dinh,
lesar de poder ser
da categoria defidos critérios enu)", tendo a van tamentos matriciais
pressupostos funlstitucional.
irally define orga-
seus memasseguram a
esse comum
IS
Entre as características gerais e comuns das organizações internacionais,
salientam-se vários aspectos. Em primeiro lugar, o facto ' de essas organizações serem criadas a partir de uma manifestação da vontade dos estados que
as integram. Em segundo lugar, de essa manifestação de vontade se verificar
através da consagração expressa por um acto jurídico constitutivo, num documento fundador, geralmente um tratado ou uma "carta", sendo que o
poder de decisão sc>mantém com os representantes delegados desses estados.
Em terceiro lugar, regista-se o facto de a organização assim constituída, possuir uma sede com localização própria. Finalmente, acentua-se o facto de o
documento constitutivo da organização ser um instrumento de direito internacional, pelo qual a organização adquire personalidade jurídica internacional. Esta realidade permite considerar que as organizações intergovernamentais não são mais do que
"a projecção no plano institucional desta forma muito curiosa de sociedade que é constitui da pela justaposição dos Estados teoricamente
soberanos e iguais em direito, mas que são, na realidade de dimensão e
de potência muito desiguais. De facto, a existência das organizações intergovernamentais tende a consolidar a ordem estabelecida pela colectividade dos próprios Estados, sem consideração das relações de força
efectivas" (Mede, 1982,337).
ni define, por sua
, constituída
:ões entre as
retiza numa
jurídico inossegue fins
'ão de certas
m sido con-
No entanto, alguns autores reconhecem que, com raríssimas excepções, os
estados não delegam as suas competências soberanas de decidir e agir, nos órgãos próprios das organizações, os quais se limitam a debater e a assegurar a
sua permanência efectiva através dos secretariados que garantem a continuidade dos trabalhos entre as sessões plenárias dos seus órgãos directivos. Neste
contexto, Marcel Mede interroga-se sobre a pertinência da atribuição do estatuto de "actor autónomo" das relações internacionais às organizações intergovernamentais, na medida em que estas "são (... ) dominadas pelos Estados que
as fundaram e que são os seus membros exclusivos" (Mede, 1982,337; ver, e
tb., idem, 344-357; ver, tb., ponto 2.4, supra).
99
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Neste sentido, poderemos considerar que
"embora na Organização Internacional haja indiscutivelmente um
fenómeno sociológico de poder, ela não possui poder político em sentido próprio, excepto sobre os Estados membros, e sempre nos limites
da Carta de constituição: a Organização não exerce qualquer poder
sobre os sujeitos internos do Estado, ou seja, não tem imediatividade,
salvo nas Organizações supranacionais" (Pereira e Quadros, 1993,
416).
o estatuto de "actor autónomo" depende, pois, do reconhecimento de um
desempenho específico das organizações internacionais, independente dos
seus membros. Numa perspectiva sistémica, isso significa que, enquanto actores, as organizações internacionais deverão
"converter as exigências e os apoios de que são objecto, em decisões que
constituam a resposta de um sistema ao ambiente [e] influenciar através dessas decisões (mecanismo de feed-back), o ambiente em questão"
(Mede, 1982,346).
Neste contexto, em termos de capacidade de decisão, Merle conclui que a
maior parte das organizações não vinculam os estados membros. Reconhece,
no entanto, que, em termos de capacidade de exercício de influência, as acções
e funções destas organizações contribuem de forma evidente e acentuada para
a alteração do ambiente de relacionamento internacional, apesar da ausência
da autonomia de acção necessária para o desempenho efectivo das suas funções.
Outros autores, como Michel Virally, consideram que o método jutídico
de análise é insuficiente, na medida em que aborda apenas uma parte do fenómeno sem explicar os mecanismos, as motivações e as forças políticas, ideológicas e sociais que se desencadeiam no contexto do funcionamento organizacional. Neste sentido, aquele autor considera que a Ciência Política e a
História deverão associar-se ao Direito, prevalecendo sobre o conjunto interdisciplinar subjacente à metodolgia analítica.
Virally conclui que uma organização internacional constitui, numa perspectiva interna, uma "estrutura social" e, ao mesmo tempo, numa perspectiva
externa, pode ser considerada como um "actor autónomo". No primeiro caso,
a organização "delimita e regulamenta o jogo de forças, ao qual a sua configuração imprime uma característica determinada, mas em relação ao qual ela se
mantém relativamente passiva" (Virally, 1972, 30). No segundo caso, "pelo
100
AI>
mente um
co em sennos limites
luer poder
fiatividade,
ros, 1993,
ecimento de um
dependente dos
, enquanto acto-
ecisões que
:nciar atraTI questão"
-le conclui que a
Iros. Reconhece,
uência, as acções
! acentuada para
esar da ausência
vo das suas funmétodo jurídico
La parte do fenó)olíticas, ideolómento organizacia Política e a
conjunto interltui, numa persuma perspectiva
o primeiro caso,
al a sua configuão ao qual ela se
mdo caso, "pelo
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
contrario, ela própria comporta-se como uma força, pesando sobre o jogo
social e procurando orientá-lo para a realização dos seus objectivos próprios"
(Virally, 1972,30).
Entre as características específicas das organizações internacionais, destacase, em primeiro lugar, a personalidade jurídica. Enquanto pessoa colectiva reconhecida pelo direito internacional, a organização internacional
"é uma entidade com capacidade para possuir direitos e deveres internacionais e com capacidade para defender os seus direitos através de
reclamações internacionais (... ). A questão da personalidade jurídica
internacional foi suscitada sobretudo nos seguintes contextos: capacidade de apresentar reclamações sobre violações do Direito Internacional, capacidade para celebrar tratados e acordos válidos no plano internacional, e gozo de privilégios e imunidades concedidos por jurisdições
nacionais" (Brownlie, 1997, 71; ver, tb., idem, 708-717; Machado,
1995,86 e segs.).
A personalidade jurídica internacional de uma organização internacional é
um elemento da sua própria definição, decorre do acto fundador e da sua
própria existência, sendo
"frequentemente reconhecida de maneira expressa nos tratados constitutivos das organizações ou em instrumentos colaterais" (Dinh, Daillier
e Pellet, 1999,534).
Por outro lado, sendo a personalidade jurídica o elemento que, no âmbito
do direito internacional, define o enquadramento jurídico dos relacionamentos das organizações com outros actores com personalidade jurídica, designadamente, os estados, é também o elemento que confere à organização a capacidade de acção e intervenção no plano internacional. Essa capacidade, não
implica uma equivalência jurídica nem elementar entre estado e organização.
Com efeito,
"[n]em sequer implica que todos os seus direitos e deveres devam existir
no plano internacional, da mesma forma que nem todos os direitos e
deveres de um Estado devem existir nesse mesmo plano. O que, de
facto, significa é que se trata de um sujeito do Direito Internacional,
susceptível de possuir direitos e deveres internacionais, e que tem a
capacidade de defender os seus direitos através da apresentação de reclamações internacionais" (Brownlie, 1997, 709).
101
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Ian Brownlie resume, da seguinte forma, os "critérios de aferição da personalidade jurídica" de uma organização internacional:
"1. uma associação permanente de estados, que prossegue fins lícitos,
dotada de órgãos próprios; 2. uma distinção, em termos de poderes
e fins jurídicos, entre a organização e os seus estados membros; 3. a
existência de poderes jurídicos que possam ser exercidos no plano internacional, e não unicamente no âmbito dos sistemas nacionais de um
ou mais Estados" (Brownlie, 1997,709-710 e n.).
A personalidade jurídica das organizações internacionais difere, pois, da
personalidade jurídica plena, atribuída aos estados. Trata-se de uma personalidade jurídica de naturezafoncional, traduzida num conjunto de capacidades
jurídicas inerentes às funções juridicamente consagradas no seu tratado constitutivo. Neste contexto, a sua capacidade de acção enquanto actores das relações internacionais e sujeitos de direito internacional, decorre e está limitada
pelo carácter restrito dessa personalidade jurídica, resumindo-se ao exercício
das competências necessárias à realização das finalidades e objectivos específicos acordados no tratado constitutivo.
Neste contexto,
"a funcionalidade das organizações deriva da vontade dos Estados,
adquirindo expressão concreta através dos objectivos atribuídos à organização: o princípio da especialidade é o critério da funcionalidade
reconhecida a uma organização. Dele podem deduzir-se os limites da
personalidade das organizações internacionais, variáveis de uma organização para outra. A personalidade in concreto corresponde ao exercício de todas as competências - inclusive as implícitas - necessárias à
realização dos objectivos implicados pela especialidade da organização,
e somente destas competências" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 535).
Ou seja,
"[a] personalidade jurídica interna (que se manifesta em face dos seus
membros) é sempre amplamente reconhecida à 01. A personalidade jurídica internacional só existe na medida em que a 01 dela carece no quadro
das relações externas que o pacto constitutivo lhe permite criar e manter.
Esta personalidade apresenta-se, pois, não como uma qualidade inerente
à existência da 01 mas antes como um atributo instrumental cuja amplitude pode variar de caso para caso" (Campos et alL, 1999,42).
102
As ORGANIZAÇÕES
ferição da perso-
fins lícitos,
de poderes
nbros; 3. a
) plano innais de um
INTERNACIONAIS
A vontade própria e a permanência constituem as cacterísti5=as intrínsecas e
específicas do elemento organização, anteriormente referido. E através da vontade própria que a organização pode manifestar uma vontade distinta da dos
estados membros. Neste contexto, a segunda característica das organizações
internacionais, que no plano jurídico "é indissociável da personalidade jurídica
própria", é a vontade colectiva própria, que lhe é juridicamente imputável e
distinta da vontade individual dos seus estados membros, sendo inerente à
referida definição restritiva de competências, baseada no critério funcional do
princípio da especialidade.
difere, pois, da
le uma persona, de capacidades
!u tratado consactores das rela! e está limitada
-se ao exercício
ectivos específi-
; Estados,
ídos à oronalidade
limites da
lma orgaao exercÍ:essárias à
.anização,
~, 535).
"No plano jurídico, a vontade própria encontra-se expressa na noção de
personalidade jurídica e não dá uma importância essencial nem ao objecto dessa vontade nem às suas condições de formação. Deste modo,
uma organização pode ter uma vontade própria pelo facto de poder
atender à sua administração interna por meio de decisões unânimes"
(Reuter, s.d., 225).
Se a diferenciação entre as vontades dos estados membros e da Organização é por vezes difícil de estabelecer no plano político, no plano jurídico
"não há dúvida que a vontade expressa por ela pertence à Organização,
à qual são imputados os actos praticados pelos seus órgãos em conformidade com o tratado institutivo e desde que respeitem o princípio da
especialidade" (Pereira e Quadros, 1993,414).
Se a organização puder deliberar, estatutariamente, por maioria simples,
essa diferenciação será mais nítida no plano político, em relação aos seus estados membros e às conferências internacionais. Neste sentido, o significado
político da vontade própria de uma organização, depende da sua capacidade de
exercício de poder político e de uma influência decisiva sobre o contexto internacional, expressa "através de deliberações maioritárias" ou consensuais,
precisando, para isso, de se apoiar "em forças sociais próprias" (Reuter, s.d.,
225).
dos seus
iadejurío quadro
manter.
inerente
ja ampli-
!
Neste contexto, a capacidade de manifestação de vontade própria no plano
dos relacionamentos internacionais, decorre da posse da personalidade jurídica internacional e também da personalidade jurídica interna da organização.
No primeiro caso, essa vontade própria concretiza-se, designadamente, e de
acordo com as finalidades constantes do acto constitutivo, através da "capacidade de concluir tratados", da "capacidade de patrocinar reclamações internacionais", do "direito de missão", nomeadamente, através da responsabilidade
103
ELEMENTOS DE ANÁLlsE DE POLÍTICA ExrERNA
da referida conclusão de tratados, da administração de territórios, da utilização de forças armadas, de prestação de assistência técnica, social, humanitária,
política, etc., e da capacidade de reconhecimento colectivo de estados. No
sentido do exercício destas capacidades, a organização internacional possui
privilégios e imunidades, designadamente, o direito de "protecção funcional
dos seus agentes e familiares", bem como o direito de recurso ao Tribunal
Internacional de Justiça (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 711-717 e 109).
No segundo caso e, portanto, para além das competências internacionais,
as organizações internacionais manifestam também a sua vontade própria no
plano interno, expressa nas deliberações dos seus membros, através da respectiva participação nos órgãos próprios da organização. Estas deliberações vinculam internacionalmente a própria organização, responsabilizando-a perante
o direito internacional, em termos de efeitos jurídicos (Machado, 1995, 86 e
segs.). Incluem-se, também, entre as manifestações de vontade própria através
do exercício de competências decorrentes da personalidade jurídica interna,
os direitos "de contratar, de adquirir e de vender bens mobiliários e imobiliários", e de comparecer em juízo"( Dinh, Daillier e Pellet, 1999,535).
Uma terceira característica fundamental das organizações internacionais é,
tal como referido, a permanência. A organização internacional "tem de ser
permanente. Dessa permanência resulta a sua autonomia em relação aos Estados
membros" (Pereira e Quadros, 1993,413 e n.s). A permanência pressupõe a
existência de uma sede, de uma estrutura orgânica e de meios materiais próprios, situando-se geralmente no território de um ou vários dos seus estados
membros, ou de outros estados, mediante "contratos de instalação", e que
asseguram através do seu funcionamento regular, a continuidade da existência
da organização, independentemente da evolução da sua composição em termos de estados membros.
Tal como a vontade própria, a característica da permanência é, pois, fundamental no contexto do elemento organização. Com efeito, para além da autonomia e da independência em relação aos seus membros, a permanência permite atribuir à organização internacional a sua identidade e capacidade próprias,
distintas das dos estados que as integram, assumindo perante estes, os seus
próprios actos, enquanto sujeitos de direito internacional, com personalidade
jurídica própria, e enquanto actores das relações internacionais. Neste sentido, o elemento de permanência "afasta logo a Organização Internacional quer
das meras relações acidentais que surgem entre os Estados em virtude de tratados não destinados a fazer surgir uma nova entidade, quer das conferências
intergovernamentais" (Pereira e Quadros, 1993,413).
A permanência significa a preservação sustentada de uma instituição que
pretende transcender no tempo, a característica eventualmente transitória dos
104
As
'itórios, da utiliza)cial, humanitária,
10 de estados. No
ternacional possui
'otecção funcional
:urso ao Tribunal
-717 e 109).
ias internacionais,
:>ntade própria no
através da respec. deliberações vinilizando-a perante
:hado, 1995, 86 e
tde própria através
! jurídica interna,
liários e imobiliá-
)99,535).
) internacionais é,
onal "tem de ser
,..elação aos Estados
ência pressupõe a
ios materiais prói dos seus estados
nstalação", e que
fade da existência
nposição em ter-
-ia é, pois, fundaara além da autowanência permiacidade próprias,
ate estes, os seus
1m personalidade
laiS. Neste sentiIternacional quer
n virtude de tradas conferências
instituição que
te transitória dos
1
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
estados que lhe deram origem, que procura superar a génese contextual da sua
criação, a existência temporal dos seus fundadores e as respectivas capacidades
individuais de concretização de objectivos, no sentido da realização colectiva
das finalidades que estiveram na sua origem, que determinaram a sua génese,
e que se encontram consignadas no seu documento constitutivo. A permanência significa, também, que essas finalidades estatutariamente consignadas terão sido perspectivadas pelos estados fundadores, como princípios normativos
de uma ordem internacional em construção e como factores estruturantes de
uma sociedade internacional em processo de estabilização gradual, através de
uma transformação dinâmica e evolutiva .
A permanência significa, ao mesmo tempo, que as finalidades e objectivos
atribuídos à organização pelos seus estados membros e consagrados no seu
tratado constitutivo, não são temporalmente fixados sendo, frequentemente,
apenas realizáveis a longo prazo, facto que implica a existência de meios que
permitam o funcionamento permanente da organização. Esses meios são, essencialmente, recursos humanos que integram um corpo institucional de natureza administrativa que assegure o funcionamento contínuo e a gestão de
assuntos correntes da organização, geralmente, os secretariados, e um orçamento que garanta a viabilidade das acções conducentes à concretização dos
objectivos fixados e das finalidades atribuídas, através da sustentabilidade financeira da organização.
Neste contexto, poderemos identificar uma quarta característica da organização internacional, que é a existência de órgãos próprios, ou seja, de uma estrutura orgânica constituída no sentido da formação, da expressão e da execução da vontade colectiva própria da organização, através da concretização dos
objectivos e das finalidades consagradas no seu tratado constitutivo.
A partir destes objectivos e finalidades poderemos identificar uma quinta
característica das organizações internacionais, designadamente, a condicionalidade ou sujeição a fins específicos, os únicos que justificam a sua existência e o
seu funcionamento e que, ao mesmo tempo, determinam a sua acção como
pessoa colectiva condicionada pelas finalidades próprias consagradas e definidas, em termos de extensão e limites, no seu documento constitutivo.
É a condicionalidade ou sujeição a estes fins específicos que determina, de acordo com o princípio da especialidade, a natureza funcional, a extensão e os limites
da personalidade jurídica da organização, o grau de autonomia em relação aos
seus estados membros, as competências destinadas à realização de todos os actos
indispensáveis ao desempenho das suas funções, bem como a estrutura e o funcionamento da sua orgânica institucional. Neste contexto, asfinalidades próprias
de uma organização internacional relacionam-se intrinsecamente com a sua estrutura jurídica e com a composição da sua orgânica institucional.
105
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Finalmente, a sexta característica da organização será o seu elemento internacional que resulta do facto de os seus membros serem estados, sujeitos plenos
de direito internacional, de cuja personlidade jurídica resulta, designadamente, da competência contratual internacional da organização, designadamente,
através das capacidades de celebrar tratados e de se fazer representar como
organização intergovernamental.
Neste contexto,
"[O] elemento internacional nasce, desde logo, do facto de a Organização ser criada por um instrumento de Direito Internacional' (Pereira e
Quadros, 1993,414).
Em certos casos, as organizações internacionais podem ser criadas por entidades ou órgãos de outras organizações internacionais, como no caso da
Assembleia Geral da ONU que criou a Organização das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) e a Conferencia das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED), ou admitir entidades
que, embora não sejam estados soberanos, possuem, no entanto, personalidade jurídica internacional, como é o caso da Santa Sé, que é membro de várias
organizações internacionais, ou outras organizações internacionais como, por
exemplo, a ONU que é, ela própria, membro de outras organizações internacionais, como a União Postal Internacional (UPI), entre outras, ou a CEE,
que foi membro do GATT, ou ainda colectividades territoriais de direito público com direitos reduzidos, como no caso de territórios associados ou não
autónomos, ou a conjuntos de entidades definidas e organizadas entre si por
critérios geográficos, como a referida UPI e a Organização Meteorológica
Mundial (OMM), que possuem, por isso, personalidade jurídica internacional.
O elemento internacional não suscita, no entanto, qualquer dúvida sobre a
distinção entre a vontade dos estados e a vontade da organização. Tal como
referido anteriormente, essa distinção é ainda mais nítida no caso das organizações supranacionais, cuja finalidade de integração implica decisões votadas
por maioria que, em consequência, se sobrepõem à vontade dos estados membros.
No plano da composição dos órgãos da organização, o termo internacional
poderá significar, também, que os representantes podem ser
"provenientes de vários países, ou serem escolhidos para servirem a organização independentemente da nacionalidade, ou serem financiados
pelos outros órgãos ("institutions") da organização" (Archer, 1992,37).
106
As ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS
"
~lemento
inter-
sujeitos plenos
designadamen!signadamen te,
,resentar como
Neste contexto, as organizações internacionais apresentam características
próprias que as distinguem dos estados, não apenas pela natureza intrínseca
das entidades que as compõem e das suas estruturas orgânicas próprias, como
pelas actuações diferenciadas nos planos político e jurídico, enquanto actores
das relações internacionais.
3.3. - Classificação, Competências e Estrutura Orgânica
Jrganiza(Pereira e
criadas por enno no caso da
es Unidas para
Nações Unidas
nitir entidades
o, personalidambro de várias
nais como, por
zações internaras, ou a CEE,
) de direito pú)ciados ou não
:las entre si por
Meteorológica
lica internaciodúvida sobre a
ção. Tal como
aso das organiecisões votadas
5 estados mem-
-o internacional
rem a orlanciados
992,37).
3.3.1. Critérios de Classificação
N uma abordagem empírica à classificação das organizações internacionais,
Paul Reuter distingue quatro grupos de organizações. Em primeiro lugar as
que "compreendem um grande número de Estados cujo objectivo não é especializado e cujos poderes são limitados". Um segundo grupo que reúne as
organizações compostas por "um número limitado de estados cujo objectivo
não é especializado e cujos poderes são relativamente importantes". Em terceiro lugar agrupam-se as organizações "que têm um objectivo especializado e
poderes limitados e que tanto podem revestir-se de um carácter universal
como regional". Por último, identificam-se as organizações "que têm um objectivo especializado e poderes importantes e que agrupam um número limitado de Estados". Exemplificando este último grupo com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) , o autor considera que este tipo de
organizações é geralmente raro, "visto que é difícil exercer poderes importantes num sector relativamente restrito. A experiência prova que, nesta hipótese
se exerce uma pressão no sentido de uma extensão do objecto da organização"
(Reuter, s.d., 236).
Clive Archer refere várias formulações descritivas, enumerando vários conjuntos de características e critérios que permitem definir, caracterizar e classificar as organizações internacionais. Archer identifica os elementos que constituem o núcleo comum a todas as definições, designadamente, a composição,
as finalidades e a estrutura. Neste sentido, as várias tentativas de classificação
partem de critérios baseados nos fins, nas competências, actividades e funções
da organização, bem como na sua composição, ou seja, nos seus membros, e
na sua orgânica estrutural (Archer, 1992,33-37).
Neste contexto, e tal como referido, são numerosos e diversificados os critérios a partir dos quais se torna possível estabelecer classificações para as organizações internacionais. A sua expressão geográfica, os seus fins específicos ou
objecto, a extensão das suas competências, a sua estrutura orgânica e jurídicoinstitucional, modalidades de acesso e participação, etc., são critérios que convergem, se influenciam e se articulam segundo padrões complexos revelando
107
ELEMENTOS DE ANÁLisE DE POLÍTICA ExTERNA
a condicionalidade recíproca que, em última análise, confere a cada organização, ou grupo de organizações, a sua expressão e capacidade de intervenção
própria enquanto actor, no ambiente de relacionamento internacional.
Quanto à expressão geográfica, as organizações internacionais podem ser
agrupadas em organizações de vocação universal ou para-universal, e de carácter regional, dependendo das áreas geográficas em que exercem a sua acção.
Independentemente dos seus fins específicos ou finalidades e objectivos sectoriais, as organizações de âmbito universal acolhem, em princípio, todos os
estados, "têm [, pois,] uma apetência, uma vocação para a universalidade"
(Pereira e Quadros, 1993,425). O exemplo mais característico será a ONU e
o conjunto das suas agências especializadas.
Trata-se, pois, de organizações abertas, na medida em que os estados que
se encontrarem em conformidade com as condições de admissão constantes
do tratado constitutivo da organização, preenchendo os requisitos aí estipulados poderão, em princípio, aceder, isto é, tornar-se membros da organização.
Trata-se de organizações instituídas através de um tratado aberto, que pressupõe a adesão de novos membros que não participaram na negociação do texto
constitutivo.
As organizações regionais são compostas por estados de uma região geográficam ente determinada, independentemente de outros critérios de coerência,
afinidades específicas, interesses comuns ou lógicas de associação. BoutrosGhali define as organizações de vocação regional como
"organizações de carcácter permanente que numa dada região agrupam
dois ou mais estados e que, em virtude da sua vizinhança, da sua comunidade de interesses ou de afinidades culturais, linguísticas históricas
ou ideológicas, se associam na prossecução de objectivos de interesse
comum" (Campos et ali., 1999, 44).
Neste contexto, estas organizações
"vêem o seu âmbito territorial de acção ou participação definido restritivamente, isto é, estão abertas unicamente a um reduzido número de
Estados, definidos por requisitos geográficos ou outros, e que representam internamente, por contrapartida, uma bem maior homogeneidade" (Pereira e Quadros, 1993,425).
As organizações de vocação regional apresentam várias características específicas. Em primeiro lugar, a sua expressão territorial e geográfica é restrita,
e os membros que a integram são estados que mantêm relações de boa
108
As ORGANIZAÇÕES
a cada organizade intervenção
macional.
mais podem ser
'ersai, e de carácem a sua acção.
:>bjectivos sectolcípio, todos os
universalidade"
:0 será a ONU e
!
e os estados que
issão constantes
sitos aí estipulada organização.
erto, que pressuociação do texto
a região geográos de coerência,
:iação. Boutros-
o agrupam
suacomu; históricas
le interesse
lido restriaúmero de
e represenlogeneida-
lcterísticas espe;ráfica é restrita,
relações de boa
INTERNACIONAIS
vizinhança, territorialmente contíguos, ou geograficamente próximos. Em segundo lugar, os seus estados membros estão ligados por afinidades de ordem
diversificada, designadamente, política, histórica, cultural, ideológica, linguística, económica, religiosa, etc., evidenciando uma comunidade de interesses
em domínios específicos. Em terceiro lugar, as organizações regionais
"declaram-se, em geral, tributárias da ONU, propondo-se coordenar
ou mesmos subordinar a sua acção à Organização Universal e agir no
quadro regional em consonância com algumas das suas finalidades,
podendo eventualmente ser utilizadas para aplicar, nesse quadro, sob
a autoridade do Conselho de Segurança, medidas (. .. ) decididas pela
ONU" (Campos et aI., 1999, 45),
nos termos do Art. O 53. 0 da Carta desta Organização.
Em quarto lugar, os tratados constitutivos das organizações de vocação
regional acentuam o seu carácter de organizações fechadas ou sem i-abertas. Os
tratados fechados limitam o acesso de outros estados. Neste casos, a possibilidade de adesão encontra-se condicionada por requisitos, carácter, objectivos
ou âmbito geográfico, que inviabilizam a participação de outros estados. Os
tratados sem i-abertos colocam condições restritivas muito específicas à adesão
de novos membros. Apesar da adesão poder ser eventualmente resolvida por
negociação, a última condicionalidade estatutária reside, frequentemente, na
unanimidade da decisão, exigida na votação dos estados membros, e da qual
depende a adesão do estado candidato, o que significa o exercício de uma
cooptação discricionária.
Finalmente, e em quinto lugar, torna-se fundamental acentuar que, em certos casos, o "regionalismo da acção da organização" pode não ter correspondência com o regionalismo da participação, "porque o primeiro é determinado por
um critério geográfico e o segundo por um critério geopolítico" (Pereira e Quadros, 1999, 426), ou ideológico, que pode substituir ou complementar o primeiro. O caso do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento
(BERD) constitui um exemplo característico desta situação, na qual os participantes e os beneficiários diferem entre si em termos de expressão territorial e
geográfica. A evolução recente da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) evidencia, também, a tendência gradual para a superação do critério
geográfico regional, no sentido de um critério de extensão geopolítica. Neste
sentido, e tal como referido, o critério regionalista não assenta numa expressão
exclusivamente territorial ou geográfica, podendo articular-se com outros critérios, designadamente, de interesses diversificados, ou de objectivos de acção
baseada em afinidades ideológicas, religiosas, culturais ou geostratégicas.
109
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
o critério classificativo das finalidades próprias, fins específicos ou objecto
permite reconhecer organizações internacionais de finalidades gerais e de finalidades específicas, particulares ou especiais. As primeiras
"têm como objecto a cooperação de uma forma genérica, a concertação
a nível político, sem prejuízo de prosseguirem uma multiplicidade de
fins específicos, normalmente definidos em termos muito amplos" (Ribeiro e Ferro, 2004, 36).
Neste sentido, a definição estatutária ou constitutiva dos objectivos é abrangente, compreendendo "o conjunto das relações pacíficas entre os seus membros e a resolução de conflitos internacionais" (Campos et all , 1999,47). É este
o caso da ONU, da Organização dos estados Americanos (OEA), da União
Mricana (UA) e da Liga Arabe. Apesar da multiplicidade de objectivos especiais
que podem decorrer das finalidades gerais, o seu objecto fundamental é a cooperação política em todos os sectores de actividade eventualmente envolvidos.
As organizações com finalidades específicas ou especiais "têm um objecto
circunscrito a algum ou alguns sectores particulares da cooperação internacional, na conformidade do respectivo pacto constitutivo" (Campos et all., 1999,
47). Neste sentido, estas organizações podem ser agrupadas em várias categorias segundo o seu objecto material, designadamente, organizações de cooperação política, de cooperação económica, de cooperação militar, de cooperação social
e humanitária, de cooperação científica, cultural e técnica.
As organizações de cooperação política desenvolvem as suas actividades no sentido da concretização de finalidades específicas muito diversificadas, pelo que
alguns autores as inserem entre as organizações de finalidades gerais. Um exemplo desta diversidade sectorial de cooperação, será o caso do Conselho da Europa.
As organizações de cooperação económica desenvolvem as suas actividades no
plano das relações económicas, financeiras e comerciais entre os estados membros, no sentido da promoção, da coordenação e do desenvolvimento económico. Produtos, serviços e outros aspectos e domínios particulares das actividades
económicas, bem como o próprio desenvolvimento económico, podem constituir áreas e objectivos específicos das actividades destas organizações.
As organizações de cooperação militar são geralmente de âmbito regional e
têm como objectivo a prevenção contra agressões mlitares externas a uma região considerada, a defesa comum e a segurança colectiva, desenvolvendo as
suas actividades no sentido, e com a finalidade última da manutenção da paz,
numa área geográfica determinada.
As organizações de cooperação social e humanitária visam a protecção e a promoção dos interesses e dos direitos dos indvíduos e de certos grupos sociais de
110
As
:íficos ou objecto
;gerais e de fina-
oncertação
licidade de
1plos" (Ri-
jectivos é abran~e os seus mem.999,47). É este
)EA), da União
lectivos especiais
lental é a coope! envolvidos.
êm um objecto
lção internacio)os etalt., 1999,
n várias catego;ões de coopera-
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
caraterísticas específicas, como as minorias, os refugiados, as crianças, etc. A
promoção desses direitos transcende o plano básico da defesa da dignidade humana e do direito aos recursos indispensáveis à satisfação das necessidades primárias dos indivíduos, no sentido da manutenção do seu bem-estar social, designadamente, em termos de habitação e saneamento básico, de ambiente, de
educação, de condições de trabalho, de acesso a serviços de assistência social, de
recurso a instâncias jurídicas, de acesso à informação e ao conhecimento, bem
como de defesa das suas liberdades e garantias. Neste sentido, a defesa dos direitos humanos e dos direitos dos povos prolonga-se numa perspectiva extensa, em
termos de direitos civis e políticos, económicos, sociais e culturais.
As organizações de cooperação científica, cultural e técnica desenvolvem as
suas actividades nos planos da investigação científica, da produção e do intercâmbio cultural e da assistência técnica. Neste âmbito, a inovação científica e
tecnológica aplicada às actividades económicas, sociais e culturais, designadamente, em termos de inovação aplicada às técnicas e aos processos integrados
de produção, transformação e criação de novos recursos, de comunicação e
acesso à informação e ao conhecimento, entre muitos outros sectores de actividade, tem-se traduzido pela criação de numerosas organizações internacionais de cooperação nos domínios referidos.
3.3.2. Competências Institucionais
:ooperação social
ividades no sencadas, pelo que
'rais. Um exemelho da Europa.
s actividades no
s estados mem1ento eco nó midas actividades
, podem constições.
lbito regional e
!rnas a uma resenvolvendo as
ltenção da paz,
Jtecção e a pro'upos sociais de
A classificação das organizações internacionais quanto às suas competências,
estrutura orgânica e jurídico-institucional, modalidades de acesso e participação
dos respectivos estados membros constitui, em larga medida, um reflexo dos
critérios de classificação anteriormente referidos, designadamente, da sua expressão geográfica e, fundamentalmente, dos seus fins específicos ou objecto.
As competências da organização, "são os poderes funcionais de que a organização dispõe para prosseguir as suas finalidades" (Ribeiro e Ferro, 2004,
42). Esses poderes encontram-se convencionados no seu tratado constitutivo
e derivam, tal como referido, da personalidade jurídica funcional, que estabelece a respectiva extensão e limites, segundo o princípio da especialidade. Neste contexto,
"[a]s organizações dispõem de todas as competências necessárias à realização dos seus fins, mas unicamente destas, em virtude do princípio
da especialidade, que qualifica ele próprio a personalidade das organizações (... ) Os fins atribuídos às organizações pelos Estados permitem
precisar as suas funções; as necessidades do seu exercício condicionam
os poderes das organizações (conmpetências ditas 'funcionais'), Explí-
111
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
cita ou implícita, e essa hierarquia está sempre presente em todos os
actos constitutivos" (Oinh, Oaillier e Pellet, 1999,542).
Assim, para além destes poderes explicitamente convencionados, existem
outros, baseados na teoria das competências implícitas ou capacidades próprias,
que o TI] designa também por poderes inerentes. Neste contexto, e através da
interpretação dos instrumentos constitutivos das organizações, considerados
o seu objecto material e fins específicos aí consagrados,
"a doutrina dos poderes implícitos tem por função pôr em execução,
dentro de limites razoáveis, os poderes explícitos e não suplantá-los ou
modificá-los" (Oinh, Oaillier e Pellet, 1999, 544 e n.s).
Para além dos poderes expressamente consagrados no documento constitutivo, a inerência de poderes implícitos, deriva de um "princípio de eficácia
institucional", ou seja, embora não se encontrem especificados explicitamente
na carta institutiva da organização, são-lhe "conferidos por inferência necessária como sendo essenciais para o desempenho dos seus deveres" (Brownlie,
1997,717-718 e n.s). Neste contexto, as competências implícitas deverão desenvolver-se no sentido da prossecução das finalidades estatutárias expressamente consagradas, "e não contraditadas pela prática da organização em causa" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 544-545 e n.s).
As competências das organizações internacionais derivam, pois, das respectivas personalidades jurídicas interna e internacional e estas derivam, por sua
vez, das finalidades específicas da organização.
"As competências de cada organização serão poderes jurídicos reconhecidos às organizações, poderes cuja escolha é determinada pela sua
adaptação às funções prioritárias de cada uma delas" (Oinh, Oaillier e
Pellet, 1999, 545).
As competências normativas, no plano interno, referem-se, à adopção de
normas de funcionamento, processos de decisão, regras jurídicas ou gestão
financeira, de carácter de alcance geral ou individual e, no plano internacional, incluem a capacidade de participação em convenções internacionais.
As competências operacionais, no plano interno, referem-se à gestão, assessoria e aconselhamento nos domínios administrativo, económico, técnico ou
financeiro (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 547). No plano das competências
operacionais internacionais, as organizações
112
As
m todos os
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
"podem desempenhar amplas funções que incluem a conclusão de tratados, a administração de territórios, a utilização de forças armadas e a prestação de assistência técnica" (Brownlie, 1997,715; ver, tb., ponto 3.4, infta),
ionados, existem
'1cidades próprias,
~xto, e através da
,es, considerados
n execução,
lantá-Ios ou
cumento constitdpio de eficácia
)s explicitamente
inferência necesreres" (Brownlie,
'citas deverão deutárias expressamização em caupois, das respecierivam, por sua
dicos recoda pela sua
l, Daillier e
e, à adopção de
ídicas ou gestão
tlano internacio:ernacionais.
;: à gestão, assesnico, técnico ou
as competências
bem como no plano da assistência humanitária.
Numa terceira categoria, resultante da dificuldade de integração exclusiva
das respectivas actividades numa das categorias anteriores, incluem-se as competências jurisdicionais e ''quase jurisdicionais", como a participação em processos
de resolução de conflitos internacionais (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,547).
A relação entre as competências da organização e de cada um dos seus órgãos
e, principalmente, entre as competências da organização e as competências dos
estados membros, constitui matéria complexa e de elevada sensibilidade, na
medida em que se trata de, através do domínio reservado da jurisdição nacional
desses estados membros, se preservar a respectiva soberania. Neste contexto, as
decisões dos seus órgãos deliberativos apenas vinculam os estados que as aceitam. No mesmo sentido, a jurisdição interna dos estados não é afectada por
essas decisões, e o próprio documento constitutivo salvagauarda explicitamente
o domínio reservado da jurisdição interna. No entanto, os estados e a organização podem acordar numa representação daquele exercida por esta, para além
das suas competências constitutivas (Brownlie, 1997, 719-720).
Nesta perspectiva, Paul Reuter classifica as organizações internacionais segundo três conjuntos de competências ou poderes, em relação aos poderes dos
estados membros. Em primeiro lugar identificam-se as organizações que não
exercem qualquer tipo de poder em relação aos estados, e que se limitam a
"constituir um quadro onde os estados podem lançar as bases de uma atitude
comum ou celebrar acordos". Um segundo grupo de organizações "que têm
poderes próprios que podem ser exercidos sem se substituirem aos estados",
designadamente, poderes de fiscalização e de gestão, que se exprimem na verificação e administração correcta de acordos e convenções por parte dos Estados,
evidenciando uma "importância política menor". Finalmente, agrupam-se as
raras organizações "que se substituem aos Estados no exercício das suas funções
superiores de legislação, justiça ou coação armada". Trata-se, no entanto, de um
plano "puramente teórico" e mesmo "as organizações mais evoluídas só exercem
esses poderes de uma forma muito limitada e excepcional" (Reurer, s.d., 229230), apesar das tendências manifestadas, ao longo das últimas décadas do século :XX, pelas estruturas orgânicas da actual União Europeia.
3.3.3. Estrutura Orgânica
A gradualidade da relativização de competências permite classificar as or-
113
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
ganizações quanto à sua estrutura orgânica, e numa perspectiva político-jurídica, funcional e institucional, em intergovernamentais e supranacionais. As
primeiras têm como finalidade geral, desenvolver relações multilaterais de cooperação entre os estados, aproximando as respectivas políticas, num ou em
vários domínios de actividade específicos, que constituem o objecto material
da organização, mas a responsabilidade política continua a ser dos estados.
Com efeito, as organizações intergovernamentais são criadas com o objectivo expresso de responderem a problemáticas concretas e específicas da sociedade internacional, cujas soluções deverão ser elaboradas em comum pela
vontade expressa dos seus membros. Assim, os seus órgãos deliberativos funcionam, geralmente, numa base intergovernamental. Neste contexto,
"não existe, em princípio, limitação à soberania dos Estados membros,
já que as relações que se estabelecem no seu seio são relações horizontais de simples coordenação das soberanias estaduais" (Pereira e Quadros,
1993,421).
Neste sentido, a sua estrutura orgânica é dominada por órgãos deliberativos intergovernamentais, isto é, que representam os interesses dos estados
membros. As decisões são geralmente tomadas por unanimidade ou por consenso, apesar de se verificar uma tendência para a admissão de maiorias qualificadas muito estritas. Essas decisões não afectam directamente as respectivas
ordens jurídicas internas. As decisões e deliberações dos órgãos plenários não
são vinculativas para os estados membros, assumindo geralmente a forma de
declarações ou recomendações
As organizações supranacionais têm como objectivo a integração entre estados. Estas organizações, que podem englobar as primeiras,
"ultrapassam-nas, permitindo o desenvolvimento de políticas comuns
definidas e geridas pela organização em causa. C.. ) As funções de integração pressupõem que uma entidade não estatal assegura, competitiva
ou paralelamente aos Estados membros, actividades cujo monopólio
estes últimos têm tradicionalmente (funções quase legislativas, executivas e judiciais)" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,545).
Neste sentido, a sua estrutura institucional compreende órgãos de natureza
integrada, cujas funções transcendem o plano administrativo adquirindo capacidade política expressa, designadamente, nas decisões tomadas por maioria, nas competências de execução, controlo, fiscalização, sanção e gestão.
Neste contexto, as organizações internacionais de estrutura jurídica supra-
114
As
va político-jurí1ranacionais. As
ltilaterais de coas, num ou em
objecto material
. dos estados.
; com o objecticíficas da socien comum pela
'liberativos funllltexto,
membros,
horizonQuadros,
~s
gãos deliberatises dos estados
lde ou por conmaiorias quali:e as respectivas
IS plenários não
!nte a forma de
-ação entre esta-
comuns
!S de inteImpetitiva
lOnopólio
5, executiLS
ãos de natureza
adquirindo caadas por maioão e gestão.
jurídica supra-
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
nacional funcionam através de derrogações, de transferências ou de delegação
de competências de soberania dos estados membros, fundamentando-se
"no princípio da limitação da soberania dos Estados membros, resultante
da chamada 'transferência' de poderes soberanos dos Estados membros para
as Organizações Internacionais" (Pereira e Quadros, 1997,423).
Nas organizações supranacionais, o carácter horizontal das relações de cooperação é gradualmente substituído pelas relações verticais da integração que
se encontram na génese de poderes integrados, conferindo à organização uma
relevância política comunitária própria e implicando relações de subordinação gradual e progressiva dos poderes dos estados membros aos poderes da
organização. Este desenvolvimento não singifica, no entanto, a substituição
total da cooperação pela integração, verificando-se, de facto, a coexistência de
ambos os processos em domínios diferenciados, designadamente, através da
aplicação do princípio da subsidiariedade.
Segundo André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, as características
essenciais das organizações supranacionais são as que reflectem o referido fenómeno da subordinação, e que se resumem no seguinte: os seus órgãos deliberativos próprios revelam uma estrutura político-jurídica de tipo estatal, designadamente, através da "separação e repartição de poderes". Em alguns destes
órgãos, "os titulares exercem as suas funções em nome próprio e com independência em relação aos Estados", logo, não poderão ser considerados seus
representantes. Ainda nesses órgãos, o sistema de tomada de decisões é sujeito
a votação por maioria e não por unanimidade, no sentido de concretizar os
interesses colectivos e objectivos da comunidade, e não os interssses nacionais
específicos dos estados membros. Finalmente, os actos de carácter legislativo,
regulamentar e administrativo aprovados pelos órgãos deliberativos, para além
de serem "obrigatórios" para os estados membros, "são directa e imediatamente
aplicáveis na sua ordem interna", característica da qual deriva o corolário da
acessibilidade, tanto dos estados membros, como dos respectivos sujeitos de
direito interno, aos tribunais da organização (Pereira e Quadros, 1993,424).
As estruturas orgânicas e jurídico-institucionais das organizações internacionais reflectem, pois, necessariamente, esta gradualidade de competências
relativas. A existência, composição, funções e competências dos órgãos próprios
da organização, quer no plano deliberativo, quer no plano executivo e administrativo, encontram-se consagrados no tratado constitutivo, que estabelece,
também, a composição, funções, competências, hierarquia e relacionamento
entre esses órgãos.
Entre os órgãos deliberativos encontram-se, embora com grau vinculativo
115
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
diferenciado das respectivas decisões, as assembleias plenárias e os conselhos.
As assembleias plenárias consubstanciam o princípio democrático da participação igualitária, reunindo periodicamente. Os conselhos, ,constituídos por
representantes permanentes, podem ser conselhos plenários ou restritos, reflectindo o princípio aristocrático do directório, ou seja, da participação selectiva e hierarquizada que adquire expressão num "concerto de várias potências
que assumem de facto o poder directivo da comunidade em 'vários domínios"
(Moreira, 2002, 389). Entre os órgãos executivos e administrativos, destacam-se
os secretariados, os gabinetes ou os "escritórios", de carácter permanente, que
asseguram as funções administrativas, a execução das decisões e resoluções dos
órgãos deliberativos, bem como a continuidade dos trabalhos da organização
em articulação com os conselhos de representantes permanentes, e nos intervalos das reuniões dos órgãos plenários.
Por outro lado, o tratado constitutivo confere também a estes órgãos originários ou principais, a competência para a criação e implementação funcional
de órgãos subsidiários, ou seja, de conferências, comités, comissões e conselhos
sectoriais considerados necessários para o desempenho das actividades inerentes à concretização das finalidades próprias, fins específicos ou objectivos da
organização. Estes órgãos podem, no entanto, resultar do desenvolvimento
das práticas da organização e da sua dinãmica institucional, sendo criados por
decisão posterior, não se encontrando expressamente previstos. Estes órgãos
"derivados" são, neste caso, criados ao abrigo das competências implícitas podendo, por sua vez, dar origem a outros órgãos (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
544-545; ver, tb., Reuter, s.d., 263-266).
O recurso a órgãos subsidiários permite uma flexibilidade acrescida, bem como
um aumento considerável da extensão dos efeitos das acções da organização. Para
além destes órgãos, os estados podem criar, através de um tratado, novos órgãos e
agências especializadas que se articulam com a organização considerada, ou conferir novas funções a um órgão anteriormente criado. Por outro lado,
"a própria organização pode delegar certas funções a uma outra organização, a uma administração nacional ou mesmo a uma empresa
particular, e pode actuar igualmente por via de subvenção ou contrato"
(Reuter, s.d., 263).
Entre os órgãos subsidiários, destacam-se os órgãos jurisdicionais e consultivos.
Os primeiros são, pela natrueza própria das suas funções, independentes dos
órgãos intergovernamentais plenários ou restritos, contrariamente ao que se
passa com os órgãos executivos e administrativos. Os segundos, decorrem da necessidade de acompanhamento especializado externo e independente, tanto em
116
.
e os conselhos.
ltiCO da partici:mstituídos por
)u restritos, re·ticipação selec{árias potências
irios domínios"
lOS, destacam-se
~rmanente, que
: resoluções dos
da organização
res, e nos inter:es órgãos origiração funcional
ões e conselhos
vidades inerenII objectivos da
:senvolvimen to
ldo criados por
IS. Estes órgãos
s implícitas poe Pellet, 1999,
:ida, bem como
ganização. Para
, novos órgãos e
~rada, ou confeo,
outra ocempresa
contrato "
lis e consultivos.
:pendentes dos
~nte ao que se
ecorrem da nelente, tanto em
As
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
relação aos governos dos estados membros, como à própria organização, estando subordinados às directivas dos órgãos principais. No entanto, a competência
especializada subjacente à sua formação, bem como a independência e o elevado
nível técnico dos·seus funcionários, garantem a fiabilidade das respectivas deliberações e relatórios permitindo-lhes "exercer uma influência decisiva sobre o
conteúdo das dec!sões tomadas pelos órgãos competentes" (Dinh, Daillier e
Pellet, 1999, 554-555; ver, tb., Reuter, s.d., 254 e segs.).
Os órgãos próprios deliberativos são, geralmente, intergovernamentais, integrados por representantes dos estados membros, podendo a sua composição
ser, tal como referido, plenária ou restrita. Os órgãos próprios executivos e administrativos, são compostos por "agentes internacionais" que constituem os
corpos institucionais responsáveis pela condução permanente dos trabalhos
da organização, assegurando a permanência, a continuidade e a sequência da
implementação das acções que concretizam os seus objectivos. Para além deste desempenho funcional, é também através da estrutura orgânica que a organização afirma a sua vontade própria, exercendo algumas das competências
explícitas e implícitas, designadamente, dos poderes de "debater, decidir e
agir" (Virally, 1972, 157 e segs.), através da formulação de declarações, recomendações, resoluções e decisões.
Estes órgãos próprios são considerados órgãos integrados, por serem compostos por indivíduos que exercem o cargo em nome próprio e que devem ser
imparciais, isentos e independentes em relação a qualquer autoridade exterior
à organização defendendo, através das suas acções, os interesses próprios da
organização. Trata-se dos referidos "agentes internacionais", entre os quais se
destacam os "funcionários internacionais", cujo estatuto, privilégios e imunidades, funções e actuação, são regulamentados pelas próprias organizações.
Os órgãos integrádos podem desempenhar funções de execução muito diversificadas, nomeadamente, administrativas, técnicas, algumas muito específicas,
designadamente, actividades jurídicas e militares, dependendo das características e dos objectivos da organização (Ribeiro e Ferro, 2004, 75).
Noutros casos, apesar de continuarem a ser nacionais de um estado determinado, algumas pessoas passam a ser "parlamentares designados por uma assembleia, ou personalidades independentes sem qualquer carácter representativo"
(Reuter, s.d., 227). Existem ainda órgãos que não são compostos por representantes dos estados nem por funcionários internacionais da própria organização,
mas por conjuntos de representantes sectoriais da sociedade civil dos estados
membros. É o caso da Organização Internacional do Trabalho, que prevê uma
representação tripartida composta por representates das organizações laborais,
das organizações patronais e dos governos dos estados membros; o Comité das
Regiões da União Europeia, composto por representantes das colectividades
117
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
regionais, o Comité Económico e Social Europeu (CESE) ou o Comité de Representantes Permanentes (COREPER) compostos por representantes permanentes de sectores diversificados da sociedade civil organizada.
3.3.4. Acesso e Participação dos Estados
Tal como a estrutura orgânica, as modalidades de funcionamento interno,
designadamente, em termos de decisões vinculativas, das competências específicas das organizações internacionais, e também das condições de participação na sua constituição, bem como de admissão ou adesão de estados candidatos, variam em função dos critérios anteriormente referidos.
Os estados originários são os membros fundadores, que se encontram na
génese da organização, que elaboraram e assinaram o tratado constitutivo
consagrando, entre outros aspectos, as condições de participação, ou seja, admissão e adesão de novos membros e a eventual suspensão e exclusão. Os estados originários são mutuamente cooptados para a conferência de onde resultará o tratado constitutivo, e a própria existência da organização decorre do
seu consentimento expresso.
Os critérios de aceitação futura de candidaturas e os processos de admissão
ou adesão dependem, em primeiro lugar, das normas fixadas pelo tratado
constitutivo da organização, através do qual a soberania dos estados signatários se manifesta em termos do exercício do direito de controlo sobre o acesso
à organização, e de imposição de submissão dos estados candidatos, a um
processo de cooptação (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,530).
Os critérios da admissão fixados pelos tratados constitutivos subordinamse, geralmente, a duas condições, designadamente,
"a vontade de garantir uma grande solidariedade entre estados membros 'fechando' mais ou menos a organização - o que leva a deixar uma
grande parte aos critérios políticos, apreciados discricionariamente - e
as finalidades de organização" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,530-531).
Neste contexto, podem existir critérios de proximidade geográfica, de regime político-ideológico ou de regime económico-social, bem como critérios processuais, referentes à participação prévia numa organização de topo, que emite a
autorização de participação noutras organizações do mesmo grupo.
Referimos, anteriormente, os tratados que dão origem a organizações abertas e semi-abertas ou fechadas se bem que, de facto, nem as organizações de
vocação universal abrangem todos os estados, nem nenhuma organização seja
totalmente fechada. Apesar dos membros das organizações internacionais se-
118
As
) Comité de Reentantes perma-
unento interno,
lpetências espeles de participa~ estados candiencontram na
do constitutivo
;ão, ou seja, ad!xclusão. Os escia de onde reIção decorre do
!
.os de admissão
15 pelo tratado
!stados signatá) sobre o acesso
ldidatos, a um
IS
subordinam-
los mem~ixar uma
nente - e
dO-531).
1fáfica, de regicritérios~roces-
que emite a
upo.
mizações aberrganizações de
rganização seja
~rnacionais se10,
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
rem normalmente estados, um "conceito funcional de membro compatível"
com as finalidades específicas da organização pode ser aplicado, facultando a
outras entidades a sua admissão como membros, ou a sua participação de
acordo com o estatuto de observador, membro associado, ou outro.
Em qualquer destes casos, os tratados fixam as condições e os critérios de
relacionamento com outros estados, outras organizações internacionais e outrOS sujeitos de direito público e privado nacional e internacional, que possam
vir a candidatar-se e a adquirir o estatuto de membros de pleno direito, ou a
usufruir de outro estatuto especial de relacionamento com a organização, designadamente, o estatuto de observadores, ou de membros "associados", segundo estatutos diversificados e, geralmente, sem direito de voto. Encontramse entre estes casos, outras organizações internacionais, como o caso da ONU
em relação à União Internacional de Telecomunicações (UIT) e à União Postal Universal (UPU), das ONG's nas suas relações com a ONU, dos movimentos de libertação reconhecidos, e de governos de territórios autónomos
não independentes como, por exemplo, a Autoridade Palestiniana.
Paul Reuter estabelece uma classificação dividida em três categorias, a partir de um critério de gradualidade das facilidades processuais de admissão ou
adesão. Em primeiro lugar, encontram-se as organizações cujos tratados constitutivos prevêem a adesão automática de novos membros após a manifestação
expressa da vontade do estado candidato. Em segundo lugar, encontram-se as
organizações que fixam processos e formalidades de entrada de novos membros, que "pode ser submetida a condições objectivas cuja existência deve ser
verificada antes de se admitirem os Estados como membros da organização".
Finalmente, num terceiro grupo, encontram-se as organizações que, para
além da exigência de verificação de condições objectivas, submetem ainda a
decisão a uma apreciação "discricionária" sobre a "oportunidade" de admissão
do candidato, designadamente, quando a subordinam a um "convite emanado da organização" (Reuter, s.d., 234).
Neste contexto, será conveniente notar que a atitude discricionária em relação à oportunidade de novas admissões decorre, com frequência, do carácter
eminentemente político das actividades da organização, bem como das eventuais necessidades de ajustamento estrututal interno, decorrentes da entrada
de um novo membro. Neste caso, entre outras questões de carácter logístico,
burocrático e administrativo, a entrada de um novo membro implica, necessariamente, a determinação das suas formas de participação na organização,
designadamente, em termos dos seus direitos, número de representantes, alteração dos cálculos das maiorias, etc. (Reuter, s.d., 235).
A perda da qualidade de membro constitui sempre um caso excepcional e
pode resultar de um acto unilateral do próprio estado, ou de uma decisão da
119
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
organização. No primeiro caso, verifica-se o exercício da liberdade soberana
que o estado mantém ao tornar-se membro de uma organização internacional. A retirada voluntária de um estado em relação a uma organização internacional, equivale à denúncia do tratado constitutivo da mesma organização,
sendo portanto apenas "limitada pelas regras sobre os direito dos tratados",
designadamente, pelos Art.Os 54.° e 56.° da Convenção de Viena de 1969
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 532).
No segundo caso, considerando o carácter de estabilidade inerente à própria organização, a perda da qualidade de membro resulta da expulsão ou exclusão, e representa a sanção mais grave que o estado pode sofrer por imposição da organização. Outras sanções materiais, como a suspensão temporária
de direitos e privilégios inerentes à qualidade de membro da participação na
organização ou em alguns dos seus órgãos implicando, eventualmente, a perda temporária da capacidade de exercício de direito de voto nos processos
decisionais, são mais comuns do que a explusão definitiva. Estas sanções destinam-se a aumentar a pressão sobre o estado considerado, no sentido de o
fazer alterar o seu comportmento "e a retardar o momento em que, pela expulsão, ele possa escapar a qualquer possibilidade de sanção efectiva" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999,533).
A Convenção de Viena de 1969 aborda esta última hipótese de forma implícita, referindo a "nulidade dos tratados" ou os "incidentes" decorrentes da
sua aplicação. Alguns tratados constitutivos nem sequer prevêem esta eventualidade, embora a maioria o refira expressamente, em termos de sanções inerentes à violações do tratado constitutivo.
"A expulsão de um Estado é então a sanção mais grave aplicada a um
Estado que viole certos princípios fundamentais da organização ou do
direito internacional geral" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 533).
No entanto, podem ocorrer situações excepcionais que conduzem à perda
da qualidade de membro. Excluindo a hipótese admissível do desaparecimento de um estado, designadamente, por renúncia à sua soberania, podem ocorrer duas situações: a referida iniciativa do próprio estado de abandonar voluntariamente a organização, ou a iniciativa da organização de impor uma sanção
ao estado convidando-o a retirar-se.
"Na realidade, as duas hipóteses encontram-se muitas vezes ligadas, especialmente no caso em que, em vez de excluir um Estado membro, ou
120
As
)erdade soberana
lação internaciorganização intersma organização,
to dos tratados",
! Viena de 1969
e inerente à próa expulsão ou ex)frer por imposi:nsão temporária
L participação na
ualmente, a perto nos processos
stas sanções desno sentido de o
~m que, pela exefectiva" (Dinh,
!se de forma im" decorrentes da
!em esta eventu; de sanções ine-
cada a um
lção ou do
33).
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
na impossibilidade de o poder fazer, a Organização o coloca numa situação tal que ele prefere deixar unilateralmente a Organização" (Reuter,
s.d., 235-236).
3.4. - Formas de Interacção Internacional
Referimos, anteriormente, que, no âmbito das suas competências normativas e operacionais internacionais, as organizações podem desempenhar
ções muito vastas, de natureza muito diversificada e decorrentes das suas características próprias, em termos de vocação, extensão, finalidades específicas
e relação com os demais actores das relações internacionais, designadamente,
com os seus estados membros. Estas competências decorrem do carácter
cional da respectiva personalidade jurídica internacional e são complementadas por outras formas de interacção internacional decorrentes do reconhecimento da organização por parte da comunidade internacional.
Neste contexto, enquanto sujeitos de direito internacional, as organizações
detêm um certo número de privilégios e imunidades internacionais que lhes
são atribuídas no sentido de permitirem o seu funcionamento de acordo com
as exigências mínimas necessárias de
nmnm-
"liberdade e segurança jurídica para os seus bens, sedes e outros estabelecimentos, para o seu pessoal e para os representantes dos Estados membros acreditados junto dessas organizações" (Brownlie, 1997,
712-713; ver, tb., Campos etal., 1999, 169-181),
designadamente, a "protecção funcional de agentes e seus familiares" (Brownlie,
1997,715), e que se reflectem nas suas formas de interacção internacional.
3.4.1. Os Actos Unilaterais das Organizações Internacionais
nduzem à perda
desaparecimen ia, podem ocor'andonar volunpor uma sanção
igadas, esembro, ou
No plano internacional, as competências operacionais das organizações
"reúnem todos os poderes de acção das organizações diferentes das que
promulgam normas: participação 'no terreno' em processos de resolução de diferendos; sanção coerciva; prestação de uma assistência económica, administrativa, humanitária, técnica ou militar, aos Estados;
representação diplomática (direito de legação, exercício da protecção
funcional da organização e dos seus agentes), controlo da regularidade
de operações eleitorais, etc." (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 548).
121
·
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Tal como em relação aos estados, também os actos unilaterais das organizações internacionais podem ser classificados em "autonormativos" e "heteronormativos". No primeiro caso, esses actos unilaterais decorrem dos poderes de
decisão necessários, que de forma implícita ou explícita, são estatutariamente
atribuídos às organizações no sentido de lhes permitir atingirem os objectivos
fixados no próprio documento constitutivo e que visam, ao mesmo tempo,
"garantir a continuidade do seu funcionamento e permitir a sua adaptação às alterações de circunstâncias ou de situações internacionais"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 337)
Quanto aos actos unilaterais "heteronormativos", principalmente as
organizações da constelação onusiana
"podem também criar directamente obrigações a cargo dos Estados
membros, mais excepcionalmente a cargo de outras organizações ou
dos indivíduos" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,339),
no sentido da optimização dos meios necessários a uma eficácia funcional
acrescida, em termos dos seus objectivos de unificação e de integração.
Trata-se, em ambos os casos, do exercício de um "direito de adoptar actos
obrigatórios" cujos efeitos são mais vastos e se fazem sentir de forma mais
consequente em relação ao seu "bom funcionamento e à eficácia dos processos, do que quando se trata de uma "participação efectiva da organização nas
relações internacionais" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,334-335).
Neste contexto, os órgãos as organizações internacionais, no exercício das
competências que lhes são próprias, podem adoptar resoluções, recomendações,
decisões, e declarações, bem como emitir pareceres consultivos, acordãos e sentenças,
que constituem actos unilaterais das organizações, de significado terminológico
algo ambíguo, e de efeitos muito diferenciados, cujo alcance nem sempre é definido pelos estatutos da organização, o que permite a atribuição de um "alcance variável" a esses actos, por parte dos referidos órgãos, tanto dos jurisdicionais
como dos não jurisdicionais (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,334-335).
A clarificação terminológica aqui adoptada, reflecte a proposta de definição de Michel Virally, elaborada em 1956, para caracterizar a recomendação, e
a partir da qual, Dinh, Daillier e Pellet identificam uma distinção operacional, que consideram "cómoda", apesar de reconhecerem as dificuldades da
respectiva aplicação. Neste contexto, os autores referidos começam por adoptar a definição de Virally, que considera a recomendação como uma
122
As
"resolução de um órgão internacional dirigida a um ou vários destinatários (e implicando) um convite à adopção de um determinado comportamento, acção ou abstenção, [acrescentando que] o termo 'decisão'
será reservado aos actos unilaterais obrigatórios e o termo 'resolução'
engloba as duas categorias precedentes [(recomendação e decisão)], visando portanto qualquer acto emanado de um órgão colectivo de uma
organização internacional" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,335 e n.s).
'ais das organiza)s" e "heteronordos poderes de
estatutariamente
em os objectivos
esmo tempo,
sua adap. ."
rnaClonalS
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
1
Acresce ainda, que a declaração pode também ser contida numa resolução.
As referidas dificuldades de aplicação derivam, entre outros aspectos, do
facto desta distinção partir do princípio de que o acto tem sempre
lmente as
"os mesmos efeitos em todos os seus elementos e em relação a todos os
destinatários, o que não se verifica necessariamente (... ). Além disso,
esta distinção abstrai dos comportamentos dos Estados, em especial
da sua aceitação expressa da resolução, que modifica os seus efeitos"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,335).
os Estados
izações ou
icácia funcional
ltegração.
:l.e adoptar actos
de forma mais
ácia dos procesorganização nas
Neste contexto, poderemos definir, no "sentido técnico", a decisão, como
"um acto unilateral 'com força obrigatória', isto é um acto emanado
de uma manifestação de vontade de uma organização, imputável portanto a esta, e que cria obrigações a cargo do seu ou dos seus destinatários (. .. )[constituindo,] efectivamente um acto jurídico internacional"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,336 e n.s).
35).
no exercício das
" recomendações,
rdãos e sentenças,
o terminológico
!m sempre é deo de um "alcanos jurisdicionais
Tal como referido, e enquanto actos unilaterais "autonormativos", as decisões podem respeitar a aspectos do funcionamento interno das organizações
ou à regulamentação das respectivas actividades "externas". Neste contexto, a
organização internacional
"pode comprometer-se, por actos unilaterais, a adoptar certos comportamentos face a Estados, a outras organizações ou mesmo, a pessoas
privadas, na execução da sua própria política" (Dinh, Daillier e Pellet,
1999,339).
:-335).
Josta de definirecomendação, e
inção operaciodificuldades da
~çam por adopuma
o
alcance e o campo de aplicação destas decisões são variáveis, verificandose que o poder de exercício da autoridade atribuído às organizações internacionais não tem encontrado
123
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
necessário prolongamento para o Estado de controlo do respeito dos
actos obrigatórios destas organizações. A sua aplicação depende ainda, no
essencial, da cooperação interestatal e das intervenções dos órgãos administrativos e jurisdicionais nacionais" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,341).
"O
No plano internacional,
"a aplicação das decisões das organizações depende em primeiro lugar
da validade e do alcance intrínseco das resoluções: estas questões são
reguladas quer pelo direito interno da organização (quanto à oponibilidade aos Estados membros) quer pelo direito internacional geral
(os Estados não membros da organização podem excepcionalmente ser
atingidos pelas suas decisões)" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,341).
Tal como referido, o termo resolução engloba as categorias de decisão e da
recomendação. Considerada a decisão como acto unilateral com "força obrigatórià'; a definição técnica de recomendação caracteriza-a como
"um acto que emana, em princípio, de um órgão intergovernamental e
que propõe aos seus destinatários um determinado comportamento"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,343).
Os seus destinatários principais são os estados membros ou não da organização, mas poderão ser também os próprios órgãos da organização, bem como
outras organizações internacionais ou ainda particulares ou empresas. Os domínios relativamente aos quais são emitidas, são muito diversificados respeitando, geralmente, às próprias finalidades reconhecidas da organização que as
emite. O seu alcance jurídico é também variável, caracterizando-se pela ausência de força ou de obrigação de cumprimento por parte dos destinatários
que, em consequência, não poderão ser considerados autores de qualquer infracção, no caso de não aceitarem a proposta contida na recomendação.
A sua importância e significado residem, no entanto, na força que exercem
sobre as opiniões da comunidade internacional relativamente à atitude de
aceitação ou de recusa dos estados, perante a proposta da recomendação. Neste
contexto, poderemos considerar que as recomendações, apesar da ausência de
força obrigatória, têm um "impacto político" por vezes fundamental, bem
como um "valor jurídico" que se traduz, pelo menos pela obrigatoriedade de
apreciação por parte dos estados. Com efeito, "o Estado membro é obrigado,
pelo menos a examinar a recomendação de boa fê' (Dinh, Daillier e Pellet,
1999,346). E, no caso de aceitação, considera-se que a recomendação
124
As
respeito dos
de ainda, no
irgãos admi1999,341).
meiro lugar
luestões são
to à oponicional geral
lalmente ser
9,341).
LS de decisão e da
·m "força obrigao
rnamental e
ortamento"
não da organizaação, bem como
:mpresas. Os dorsificados respeiganização que as
ando-se pela auios destinatários
; de qualquer inrnendação.
trça que exercem
l.te à atitude de
mendação. Neste
r da ausência de
l.damental, bem
rigatoriedade de
1bro é obrigado,
)aillier e Pellet,
zendação
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
"tem, pelo menos, valor permissivo e cria uma situação jurídica nova
quando os princípios formulados pela recomendação não coincidem
com as normas que regiam até então as relações interestatais" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999, 346).
Para além disso, as recomendações constituem elementos relevantes em termos de "contribuição para a elaboração do direito". Neste sentido, a sua
adopção tem-se traduzido por "uma contribuição cada vez mais sensível [para
a] ( ... ) formação de novas regras costumeiras" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,
344 e 347). Com carácter excepcional, e apesar de "permanecerem em si mesmas como actos não obrigatórios" algumas recomendações beneficiam de "efeitos jurídicos reforçados". Por outro lado, o alcance das recomendações é considerável, na medida em que as mesmas podem ser analisadas como
"actos-condições" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,350 e n.s).
Neste contexto, poderemos considerar que, por um lado, "a função das
recomendações depende da intenção expressa do órgão que as adopta"
(Dinh, Daillier e Pellet, 1999,347). A resolução que contém a recomendação
pode, no entanto, superar o carácter declaratório e "confirmativo" do direito consuetudinário e dos princípios obrigatórios expressos. Com efeito, para
além de um carácter instrumental, a resolução que contém uma declaração,
ou declarações, pode ter uma natureza e um alcance jurídico diferente, quando estas "acrescentarem algo ao conteúdo do direito positivo" importando,
nesse caso,
"determinar se os princípios formulados beneficiam de um alcance superior ao de uma recomendação" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,347).
Por outro lado, verifica-se que o papel das recomendações depende
"das circunstâncias e das modalidades da sua adopção: autoridade jurídica e política do órgão que as adopta, maioria alcançada por votação,
importância dos Estados que exprimem 'reservas' nesta ocasião, existência ou não de mecanismos de controlo de aplicação destas recomendações" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,348).
Finalmente, torna-se admissível considerar que a contribuição das recomendações parece mais acentuada relativamente aos
"domínios 'inexplorados' onde se trata de estabelecer alguns princípios
directores destinados sobretudo a impedir o aparecimento de uma prática
125
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
estatal baseada no egoísmo das soberanias, do que nos domínios em que
preexistem regras consuetudinárias" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,348).
3.4.2. O Exercício do Direito de Representação
O exercício do direito de representação diplomática, de missão ou de legação
representa, também, uma forma de interaçcáo internacional das organizações
internacionais. Neste sentido, e quando consagrado no instrumento constitutivo da organização, o direito de representação constitui uma das respectivas competências político-jurídicas, consistindo na capacidade de a organização internacional se fazer representar oficialmente junto dos estados membros ou de outras
organizações, através de funcionários internacionais formalmente designados
para o efeito e acreditados junto dos referidos estados e organizações.
3.4.3. O Exercício do Direito de Celebrar Tratados Internacionais
O direito de participar em convenções internacionais e de concluir tratados internacionais insere-se entre as competências normativas da organização,
através de sua consagração no instrumento constitutivo, ou da sua interpretação através do recurso à doutrina dos poderes implícitos (Brownlie, 1997,
711-712; ver, tb., Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 547). Incluem-se entre estes
instrumentos convencionais, os acordos de tutela da ONU, acordos entre a
ONU e as suas agências especializadas, acordos de sede com os estados anfitriões, e acordos de cooperação com outros estados e outras organizações internacionais.
A competência para a administração de territórios constitui uma das expressões de projecção dos acordos referidos, representando uma das áreas de
actuação potencial das organizações internacionais. Não se trata, no entanto,
de um exerccício directo de poderes de administração territorial e, apenas em
casos excepcionais, se verifica a constituição das chamadas "Altas Autoridades". Ou seja, quando as competências operacionais "exigem uma actividade
sobre um território e em relação a indivíduos", podem apresentar "uma certa
analogia com as funções desempenhadas pelos Estados em zonas sob a sua
jurisdição mas não sob a sua soberania". No entanto, diferem destas, na medida em que, por um lado, "não são sistemáticas" e, por outro lado, "devem
ter um fundamento expresso" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 548).
Com efeito, as competências relativas à administração territorial são estabelecidas por um tratado, através do qual é atribuída à organização a missão
de "controlar o exercício de competências territoriais por parte de certos Estados" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999,547), e que se referem aos territórios sob
126
As
lios em que
999,348).
são Ou de legação
das organizações
nento constitutirespectivas comanização internabros ou de outras
lente designados
zações.
ionais
e concluir tratai da organização,
a sua interpretaBrownlie, 1997,
~m-se entre estes
acordos entre a
os estados anfiorganizações intui uma das ex.ma das áreas de
ata, no entanto,
'ial e, apenas em
"Altas Autoridauma actividade
'ntar "uma certa
zonas sob a sua
1 destas, na mero lado, "devem
548).
ritorial são estalização a missão
: : de certos Estas territórios sob
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
tutela, sob mandato e aos territórios não autónomos. De facto, as competências territoriais das organizações não podem comparar-se às de um estado que
tem população e território.
"O título funcional que elas podem invocar não é o equivalente à soberania territorial; é no máximo o critério do campo de aplicação geográfico das suas competências. A sua situação é comparável à dos Estados quando lhes é reconhecido o direito de estenderem para além do
seu território a aplicação de algumas das suas regulamentações" (Dinh,
Daillier e Pellet, 1999,548-549).
Para além de estabelecerem uma relação entre a organização e o território,
estes ou outros acordos podem estabelecer também uma ligação com pessoas
físicas e morais, através de um vínculo de carácter administrativo ou contratual,
bem como de uma sujeição directa às normas institucionais internas, no caso
das organizações de integração. Podem ainda estabelecer uma articulação institucional com engenhos colocados ao serviço da organização, designadamente,
meios de transportes, engenhos espaciais ou outros, implicando as responsabilidades inerentes ao pavilhão ou à matrícula. Todas estas competências poderão
incluir acções que envolvam a utilização de forças armadas, bem como a prestação de assitência técnica muito diversificada, e de assistência humanitária.
Em todos estes casos a responsabilidade da organização decorre da sua personalidade jurídica. Da mesma forma que são titulares de direitos, as organizações internacionais, sendo detentoras de personalidade jurídica, são também
titulares das obrigações relacionadas com o seu exercício, designadamente, de
obrigações não contratuais, que adquirem expressão na
"responsabilidade internacional, que será comprometida em caso de
exercício irregular e prejudicial das suas competências" (Dinh, Daillier
e Pellet, 1999, 553).
No entanto, as circunstâncias determinam a natureza e a extensão da responsabilidade. No caso de operações de manurtenção de paz da ONU, a
responsabilidade financeira é determinada pelos acordos entre a organização e
os estados membros envolvidos na operação, e entre a organização e o estado
anfitrião. Na prática, a organização tem assumido a responsabilidade pelos
actos ilícitos praticados pelos seus agentes, mas não existem ainda regras jurídicas desenvolvidas nesta área podendo, no entanto, recorrer-se também à
responsabilidade colectiva dos estados membros (Brownlie, 1997, 716).
127
ELEMENTOS DE ANÁLISÊ DE POLÍTiCA ExrERNA
3.4.4. O Exercício do Direito de Reclamação Internacional
Através da sua personalidade jurídica e da interpretação do seu tratado
constitutivo, em termos de poderes implícitos, as organizações internacionais
têm a capacidade de recorrer às instâncias jurídicas internacionais, ou seja, aos
tribunais internacionais no sentido de "patrocinar reclamações internacionais", isto é, de
"apresentar reclamações tanto contra os Estados membros como contra
os Estados não membros por danos diretos causados à organização"
(Brownlie, 1997,714).
Enquanto sujeitos de direito, detentores de personalidade jurídica, as organizações internacionais deveriam ter direito de recurso a jurisdições internacionais,
relativamente a questões e em matérias que envolvam um interesse processual
suficiente, por parte da organização. Este direito, que o Estatuto do Tribunal
Internacional de Justiça limita aos estados, depende, no entanto, do estatuto do
tribunal em questão ou do acordo especial celebrado entre os estados envolvidos
e o tribunal relativamente ao contencioso em apreço. Por outro lado, algumas
organizações têm também acesso ao TI], nos termos da sua jurisdição consultiva.
3.4.5. A Resolução Pacífica de Conflitos Internacionais
Tal como anteriormente referido, a participação das organizações em
processos de resolução de conflitos internacionais, designadamente, através
dos bons-ofícios, da mediação e da conciliação, constitui uma das formas
decisivas de interacção internacional das organizações, que actuam neste
contexto, como facilitadores das interacções de relacionamento entre os estados envolvidos num processo contencioso, e como catalizadores da estabilidade internacional, proporcionando às partes em litígio, um quadro de
diálogo num contexto de diplomacia multilateral, e uma instância jurisdicional de negociação (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 547 e 737-738). Com
efeito, existem grandes organizações de vocação universal ou regional, cujo
"objectivo primário" é a resolução de conflitos entre os estados (Santos,
2009, Caps. VII e VIII).
"As organizações internacionais não introduzem inovações radicais nas
maneiras de solucionar os conflitos salvo duas reservas: por um lado,
devido ao seu carácter permanente, facilitam imenso o funcionamento
de todos os processos (... ) e, por outro lado, os obstáculos políticos
128
As
do seu tratado
s internacionais
lais, ou seja, aos
:ões internacio-
mo contra
~anização"
'ídica, as organis internacionais,
:resse processual
lto do Tribunal
" do estatuto do
'ados envolvidos
o lado, algumas
lição consultiva,
'ganizações em
lmente, através
ma das formas
! actuam neste
1to entre os esfores da estabium quadro de
stância jurisdi'37-738), Com
L regional, cujo
;tados (Santos,
ldicais nas
um lado,
Jnamento
; políticos
ORGANIZAÇÓES INTERNACIONAIS
que se levantam perante o desenvolvimento do papel das organizações,
obrigam estas a recorrer a meios que servem principalmente de pressões
políticas e que recorrem em muito pequena escala às obrigações jurídicas" (Reuter, s,d" 249),
Perante os conflitos políticos entre os estados, as organizações internacionais podem conseguir consensos, originar pressões internacionais, induzir
compromissos, realizar inquéritos, interditar o recurso à violência e, eventualmente, separar, no terreno, os elementos combatentes das partes litigantes,
sujeitando-os à fiscalização de movimentos de tropas, à verificação do respeito
por normas e regras adoptadas, bem como de compromissos transitórios assumidos sobre comportamentos pacíficos e sobre áreas controversas, enquanto
decorrem as negociações entre as partes, que podem ser mediadas e facilitadas
através dos recursos a meios humanos e materiais da própria organização.
Para além dos conflitos interestatais, as organizações internacionais intervêm também na resolução de outros tipos de conflitos, designadamente, os
que decorrem da sua própria existência, e que são, geralmente, conflitos de
jurisdição entre organizações universais ou entre estas e organizações regionais, conflitos de competências entre órgãos, e cuja resolução deverá ser considerada como um objectivo implícito, a par das finalidades específicas e próprias que se encontram expressas no seu tratado constitutivo.
Neste contexto, as organizações internacionais têm contribuído para a sistematização e intensificação da frequência do recurso a meios pacíficos de resolução de conflitos internacionais. Representam um instrumento de limitação, atenuação e resolução de conflitos internacionais de carácter
político-ideológico, político-estratégico, territorial, económico ou outro, promovendo a estabilidade e desenvolvendo sinergias e processos de aprendizagem que se reflectirão, tanto na evolução da comunidade internacional, como
na evolução da eficácia dos processos de resolução pacífica de conflitos (Santos, 2009, Caps. VII e VIII).
3.4.6. As Acções de Estabilização do Ambiente Relacional
Marcel Mede enumera as expressões da capacidade de influência exercida
pelas organizações internacionais sobre o ambiente relacional referindo, em primeiro lugar, a sua função de "oferecer aos Estados um quadro pré-estabelecido
e permanente de diálogo", no qual, estes podem evitar, atenuar ou mesmo resolver os seus diferendos responsabilizando, por vezes, a própria organização
pelo fracasso dessas tentativas, no sentido de "salvarem a face" perante os adversários e perante a comunidade internacional e as opiniões públicas (Mede,
129
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
1982,351). Ao mesmo tempo, o processo de aprendizagem decorrente da prática dos contactos permanente e do diálogo estruturado e institucionalmente
enquadrado no sentido da cooperação internacional, evidencia as potencialidades da "diplomacia multilateral", colectiva ou de conferência, no plano da preservação dos equilíbrios ou das capacidades de influência, revelando novas áreas,
possibilidades e canais de comunicação (Santos, 2009, Caps. VII e VIII).
Uma segunda função desempenhada pelas as organizações internacionais é
a da validação de situações de facto através da legitimação. Com feito, as organizações internacionais
"intervêm na medida das circunstâncias para validar situações de facto e
conferir-lhes uma legitimidade que as coloca, muito frequentemente, ao
abrigo de ataques provenientes de outros actores" (Mede, 1982,351).
No mesmo sentido, podemos considerar a legitimação decorrente da admissão ou da exclusão de um membro, e "a validação dos poderes apresentados pelas delegações". De facto,
"a admissão de um membro confere a um estado uma legitimidade que
obriga os seus adversários a medirem as suas críticas e a conter a sua
agressividade" (Mede, 1982, 351),
da mesma forma que a recusa ou a sujeição de uma admissão a processos morosos e detalhados de negociação, produzem efeitos em sentido contrário. No
entanto, trata-se de uma "arma de dois gumes" pois, no caso de expulsão, a
organização perde poderes, quer em termos de representatividade absoluta,
quer em termos de capacidade de exercício das suas competências sobre o estado considerado.
Uma terceira forma de acção das organizações internacionais, consiste no desempenho de funções que asseguram no plano das "intervenções operacionais",
para as quais dispõem de "um poder efectivo de decisão" e que, como anteriormente referido, se caracterizam por uma enorme diversidade em termos de áreas
e formas de actuação. A quarta função identificada por Marcel Mede, é a capacidade de informação, em termos de recolha, sistematização e tratamento de dados,
para além dos frequentes relatórios dos seus órgãos, missões, comités e grupos de
trabalho especializados. Toda esta documentação constitui um repositório de dados que se encontra ao serviço da comunidade internacional, permitindo um
melhor conhecimento mútuo de todos os actores envolvidos, representando, ao
mesmo tempo, um valioso conjunto de indicadores sobre a evolução da comunidade internacional nos mais diversos sectores e áreas de actividade.
130
As
ecorrente da prástitucionalmente
1 as potencialidano plano da premdo novas áreas,
flI e VIII).
internacionais é
1m feito, as orga-
s de facto e
:emente, ao
82,351).
~corrente da ad,deres apresenta-
ORGANIZAÇÓ ES I NT ERNACIONAIS
Finalmente, as organizações internacionais actuam como um "transformador", como um "redutor de tensão à escala internacional". Recorrendo à análise de Michel Virally, Mede reflecte sobre a organização internacional a partir
da perspectiva sistémica, considerando que a instituição gere as tensões e as
resistências entre os ambientes interno e externo que explicam, frequentemente, "as capacidades e os limites da influência" que as organizações exercem
sobre o plano dos relacionamentos internacionais (Mede, 1982, 351-353).
Neste contexto, o significado das maiorias sobrepõe-se, com frequência, à lógica da hierarquia das potências e, apesar do carácter declaratório e recomendatório das resoluções e do efeito não vinculativo das decisões dos seus órgãos
deliberativos, "a voz do número, que é também a dos mais deserdados" encontra, através das organizações internacionais, "a caução moral para projectos cuja implementação contribuiria para a redução dos desequilíbrios externos" (Mede, 1982,354).
Sem se pronunciar definitivamente sobre o estatuto de actor das organizações internacionais, Marcel Mede reconhece
lugar que a rede de organizações intergovernamentais ocupa actualmente no domínio das relações internacionais e a obrigação que os
Estados encontram de participar activamente no seu funcionamento,
se quiserem proteger os seus interesses e gerir a sua influência" (Mede,
1982,356).
"O
nidade que
)nter a sua
a processos molo contrário. No
J de expulsão, a
vidade absoluta,
ncias sobre o es;, consiste no dees operacionais",
, como anterior1 termos de áreas
.1erle, é a capacimento de dados,
nités e grupos de
~positório de dapermitindo um
:presentando, ao
lçãO da com uni.e.
Michel Virally considera que as organizações internacionais possuem com-
petências próprias, entre as quais se reconhecem, não apenas a capacidade de
"debater", mas também, as de "decidir" e de "agir" (Virally, 1972, 157 e segs.).
Neste contexto,
"pela sua mera existência e estrutura própria, que abre ou fecha certas possibilidades de acção, a organização internacional modifica as condições da
competição entre as forças que se exercem sobre ela (... ) [e] suscita, activa
ou passivamente, a actualização de forças latentes às quais fornece um meio
de expressão ou de influência que lhes faltava até aí (a opinião pública, por
exemplo), ou provoca mesmo o aparecimento de forças novas, que não
teriam conseguido existir fora dela" (Virally, 1972,26-27).
Com efeito,
"[a] intervenção das organizações internacionais tem hoje em dia um âmbito que dificilmente imaginaríamos no princípio do século, quer pelas
131
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
facUidades que oferece o seu quadro às negociações permanentes - para
prevenir conflitos de interesses e para apaziguá-los - quer pela vantagem
que lhe proporcionam tanto a sua relativa neutralidade nas lutas entre Estados quanto a sua posição de árbitro" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 738).
Clive Archer identifica as formas de interacção internacional das organizações através das funções, cujo desempenho reconhecido, contribui para a alteração evolutiva do ambiente relacional. Numa perspectiva sistémica, e retomando
Marcel Mede, o autor considera que as organizações necessitam de recursos pata
transformarem os "inputs" do sistema, em respostas ou "outputs", Essa função
transformadora, anteriormente referida, é o processo ou função de conversão,
que lhe permite adaptar-se no sentido da sua própria preservação, evidenciando,
através desse processo evolutivo, as suas capacidades próprias.
Neste sentido, Archer refere: 1. as funções de articulação e agregação
entre os actores do sistema internacional, de produção, implementação e
delegação de verificação, fiscalização e sancionamento de normas e regulamentos que permitem sistematizar os comportamentos introduzindo elementos de previsibilidade e aumentando o grau de legitimidade das expectativas, logo, estabilizando o ambiente relacional; 2. recrutamento de
participantes, atraindo mais membros da comunidade internacional perante
a demonstração do desempenho e das vantagens de participação; 3. a socialização institucional entre organizações, tanto intra-estatais como internacionais, produzindo lealdades individuais que reforçam a coesão do sistema
e optimizam a eficiência do seu funcionamento; 4. produção e divulgação
de informação muito diversificada; e, finalmente, 5. um conjunto de funções operacionais que evidenciam as capacidades das organizações em complementaridade, e por vezes em substituição, dos governos e dos estados
membros. Todas estas funções permitem perspectivar as organizações internacionais, simultaneamente, como "instrumentos, fóruns e actores" das relações internacionais (Archer, 1992, 159-177).
Neste contexto, torna-se admissível considerar as organizações internacionais como actores das relações internacionais, cujos instrumentos e competências próprias lhes permitem a projecção de uma influência específica
sobre o ambiente relacional. Essa influência evidencia-se através dos referidos efeitos de estabilização, de regulação, de enquadramento e ordenamento institucional dos relacionamentos, derivados das competências fixadas
nos seus tratados constitutivos, aos quais, os estados membros voluntariamente aderem, bem como de harmonização e integração da comunidade
internacional, em termos de expectativas, previsão de comportamentos e de
identificação de interesses partilhados, decorrentes do funcionamento da
132
As ORGANIZAÇÕES
entes - para
la vantagem
tas entre Es1999,738).
nal das organizaibui para a alteralica, e retomando
n de recursos pata
uts", Essa função
ção de conversão,
io, evidenciando,
ção e agregação
mplementação e
lOrmas e regulaltroduzindo eleidade das expececrutamento de
nacional perante
,ação; 3. a socias como interna)esão do sistema
;ão e divulgação
onjunto de funizações em com)s e dos estados
~anizações interactores" das reizações internaumentos e comlência específica
ravés dos referio e ordenamentetências fixadas
bros voluntariada comunidade
ortamentos e de
lcionamento da
INTERNACIONAIS
diplomacia multilateral verificada no seio das organizações internacionais.
Esses efeitos de estabilização traduzem-se também num aumento do grau de
previsibilidade dos comportamentos individuais dos estados, por força dos
direitos e das obrigações que a sua participação activa lhes confere ou impõe, como membros da organização, no contexto institucional da pessoa
colectiva de que fazem parte.
De facto, as organizações internacionais são consideradas elementos estabilizadores dos relacionamentos internacionais, na medida em que instituem,
desenvolvem e aplicam uma normatividade elaborada e colectivamente aceite
pelos estados membros, que se comprometem formalmante a respeitar o texto
fundador, implicando comportamentos determinados, permitindo um certo
grau de previsibilidade das acções, que se devem situar dentro dos parâmetros
estatutariamente fixados. Estes factos traduzem-se, em termos de relacionamento internaiconal, numa capacidade de actuação diferenciada em relação
aos estados, decorrente do peso específico resultante da expressão da vontade
colectiva.
As problemáticas muito diversificadas que as organizações internacionais
se propõem ajudar a resolver, nos planos regional ou mundial, de âmbito geral
ou sectorial, de acordo com as suas capacidades, objectivos próprios e finalidades constitutivas, traduzem-se progressivamente num processo de convergência globalizante, perante a inevitabilidade inequívoca da necessidade de
gestão integrada de interdependências de complexidade crescente e sectorialmente diversificada. Com efeito, o ritmo intenso do aumento numérico de
organizções internacionais, principalmente, desde o fim da 2. a Guerra Mundial, deve-se ao facto de essas instituições desempenharem
"uma função que não pode ser preenchida pelos estados ou grupos nacionais. Nos seus papéis, como instrumentos, fóruns e actores, [as organizações internacionais] desempenham funções que ajudam a manter o sistema político internacional em funcionamento" (Archer, 1992,
178).
Neste sentido, poderemos considerar que
"[o] direito internacional contemporâneo está fortemente marcado
pelo contributo normativo das organizações internacionais, universais
e regionais; não existe um domínio das relações sociais para o qual não
exista uma organização encarregada de propor regras de comportamento, de aproximar as legislações nacionais e de favorecer a conclusão de
tratados internacionais" (Dinh, Daillier e Pellet, 1999, 547).
133
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Neste contexto,
"[O] reordenamento da Comunidade Internacional, o reacender de
conflitos e a necessidade de repensar os esquemas tradicionais de contenção da força, a preservação do ambiente, a utilização racional e equitativa dos recursos naturais remanescentes, ou, em geral, a consciência
crescente de que há que definir com mais rigor e implementar mais
efectivamente o cumprimento de deveres de cooperação internacional,
tudo leva ao que se espera seja um crescente e positivo intervencionismo das Organizações Internacionais como factor de integração e
harmonia política, económica e social na Comunidade Internacional"
(Ribeiro e Saldanha, 1995, 13-14)
134
As ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS
LEITURAS COMPLEMENTARES
:acender de
laiS de conanal e equiconsciência
lentar mais
:ernacional,
ntervencio[1 tegraçãa e
ernacional"
- HURD, 1m, 2011, International Organizations: Politics,
Law, Practice, Carllbridge, U.K., Carllbridge University
Press.
- KARNS, Margaret, MINGST, Karen, 2009, International
Organizations: the Politics and Processes 01Global Governance, Boulder, CO., Lynne Rienner Publishers.
- PEASE, Kelly-Kate, 2011, International Organizations, 5th •
ed. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
___ , 2009, International Organizations: Perspectives on
Global Governance, 4th • ed., Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- REINALDA, Bob, VERBEEK, Bertjm, eds., 1998, Autonomous Policy Making by International Organizations, London md New York, N.Y., Routledge.
135
ELEMENTOS DE AN.ulSE DE POLÍTICA ExrERNA
WEBOGRAFIA
www.europa.eu
www.un.org
136
As ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ARCHER, Clive, 1992, International Organízations, 2 nd • ed., London, U.K.,
Roudedge.
- ARENAL, Celestino del, 1990, Introducción a las Relaciones Internacionales,
3. a ed., Madrid, Tecnos.
- BAYLIS, John, SMITH, Steve, eds., 2005, The Globalization ofWorld Politics. An Introduction to International Relations, 3 rd • ed., Oxford, U.K.,
Oxford University Press.
___ , eds., 2001, The Globalization ofWorld Politics. An Introduction to
International Relations, 2 nd • ed., Oxford, U.K., Oxford University Press.
___ , eds., 1997, The Globalization ofWorld Politics. An Introduction to
International Relations, Oxford, U.K., Oxford University Press.
- BROWNLIE, Ian, 1997, Princípios de Direito Internacional Público, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian.
- CAMPOS, João Mota de et ai., 1999, Organizações Internacionais, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian.
- DINH, Nguyen Quoc, DAILLIER, Patrick, PELLET, Alain, 1999, Direito
Internacional Público, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
- HINSLEY, F. H., 1963, Power and the Pursuit ofPeace. Theory and Practice
in the History ofRelations Between States, Cambridge, U.K., CUP.
- MACEDO, Jorge Borges de, 1987, História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas de Força, Lisboa, IDN, ed. Revista "Nação e Defesa".
- MACHADO, J. Baptista, 1995, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, Almedina.
- MARCH, James G., OLSEN, Johan P., 2005, "Elaborating on the New
Institutionalism", working paper n. o 11, ARENA, Centre for European
Studies, Oslo, Oslo University Press.
- MERLE, Marcel, 1982, Sociologie des Relations Internationales, 3eme. ed.,
Paris, Dalloz.
137
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
- MOREIRA, Adriano, 2002, Teoria das Relações Internacionais, 4. a ed.,
Coimbra, Almedina,
___ ,1985, "Instituição", in, Polis. Enciclopédia Verbo da Sociedade e do
Estado, Lisboa, Verbo, 1983-1987.
- PEREIRA, André Gonçalves, QUADROS, Fausto de, 1993, Manual de
Direito Internaicional Público, 3. a ed., Coimbra, Almedina.
- REUTER, Paul, s.d., Instituições Internacionais, Lisboa, Rolim.
- RIBEIRO, Manuel Almeida" FERRO, Mónica, 2004, A Organização das
Nações Unidas, Coimbra, Almedina.
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
___, 2007, Introdução à Teoria das Relações Internacionais, Lisboa,
ISCSP-UTL.
- THINES, G, LEMPEREUR, Agnes, dir. de, 1984, Dicionário Geral das
Ciências Humanas, Lisboa, Edições 70.
- VIRALLY, Michel, 1972, L'Organisation Mondiale, Paris, Armand Colin.
- WILLETTS, Peter, 2005, "Transnational Actors and International Organizations in Global Politics", in BAYLIS, John, SMITH, Steve, eds., 2005,
lhe Globalization o/ World Politics. An Introduction to International Relations, 3 rd • ed., Oxford, U.K., Oxford University Press, pp. 425-447.
___ , 2004, "What Is a Non-Governmental Organization?", in "Institutional and Infrastructure Resource Issues", ed. by Honorary 1heme Editors
Jarrod Wiener, Robert Schrier, in Encyclopaedia o/ Life Support Systems,
developed under the auspices of UNESCO, EoLSS publishers, Oxford,
U.K., http://www.eolss.net .• consultado em 12 de Fevereiro de 2007.
138
tcionais, 4. a ed.,
ta Sociedade e do
993, Manual de
a.
limo
Organização das
's Internacionais.
SCSP-UTL.
tcionais, Lisboa,
mário Geral das
\.rmand Colin.
tational Organi:eve, eds., 2005,
~ernational Rela-
425-447.
in "InstitutioTheme Editors
1",
5upport Systems,
lishers, Oxford,
ro de 2007.
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Objectivos do Capítulo
- Identificar a política externa enquanto política de relacionamento internacional e definir o seu significado enquanto política sectorial do estado.
- Descrever as características específicas da política externa,
diferenciando-a em relação às outras políticas sectoriais
do estado.
- Elaborar sobre o conceito de "interesse nacional", enquanto "conceito-chave" da política externa.
Síntese dos temas abordados
- Evolução das abordagens académicas ao estudo analítico
da política externa e seu significado de correspondência
com a evolução do ambiente relacional
- A definição e a caracterização da política externa na perspectiva politológica e na perspectiva internacionalista.
- A evolução objectiva do interesse nacional e as respectivas
consequências sobre os princípios subjacentes à elaboração e à implementação da política externa.
140
POLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
" 'National interest' is the key concept in foreign policy.
ln essence, it amounts to the sum o/ali the national values national in both meanings 01the word,
both pertaining to the nation and to the state. "
Joseph Frankel,
in International Refations,
(1969,36).
tica de relacioficado enquanolítica externa,
ticas sectoriais
nacional", en-
CAPÍTULO
IV
.a.
POLÍTICA EXTERNA E INTERESSE NACIONAL
itudo analítico
,rrespondência
eterna na persacionalista.
~ as respectivas
1tes à elabora-
4.1. - Identificação e Caracterizaçáo da Política Externa
4.1.1. O Significado da Política Externa
A Análise de Política Externa (APE) constitui, tal como referido, uma
área de estudo sub-disciplinar das RI, na medida em que pressupõe relações
interactivas entre os actores do sistema internacional. A sucessáo de "escolas" teóricas, perspectivas de abordagem e modelos analíticos, têm contribuído para evidenciar o carácter transdisciplinar da APE, acentuando a convergência metodológica objectiva entre as ciências sociais e a ciências
políticas, privilegiando-se a respectiva interacção sinérgica.
A área de estudo da APE caracteriza-se, na sua perspectiva clássica, por
uma abordagem centrada na especificidade do actor estado, enquanto entidade originadora das políticas e das acções cuja convergência conduz à noção de
política internacional. Essas acções projectam-se em termos de alterações dessa
mesma política, das políticas externas e internas dos outros estados, dos comportamentos relacionais dos outros actores, dos efeitos provocados sobre o
ambiente relacional e, eventualmente, sobre a própria estrutura sistémica dos
relacionamentos internacionais.
141
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Esta perspectiva encontra-se, no entanto, em processo de evolução dinâmica, em consequência das alterações verificadas tanto no ambiente interno ou
de formulação da política externa, como do ambiente externo ou de implementação das respectivas acções e estratégias. Com efeito, a percepção das
transformações evolutivas e das tendências verificadas no contexto de implementação, sobretudo através do aparecimento de novos actores e da identificação de novas problemáticas, ambos de natureza e relevância muito diversificadas, de novas lógicas de acção e de objectivos estratégicos frequentemente
conflituantes, pressupõe um processo de adaptação evolutiva dos estados, designadamente, dos aparelhos decisionais, dos instrumentos, das estratégias e
das formas da sua participação activa na definição e na gestão das estruturas
de enquadramento do ambiente relacional.
Com efeito, desde a década de 60, a sistematização dos conhecimentos teóricos e das problemáticas analíticas registou uma acentuada evolução e conheceu amplo desenvolvimento destacando-se, entre muitos outros trabalhos, a
obra de James N. Rosenau, International Politics and Foreign Policy (Rosenau,
1970). Alguns autores avançaram a ideia de que as relações internacionais não
assentavam em regras de direito ou em convenções de tipo contratual derivando
antes, de decisões saídas da área do político. Tomadas individual ou colectivamente, em função de objectivos formulados segundo critérios de prioridade de
interesses, essas decisões ignoram, de facto, e com acentuada frequência, o enquadramento jurídico que o direito estabelece e que os tratados estipulam.
Schwarzenberg e Macdougal admitem mesmo que, apesar de serem elaboradas em função de objectivos políticos, as decisões são por vezes tomadas fora da
própria área do político, isto é, "os decisores (... ) não são, necessariamente, os
suportes legais dos órgãos de soberania" (Moreira, 2002, 134) Esta teoria introduz a questão anteriormente referida, da "clandestinidade do estado", que se
insere numa perspectiva realista e mesmo, necessariamente, na perspectiva neorealista das RI.
A globalização progressiva do ambiente internacional, bem como o aumento
quantitativo e a diversificação qualitativa dos relacionamentos, vieram introduzir, exactamente a partir das teorias da decisão, questões válidas no debate de
fundo do estudo da APE. Trata-se, com efeito, de definir a área de estudo e de
análise da APE, partindo de perspectivas que, sob pena de limitarem a inteligibilidade dos desenvolvimentos, exigem um enfoque gradualmente mais alargado dos contextos decisionais e dos indivíduos ou grupos intervenientes nos processos de decisão e, sobretudo, uma diversidade de abordagem das interacções
estabelecidas entre os actores ou as entidades geradoras de poder. Esse alargamento permitirá estabelecer as complementaridades sinérgicas, os padrões comportamentais e as tipologias de convergência que resultam na decisão.
142
POLÍTICA ExrERNA E INTERESSE NACIONAL
,lução dinâmi'lte interno ou
I ou de implepercepção das
=:xto de imples e da identifimuito diversi'e quentemente
os estados, de15 estratégias e
das estruturas
ecimentos teólução e conhe:>s trabalhos, a
'llicy (Rosenau,
rnacionais não
ltUal derivando
Li ou colectiva=: prioridade de
:quência, o enestipulam.
serem elabora:>madas fora da
5sariamente, os
,ta teoria intro~stado " , que se
erspectiva neoImo o aumento
ieram introdus no debate de
de estudo e de
uem a inteligiIte mais alargalientes nos prodas interacções
er. Esse alargas padrões comcisão.
& articulações entre as áreas pública e privada das relações externas parecem constituir, mais do que uma tendência verificável, a característica dominante da matriz de desenvolvimento da política externa dos estados. Ao mesmo tempo, quer pela natureza própria dessas articulações, quer pela localização
diversificada das sedes das entidades geradoras de poder e com capacidade de
intervenção decisional, estabelece-se uma inequívoca aceleração do ritmo e
das sinergias processuais de "linkage" entre o ambiente doméstico de formulação e a área internacional de implementação da política externa.
O conjunto de questões levantadas em consequência desta evolução complexificante do ambiente, tem sido considerado por vários autores, no sentido
da formulação de propostas de abordagem analítica da política externa. T emse procurado, sobretudo, superar as limitações decorrentes das perspectivas
analíticas que, situando-se entre o contexto externo e o contexto interno do
estado, tendem a privilegiar uma das dimensões em detrimento da outra.
Neste sentido, Robert. D. Putnam, entre outros autores, propõe que se
parta da análise da negociação política internacional admitindo o princípio de
que esta se desenvolve simultaneamente em "dois níveis" ou "duas mesas",
uma no âmbito internacional, tanto no plano bilateral como no plano multilateral, e outra no contexto interno, doméstico, dominado pelo protagonismo
político dos indivíduos que intervêm na decisão ao nível da formulação da
política externa e que, em última análise, deverão gerir e integrar os resultados
do desenvolvimento e da aplicação dessa política, que adquire, assim, a expressão de um "jogo de dois níveis" ("tUJo-levei game") (Putnam, 1988).
À articulação efectiva entre as políticas doméstica e externa, por um lado,
e entre os ambientes interno e internacional, por outro, como ponto de partida desta perspectiva de abordagem, acresce, ainda, segundo aquele autor, uma
outra vantagem. Trata-se do reconhecimento da importância e da centralidade dos indivíduos directamente intervenientes nos processos negociais. Com
efeito, são os responsáveis políticos, os diplomatas e os negociadores que, no
plano internacional, estabelecem esse "linkage" entre as políticas interna e
externa determinando, em função de critérios que nem sempre correspondem, em exclusivo, aos princípios definidores dos interesses do estado que
representam, o grau de sucesso ou o fracasso da negociação. Existem, no entanto, outros "níveis de jogo" que se articulam reciprocamente e, tal como
referido, outros canais de contacto, designadamente, transgovernamentais,
transdepartamentais e transinstitucionais, oficiosos e privados, que diversificam a origem sectorial dos interesses envolvidos e aumentam a complexidade
dos aparelhos, das componentes, dos critérios e dos processos de decisão.
Todas as variáveis de identificação possível, inerentes à complexidade das
referidas articulações reflectem, pois, condicionantes circunstanciais gradati-
143
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
vas dos processos de elaboração e execução das políticas, num contexto globalizante caracterizado pela multiplicidade e diversidade dos actores, das formas
e dos factores de exercício de influência sobre o ambiente relacional, pelas
interdependências de complexidade crescente, bem como pelas capacidades
específicas de projecção de poder do estado no plano externo.
Deveremos acentuar, no entanto, que, independentemente da modalidade
de organização social e política do grupo, designadamente, sob a forma de estado, os indivíduos deverão ser sempre considerados como potenciais agentes de
mudança no plano analítico das RI incluindo, mas não estando limitados, aos
relacionamentos políticos. Neste contexto, verifica-se, em última análise, que a
acção social, independentemente das suas origens, motivações e causas, produz
sempre, mesmo quando não intencionalmente, efeitos potenciais, directos ou
indirectos sobre o plano dos relacionamentos políticos internacionais.
4.1.2. Identificação da Política Externa
Numa perspectiva teórica, a política externa pode ser definida como "o
conjunto das decisões e acções de um Estado em relação ao domínio externo"
(Magalhães, 1982, 19; Bessa, 2001,84). A expressão designa, geralmente,
"o conjunto de linhas de acção política desenvolvidas fora das fronteiras territoriais de um estado, e que têm como finalidade a defesa e a
realização dos seus interesses, através da concretização dos objectivos
definidos num programa de governo" (Santos, 2000, 93).
o exercício das competências da soberania externa que permitem ao estado
uma participação interventiva no plano dos relacionamentos internacionais, é
expresso através da respectiva implementação e do inerente desenvolvimento
das acções de política externa. Os resultados da verificação do desempenho
desse exercício permitem à comunidade internacional o reconhecimento do
estado soberano e a atribuição do respectivo estatuto.
A análise do conteúdo da expressão política externa implica a transcendência da perspectiva doméstica de observação. Ou seja, torna-se necessário superar a univocidade do "de dentro para fora", na medida em que a análise da
política externa promove a convergência dos contextos processuais decisivos,
de articulação relacional, interactiva e sinérgiça entre o estado e a sociedade
internacional, incluindo os actores não-estatais, constituindo, assim, uma
componente elementar da política internacional (Santos, 2000, 93).
Se, numa perspectiva interna, a política externa constitui uma política pública, inserindo-se no âmbito da política geral do estado, partilhando caracte144
POLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
mtexto globaes, das formas
acional, pelas
.s capacidades
la modalidade
forma de estaiais agentes de
limitados, aos
análise, que a
:ausas, produz
s, directos ou
nais.
lida como "o
ínio externo"
~ralmente,
fronteifesa e a
jectivos
:em ao estado
~rnacionais, é
~nvolvimento
desempenho
ecimento do
transcendên:essário supe. a análise da
ais decisivos,
~ a sociedade
assim, uma
93).
l política pútndo caracte-
rísticas comuns com as outras políticas sectoriais, designadamente, no plano
da formulação, numa perspectiva alargada ao plano de implementação das
acções, ou seja, ao ambiente de relacionamento internacional, a política externa destaca-se relativamente à restantes políticas públicas, evidenciando um
conjunto de características específicas.
Ao mesmo tempo, o fenómeno evolutivo, transformacional e tendencialmente globalizante, que caracteriza o ambiente dos relacionamentos internacionais, permite reconhecer os processos identificados por Keohane e Nye no
modelo analítico da interdependência complexa (Santos, 2009, 82-83; Keohane e Nye, Jr., 1989,24-29). Neste contexto, registam-se dinâmicas relacionais a partir de fluxos interactivos, e produzem-se sinergias de intensidades e
efeitos diversificados e aleatórios sobre actores específicos. A alteração quantitativa e qualitativa dos centros de decisão, a proliferação dos canais de contacto e de redes de informação formal e informal, o surgimento de novos factores
de poder, a sua não-fungibilidade e as novas modalidades do seu exercício,
bem como a sua deslocação geográfica, produzem um contexto tendencialmente poliarquizado que exige alterações frequentes na orientação das políticas externas, designadamente, no plano das hierarquias de valores, da identificação dos interesses e da reformulação de prioridades objectivas, no sentido
de uma adaptação sustentada do actor ao seu ambiente relacional (Santos,
2000,94).
Neste sentido, Mark Webber e Michael Smith transcendem a perspectiva
estatocêntrica tradicional e elaboram uma definição descritiva de política externa, considerando-a como o conjunto de
"finalidades almejadas, valores estabelecidos, decisões tomadas e acções
empreendidas pelos estados, e pelos governos nacionais actuando em
seu nome, no contexto das relações externas de sociedades nacionais.
Constitui uma tentativa de conceber ("design"), gerir e controlar as relações externas das sociedades nacionais" (Webber, Smith et ali., 2002,
2).
Neste contexto,
"[a] convergência interactiva verificada entre algumas das características
específicas da política externa, e as características do ambiente internacional referido, acentua a problemática da exclusividade, ou da relevância prevalecente, do critério metodológico instrumental aplicado à
análise do processo político subjacente" (Santos, 2000, 94).
145
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Independentemente das dimensões ou da potencialidade do actor estado
em termos da sua capacidade de projecção de poder no ambiente externo,
parece tornar-se admissível considerar que a política externa de qualquer estado tem como finalidade geral a tentativa de moldagem de um ambiente externo favorável à realização dos respectivos interesses, pelo exercício da influência e através de capacidades diversificadas. Na sua interacção com os outros
estados, a sua finalidade específica é, pois, a gestão de um status quo relacional
determinado, que pressupõe acções de adaptação sistémico-normativa, e em
cujo contexto, o estado procura alterar a atitude e o comportamento dos outros estados, no sentido de favorecer as hipóteses de concretização dos seus
objectivos de política externa, e de aumentar as suas capacidades de realização
dos interesses nacionais.
4.1.3. Caracterização da Política Externa
Num ambiente relacional tendencialmente globalizado, a política externa
não se limita às relações formais de estado a estado, tradicionalmente estabelecidas a partir dos respectivos ministérios dos negócios estrangeiros, mas que
actualmente se verificam também em dimensões transgovernamentais, transdepartamentais e transinstitucionais. Por outro lado, a progressiva transnacionalização dos relacionamentos evidencia o facto de que a política externa
constitui apenas uma das áreas em que se desenvolvem as relações externas do
estado. Reconhecendo estes factos, alguns autores estruturalistas acentuam,
no entanto, a sua relativa relevância, considerando que, no contexto estrutural, os estados e os governos são influenciados, em permanência, quer pela
intervenção de outros actores, quer pelas restrições impostas pela própria estrutura. Deveremos, por último assinalar a importância das relações pessoais
entre os decisores, dos aspectos psicológicos e de personalidade, inevitavelmente subjacentes às questões da tomada de decisão.
No entanto, a evidente pertinência operacional da noção, o enquadramento institucional verificável no contexto estrutural da organização interna dos
estados e do funcionamento do sistema internacional e, finalmente, a longa
"tradição intelectual" consolidada durante vários séculos de experiência na
condução dos negócios estrangeiros, justificam que numa primeira abordagem, partindo de uma perspectiva estática e unívoca, possamos considerar a
política externa no contexto da actividade política geral, como
"a parte da actividade estadual que está voltada para 'fora', quer dizer,
que trata, por oposição à política interna, dos problemas que se colocam para além das fronteiras" (Merle, 1964, 7).
146
POLÍTICA ExrERNA E I NTERESSE NACIONAL
do actor estado
mbiente externo,
de qualquer esta1 ambiente exter-dcio da influêno com os outros
':tis quo relacional
normativa, e em
tamento dos ou!tização dos seus
des de realização
!
política externa
lalmente estabeIgeiroS, mas que
amentais, trans;siva transnaciopolítica externa
rões externas do
istas acentuam,
mtexto estrutuncia, quer pela
pela própria esdações pessoais
ade, inevitavelenquadram enrão interna dos
mente, a longa
experiência na
imeira aborda)S considerar a
ler dizer,
! se colo-
Porém, verificamos, de imediato, que esta "visão topográfica" do nosso
objecto de estudo não comporta em si mesma a característica intrinsecamente
dinâmica que os contactos decorrentes pressupõem, perante a realidade inevitável da existência dos outros estados que integram a comunidade internacional e que, em última análise, exigem a actividade relacional e justificam a
existência dessa "arte de dirigir as relações de um estado com os outros estados" (Leon NoeI, apudMerle, 1964,20), à qual chamamos política externa e
através de cuja prática se procura "obter um determinado resultado em relação a um outro estado ou grupo de estados" (Magalhães, 1982, 19).
Uma breve apreciação da estrutura político-administrativa de um aparelho
de estado e da "estratégia global de um país", cujo desenvolvimento pressupõe
e depende da "utilização óptima dos meios de que dispõe ou que pode conseguir o todo nacional para realizar os fins que se propõe" (Gomes, 1990,55),
permite verificar que a política externa se apresenta como uma actividade
comparável a qualquer outra acção de condução política exercida pelos governantes, no âmbito de uma funcionalidade orgânica tradicionalmente estabelecida. Mas, ao analisarmos sectorialmente as actividades do estado, torna-se
evidente o carácter particular da política externa que, num conceito operacional alargado, corresponde aos objectivos que "dizem respeito à inserção do
estado na vida internacional" (Gomes, 1990,55) e, num conceito estratégico
mais estrito, adquire expressão através do preenchimento das exigências específicas de preservação dos elementos constitutivos do estado, logo, da realização de interesses nacionais.
Assim, se, por um lado, a política externa se articula inevitavelmente com
as noções de estado e de governo, na medida em que envolve a elaboração de
planeamentos, gestão, monitorização e controlo das acções de implementação, por outro lado, também não pode dissociar-se nas noções de estratégia e
de acção, na medida em que envolve objectivos, valores e decisões (Webber,
Smith et ali., 2002, 3). O carácter evolutivo deste enquadramento conceptual,
a par das alterações do ambiente relacional, das conjunturas e das circunstâncias, permitem verificar que o "linkage" estabelecido entre política doméstica
ou interna e política externa, torna a sua distinção gradualmente mais complexa e a sua separação virtualmente impossível.
Sucede também, que, no plano analítico, a política externa não deve ser
considerada como uma política sectorial, mas antes como uma política resultante da convergência intersectorial das diversas políticas domésticas, que se
articulam em torno de um eixo que constitui o interesse nacional. Neste contexto, a política externa adquire expressão actuante e efectiva na projecção do
actor estado soberano no ambiente internacional, no sentido da realização dos
seus interesses nacionais em todos os sectores da sociedade, através da gestão
147
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
das relações com os outros actores, e da indução de alterações no respectivo
comportamento, bem como na estrutura relacional. Assim, através do exercício das suas competências de soberania externa, o estado projecta as suas capacidades intrínsecas enquanto actor soberano na sociedade internacional.
Existem, portanto, elementos e factores matriciais que conferem à política
externa um carácter específico e diferenciado em relação às restantes políticas
sectoriais do estado. Neste contexto, poderemos considerar como mais significativos, entre outros, os antecedentes históricos, as características sócio-culturais, a tradição, a cultura e as práticas institucionais, a articulação entre
política externa e defesa nacional, a especificidade do ambiente de condução
e implementação, os meios de acção e instrumentos próprios, as características específicas dos aparelhos de decisão e dos processos decisórios, bem como
as características particulares do exercício da avaliação de resultados.
Com efeito, são os próprios antecedentes históricos e as características sócio-culturais que permitem distinguir, em primeiro lugar, as componentes
elementares dessa especificidade, que se define e afirma como corolário, projectando no ambiente relacional um estilo próprio de condução da política
externa, fundamentado e sedimentado em "constantes e linhas de força" (Macedo, 1987), exercendo, assim, uma influência específica sobre a configuração
da política internacional. Vários factores contribuem para esta especificidade,
designadamente, a situação geográfica e a decorrente perspectiva geopolítica
que a comunidade adquire ao longo da história, sobre as relações com os estados mais próximos, bem como sobre os contextos regional e global.
A tradição, a cultura e as práticas institucionais evidenciam-se no plano da
formulação e da condução da política externa, ou seja, da convergência entre
as diversas funções de relação, inerentes à projecção externa e à própria permanência do estado, verificando-se também a especificidade dos procedimentos e das relações inter-institucionais, envolvendo órgãos diferenciados do
estado, bem como a sua interacção com os seus congéneres estrangeiros, nos
planos transgovernamental, transdepartamental e transinstitucional.
A articulação entre política de defesa nacional e política externa encontra a
sua origem na ligação intrínseca entre as necessidades básicas de defesa do
território, da segurança das populações e da preservação da estrutura política
perante ameaças externas, e a utilização da força armada no sentido da concretização dessas finalidades. A mesma articulação encontra-se ainda na génese
simultânea de dois factos decisivos. Por um lado, a legitimação tácita da autoridade e do exercício do poder pelo seu titular detentor, uma vez comprovada
a sua capacidade efectiva de responder consequentemente às ameaças externas
e, por outro lado, a convergência entre a função militar e a função política,
que justificam, em termos de decisão e de exercício, o "monopólio da violên-
148
POLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
's no respectivo
ravés do exercíecta as suas calternacional.
ferem à política
;tantes políticas
'mo mais signi;ticas sócio-cul·ticulação entre
te de condução
as característi~ios , bem como
.tados.
racterísticas sós componentes
corolário, proção da política
de força" (Maa configuração
especificidade,
tiva geopolítica
,es com os estalobal.
-se no plano da
vergência entre
. à própria per)s procedimenferenciados do
trangeiros, nos
:ional.
:!rna encontra a
.s de defesa do
trutura política
tido da concreinda na génese
tácita da autoez comprovada
neaças externas
unção política,
,ólio da violên-
cia legítima" do estado, e a consequente exclusividade reservada ao detentor
do poder, no plano das relações da comunidade com o mundo exterior.
Sobre a característica da especificidade do ambiente relacional de implementação ou condução, verifica-se que, enquanto as outras actividades do
estado se exercem em relação ao interior da colectividade politicamente organizada, o que implica a existência de um poder político soberano com capacidade de controlo efectivo sobre a sociedade, de uma ordem jurídica interna e
de um correspondente aparelho de imposição coerciva dessa mesma ordem, a
política externa difere essencialmente de todas as outras. De facto, no seu
ambiente de implementação próprio, não existe apenas um poder soberano, e
a ordem jurídica internacional possui capacidades coercivas muito limitadas.
Todos os estados da comunidade internacional são igualmente soberanos
mas, ao mesmo tempo, e tal como referido, a esta igualdade soberana de direito, corresponde uma desigualdade de facto, decorrente da distribuição diferenciada das capacidades de exercício do poder efectivo.
A evidência clara desta dualidade de perspectivas simultâneas sobre a mesma realidade objectiva, permite considerar que
"a verdadeira política externa é a forma específica, à altura das suas
forças, como cada estado se apresenta ao mundo, perante as outras potências, em condições de jogar os seus recursos, de modo a manter a
independência que o mesmo é dizer a capacidade colectiva" (Macedo,
1987,8).
E quando se trata de um país de dimensão reduzida, essa política
"só pode ser, na verdade, a administração inteligente das suas virtualidades estratégicas. Obriga àquilo a que podemos chamar a consciência
internacional de uma comunidade" (Macedo, 1987, xii, itálico acrescentado).
Acresce a este facto, a realidade complexa de uma multiplicidade de actores
não estatais que têm as suas capacidades próprias de intervenção no ambiente
relacional, e cujas acções influenciam e, eventualmente, condicionam as políticas externas dos estados.
Relativamente aos meios de condução e implementação das acções, a política externa caracteriza-se pelas capacidades próprias do estado soberano, designadamente, pelas competências, instrumentos próprios e técnicas específicas. As competências derivam das atribuições da soberania externa conferidas
pelo direito internacional, reconhecidas pelos outros estados, e consagrados
149
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
em acordos, tratados, convenções e documentos constitutivos das organizações internacionais. Os instrumentos consistem, entre outros, na força militar, na diplomacia, na negociação, nos meios pacíficos de resolução de conflitos internacionais, nos instrumentos das políticas económica e cultural
externas, a participação em coligações, alianças e missões internacionais, a
participação em organizações internacionais, etc. As técnicas referem-se às
formas e modalidades de utilização dos instrumentos, resultando em padrões
de interacção adaptados através da negociação e da diplomacia bilateral e multilateral ou colectiva, esta desenvolvida no âmbito da participação em organizações internacionais, de contactos transgovernamentais, transdepartamentais
e transinstitucionais, formais e informais, pressupondo formas de utilização
instrumental e de acção especificamente orientadas para o relacionamento
externo do estado, designadamente, a cooperação, a coordenação e a colaboração, desenvolvidas no contexto da condução da respectiva política externa,
envolvendo, frequentemente, actores transnacionais.
As características específicas dos aparelhos de decisão e dos processos decisórios, identificam-se pelos critérios de selecção estritos, e pelo reduzido número
das personalidades e entidades participantes, bem como pelos limites da transparência processual evidenciados pela confidencialidade e, frequentemente,
pelo secretismo que envolve as negociações, ou pela frequente evocação da "razão de estado". Estas características justificam-se pela exigência de flexibilidade,
capacidade de adaptação e de manobra ("steerini'), perante a inevitabilidade de
resposta efectiva às alterações circunstanciais, descontinuidades processuais e
mudanças ambientais que, em última análise, afectam os resultados inicialmente perspectivados. Neste contexto, a imperatividade de acompanhamento permanente da dinâmica evolutiva do ambiente externo, de flexibilidade adaptativa
das acções, e a contingência de uma temporalidade limitadora da utilidade da
concretização dos objectivos formulados, caracterizam também a especificidade
da política externa relativamente às restantes políticas sectoriais, em termos dos
atributos funcionais da soberania externa do estado.
Finalmente, as características particulares do exercício da avaliação de resultados, decorrem do facto de os antecedentes relacionais, por um lado, e a
evolução do ambiente relacional, por outro lado, influenciarem directamente
a política externa do estado, funcionando como factores condicionantes inevitáveis. Perante esta dinâmica relacional, a indução exógena da mudança
traduz-se no facto de as agendas de política externa estarem significativamente dependentes da evolução das circunstâncias da política internacional e, neste sentido, as linhas de acção planeadas e os objectivos inicialmente definidos,
poderem sofrer alterações de prioridade, ou serem mesmo completamente
abandonados e substituídos por outros.
150
POLÍTICA ExrERNA E INTERESSE NACIONAL
das organizana força miliLção de conflica e cultural
ernacionais, a
referem-se às
lo em padrões
ilateral e mulão em organi:!partamentais
de utilização
lacionamento
io e a colabolítica externa,
·cessos decisólzido número
lites da transquentemente,
lcação da "raflexibilidade,
itabilidade de
processuais e
IS inicialmenlamento perde adaptativa
Lutilidade da
!specificidade
n termos dos
uiação de reum lado, e a
iirectamente
onantes ineda mudança
ficativamen:ional e, neste definidos,
npletamente
Neste sentido, a avaliação das acções de política externa adquire coerência
própria, apenas quando inserida numa perspectiva analítica de longo prazo,
por forma a que os avanços e recuos circunstanciais sejam contextualizados
num plano mais vasto e abrangente de realização de um interesse nacional que
integra, necessariamente, a agenda e o objectivo político planeados por um
governo determinado, mas que os transcende, tanto na essencialidade, como
na dimensão espácio-temporal da sua concepção e concretização, no sentido
do interesse nacional.
Todas estas características e especificidades próprias evidenciam o carácter
diferenciado da política externa em relação às restantes políticas sectoriais do
estado. Mas o processo político caracteriza-se ainda pela imperatividade de
adaptação permanente das linhas de acção política e pela actualização dos
objectivos sectoriais, imposta pela dinâmica evolutiva do ambiente internacional. Com efeito, a evolução da política externa num ambiente relacional
em processo de mudança transformacional acelerada decorre, naturalmente,
da inevitabilidade das alterações processuais e conjunturais que os aparelhos
decisórios enfrentam e que se evidenciam no plano da tomada de decisão
através da inclusão de novas percepções, interpretações de comportamentos
interactivos e sinérgicos de actores diversificados, de novas perspectivas e expectativas, da identificação evolutiva de valores, recursos, interesses, objectivos, capacidades, factores de poder e de influência, conduzindo à definição de
novos critérios de decisão e, eventualmente, a alterações significativas da identidade colectiva.
Estas alterações projectam-se e adquirem expressão inequívoca, no plano e
da condução e da implementação da política externa, em termos de valores,
interesses, estratégias e objectivos, verificando-se a necessidade de abordagens
analíticas diferenciadas da política externa dos estados. As causas subjacentes
às alterações verificadas nas políticas externas dos estados e ao afastamento
tendencial da análise de política externa em relação às abordagens estatocêntricas tradicionais, podem resumir-se nos seguintes factores:
"[m]udanças no número, nos recursos e no estatuto tanto dos actores
estatais como não estatais, incluindo o aumento de 'políticas externas
não estatais'. Mudanças na natureza da segurança nacional e noutros objectivos e valores nacionais. Mudanças nos processos de 'policy
makini, incluindo a nova saliência de processos transdepartamentais e
transnacionais. Mudanças na natureza do poder e da influência, bem
como da efectividade de métodos específicos de implementação das
políticas" (Webber, Smith et ali., 2002, 20).
151
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Identificada a capacidade de exercício da influência como característica
operatória essencial da política externa e definida a especificidade ambiental
do seu espaço de desenvolvimento, facilmente se compreende o carácter também específico da sua formulação, identificação de objectivos, instrumentos
de execução e modos de aplicação.
4.2. - Sobre o Conceito de Interesse Nacional
A política externa é concretizada através de linhas de acção política originadas nos vários sectores governamentais dos estados, mas convergentes
numa lógica de realização do interesse nacional que, tal como referido,
constitui "o conceito chave em política externa" (Frankel, 1969, 36). No
entanto, o conteúdo operatório do conceito de interesse nacional é de difícil
enunciação. Com efeito, num ambiente relacional tendencialmente globalizado, verifica-se a relevância crescente de factores de indução exógena da
mudança, componentes actuantes e incontornáveis na formação do conceito de interesse nacional e na dinâmica evolutiva do respectivo conteúdo. A
sua relevância nominal e a influência efectiva por eles exercida sobre o referido processo de formulação das políticas variam no tempo e no espaço, alterando os resultados do binómio capacidades / vulnerabilidades referentes
a cada estado induzindo, em consequência, uma diversidade acentuada entre os conteúdos casuísticos e específicos, atribuídos ao conceito operatório
de interesse nacional.
De facto, superando a complexidade inerente aos conceitos de "soberania", "estado", "nação", "nacional" e "internacional" (Santos, 2007, 63-77;
ver, tb., Introdução, supra), o conceito de interesse nacional adquire expressão intrínseca através da convergência de outros conceitos cujos conteúdos
variam no tempo e no espaço, induzindo alterações nas modalidades de relacionamento entre os actores. Com efeito, a operacionalidade evolutiva de
conceitos como "necessidade", "interesse" e "valor", determina perspectivas, dinâmicas e sinergias interactivas próprias, referidas a circunstâncias,
conjunturas, recursos e enquadramentos relacionais específicos, aos quais, o
conceito de interesse nacional procura corresponder (Santos, 2007, 136140).
A génese da noção subjacente ao conceito de interesse nacional deriva de
práticas comuns de interacção social, no sentido da concretização de objectivos e da realização de interesses recíprocos, bem como de valores intrinsecamente ligados à formação da própria comunidade, traduzidos conjunturalmente em representações ou imagens concretas sobre os elementos e
recursos considerados mais ou menos positivos para a realização desses inte-
152
POLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
característica
lde ambiental
carácter taminstrumentos
resses, segundo os princípios de conduta adoptados. A complexidade evolutiva e a dinâmica operatória do respectivo conteúdo (Santos, 2001), deriva
do facto de
"[O] interesse nacional ( ... ) [ser] um núcleo conceptual que precisa de
ser decifrado, antes mesmo de avançar na exposição e debate que a ideia
tem provocado" (Bessa, 2001, 103),
) política oriconvergentes
Imo referido,
)69, 36). No
lal é de difícil
lente globali) exógena da
io do conceiconteúdo. A
sobre o refe10 espaço, alies referentes
centuada en:0 operatório
; de "sobera-
e antes de qualquer tentativa de análise objectiva das finalidades concretas
que, em cada momento e em cada situação contextual, o identificam. Pelo
menos desde Maquiavel e, mais tarde, com Richelieu, o "interesse nacional"
justifica, frequentemente, a alegação da "razão de estado" e confunde-se, não
raramente, com a "razão do príncipe" (Mandrou, 1980). Consolidando os
respectivos argumentos, será, pois, natural que o conceito de "interesse nacional" tenha sido articulado com a "razão de estado",
"que os Tratados de Westphalia consagraram como fundamento da
política dos grandes monarcas europeus e, por essa via, o que se acentuou foi a necessidade de garantir por todos os modos a segurança do
organismo estatal"( Bessa, 2001, 103; ver, tb., Moreira, 2004, 95-100;
2002, 122-128; Fernandes, 2003, 184-194; Kissinger, 1994).
No entanto, a evolução extensiva deste conteúdo inicial, torna-se progressivamente verificável.
W07,63-77;
quire expres)s conteúdos
idades de reevolutiva de
la perspecti'cunstâncias,
aos quais, o
2007, 136lal deriva de
ão de objecres in trinseIS conjuntuelementos e
desses inte-
"A noção de interesse nacional é baseada em valores da comunidade nacional que podem ser considerados como o produto da sua cultura e a
expressão do seu sentido de coesão, valores que definem para os homens
aquilo que eles crêem estar certo ou ser justo" (Frankel, 1969, 38).
Em democracia, e numa visão prospectiva sobre as capacidades de realização através da projecção externa do estado, o interesse nacional poderá ser
considerado como um "conjunto de prioridades partilhadas sobre as relações
com o resto do mundo" (Nye, Jr., 1999,23).
Neste sentido, a ideia e os valores subjacentes ao conceito de interesse nacional
"podem referir-se a um conjunto ideal de propósitos que uma nação
deve procurar concretizar na condução da sua política externa" (Seabury, apudHolsti, 1974, 130-131 e n.1).
153
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Esta correspondência entre a idealização e a concretização não significa, no
entanto, a transformação dos valores subjacentes à condução das acções, em
objectivos concretos. Verifica-se, também, que os sistemas de valores evoluem, não correspondem necessariamente a hierarquias claras, objectivas e fixas, e incluem, frequentemente, valores contraditórios, facto que levanta três
conjuntos de problemas.
Desde logo, a problemática dos critérios da selecção de valores a aplicar
a determinados casos concretos. Em segundo lugar, a dificuldade da hierarquização valorativa decorrente do diferencial da importância atribuída
numa determinada época a cada valor, por cada cultura ou comunidade
politicamente organizada, permitindo introduzir a questão da componente
ética da política externa. Por último, a toda esta problemática da origem e
da valoração do interesse nacional, que devem servir de referências orientadoras das finalidades em nome das quais a nação e o estado actuam, acresce
ainda a questão da permanência dessas finalidades, bem como a correspondente variável comportamental. Ambas se encontram circunstancialmente
condicionadas, quer pelas motivações sócio-psicológicas e alternâncias ideológicas e de regimes políticos que influenciam os aparelhos de decisão num
período determinado da vida nacional, quer pelas influências originadas no
ambiente externo de implementação das políticas, mas actuando internamente aos níveis da opinião pública, grupos de pressão, grupos de interesse,
instâncias de formulação/decisão e de implementação da política externa, e
dos próprios indivíduos especificamente envolvidos em cada fase do processo.
Numa abordagem ao conceito de interesse nacional, e em articulação
com o conceito de poder, Raymond Aron e Hans Morgenthau, elaboram
conceptualizações operacionais. Aron, no seu "Paix et Guerre entre les Nations", associa o poder a esse dado permanente que é a conflitualidade internacional, e à inevitabilidade da sua utilização na defesa dos interesses nacionais, essência da política externa, reconhecendo, no entanto, a
complexidade do conteúdo do conceito de interesse nacional (Aron, 1962,
97 -102 e 724-734)
Ao enumerar os "seis princípios do realismo político", no seu clássico "Politics Among Nations", Morgenthau utiliza o conceito de interesse com vários
conteúdos possíveis, identificando o interesse nacional com o próprio poder
("interest defined as power") e o objectivo vital da sobrevivência, como a prioridade absoluta da hierarquia dos interesses nacionais de qualquer estado. Só
quando a sobrevivência estiver assegurada é que os outros interesses adquirem
lógica e coerência próprias em termos das acções desenvolvidas no sentido da
respectiva concretização. Mas todos esses objectivos se resumem a uma "luta
154
PoLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
significa, no
acções, em
valores evobjectivas e fie levanta três
I
15
Jres a aplicar
de da hierar:ia atribuída
comunidade
componente
da origem e
lcias orientauam, acresce
a correspontancialmente
rnâncias idedecisão num
lriginadas no
ndo internade interesse,
ica externa, e
se do procesarticulação
elaboram
entre les Nallidade inter!resses nacioentanto, a
(Aron, 1962,
[l
lU,
clássico "Pore com vários
Iróprio poder
como a prioler estado. Só
ses adquirem
10 sentido da
1 a uma "luta
pelo poder" com a finalidade da manutenção do "status quo", do aumento do
espaço de domínio territorial ou de aumento de prestígio, que parecem corresponder "ao poder, à glória e à ideia", ptopostas por Aron, e que se evidenciam nas acções conducentes à preservação, ao aumento e à demonstração do
poder (Morgenthau, 1993,4-17). Com efeito, para Morgenthau os decisores
políticos "pensam e actuam em termos de interesse definido como poder"
(Morgenthau, 1993, 5),
Neste contexto, O autor admite que
"[o) conceito de interesse nacional não pressupõe um mundo naturalmente harmonioso e pacífico, nem a inevitabilidade da guerra como
consequência da procura, por todos os estados, do seu interesse próprio. Bem pelo contrário, assume que o conflito e a ameaça de guerra
permanentes, são minimizados pelo ajustamento contínuo de conflitos
de interesse, através da acção diplomática" (Morgenthau, apud Dougherty e Pfaltzgraff, Jr., 2001, 76. n. 45).
Resumindo, Morgenthau considera que, no plano político internacional,
os estados contam apenas com os instrumentos da diplomacia e da guerra
para a defesa e realização dos seus interesses nacionais.
Não significando, necessariamente a ausência de uma ética relacional ou a
rejeição de valores morais, a imperatividade política de assumir o primado do
interesse nacional como conceito-chave da política externa sobrepõe-se aos
compromissos internacionais assumidos, designadamente, de normas vinculativas do direito internacional, ou mesmo dos acordos políticos (Morgenthau, 1993, 217-267), situando-se assim, hierarquicamente, num plano superior aos valores da moral e da ética.
Esta perspectiva permitiria estabelecer uma lógica sequencial racionalizada, da política externa exclusivamente polarizada pela noção de interesse
nacional permanente. Sucede, porém, que os processos de tomada de decisão são influenciados em permanência por factores e motivações, conjunturas específicas interesses particulares de grupos de pressão, bem como de
outros actores e sub-actores estatais e transnacionais. No entanto, se, por
um lado, reconhecermos a existência de um mínimo denominador comum
de interesses nacionais, designadamente, a independência soberana, a integridade territorial, o bem estar das populações, a sobrevivência e o funcionamento regular e sustentado das instâncias políticas, por outro lado, será
pertinente admitir que a política externa, apesar de centrada no interesses
nacional, depende da interacção e da conjugação de factores muito diversificados.
155
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
De facto, cada estado tem uma perspectiva própria sobre o seu lugar no
mundo e sobre as relações com os outros estados e com o sistema internacional, permitindo interpretações diferenciadas da sua situação perante circunstâncias específicas ou em conjunturas determinadas. Consequentemente, os
decisores políticos enfrentam situações em relação a alternativas de decisão,
que podem parecer contraditórias relativamente a linhas de acção anteriormente seguidas, e mesmo contrárias aos próprios interesses nacionais. Ao
mesmo tempo, essas opções envolvem, frequentemente, custos em termos de
audiências, eleitorados e legitimidade interna, perante a prevalência conferida
a uma moral de responsabilidade sobre uma moral de convicção, que permite
substituir os princípios éticos e os valores morais, por uma realpolitik adapada
às circunstâncias.
Este dilema, traduz-se, frequentemente, em decisões reveladoras da alteração da hierarquia de interesses e das prioridades de concretização objectiva
Segundo Arnold Wolfers, o
"cálculo de interesse [dos decisores] é baseado numa hierarquia de valores, visto que as 'necessidades' em política internacional não pressionam decisões ou acções para além do âmbito do julgamento moral,
baseiam-se, elas próprias, em escolhas morais'" (Dougherty e Pfaltzgraff, Jr., 1981, 109 e n.s).
Neste contexto, torna-se admissível considerar que as pertenças sociais e
culturais, bem como as adesões ideológicas e valorativas, influenciam também
a tomada de decisões políticas, designadamente, em política externa.
Verifica-se, também, que, tanto a permanência do interesse como o conceito de poder, revelam uma relatividade essencial intrínseca. Os interesses,
mesmo quando duradoiros, são temporários, transitórios, e o poder varia na
sua composição elementar, dependendo do grau de efectividade instrumental
dos factores e, em última análise, da natureza da relação estabelecida. Relativamente ao carácter transitório dos interesses, Adriano Moreira considera que
"talvez deva admitir-se que a principal demonstração é que o chamado
interesse nacional é afinal variável no tempo, e que a diferença está no
tempo demorado e no tempo acelerado. Os interesses que se inscrevem no
primeiro é que parecem permanentes, mas todos variam de estrurura e
de definição" (Moreira, 2002, 235).
Com efeito, mesmo em relação à própria situação de paz,
156
POLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
seu lugar no
ma internacio~rante circunslentemente, os
ras de decisão,
lcção anteriornacionais. Ao
em termos de
:ncia conferida
o, que permite
)olitik adapada
a noção de interesse nacional é ( ... ) ilusória, subjectiva, evolutiva,
varia com a perspectiva das elites governantes em relação ao futuro
da comunidade política que governam. O interesse nacional pode ser
duradoiro mas não é permanente, facto que transforma a 'paz' num
objectivo circunstancial, aleatório, em termos de programa político, na
medida em que se insere numa agenda e numa estratégia determinadas
e, necessariamente, transitórias. O primado do interesse nacional permanece como [a finalidade ou] o objectivo absoluto, enquanto a paz se
transforma num objectivo instrumental, que poderá, eventualmente,
servir para a concretização do primeiro" (Santos, 2007, 44; ver, tb.,
Moreira, 2004, 95-100; 2002, 122-128).
loras da altera.ação objectiva
Estabelecida a relatividade temporal do conceito de interesse nacional, o
respectivo conteúdo poderá adquirir um carácter normativo, de princípio moral, ideológico, filosófico, etc., ou descritivo, que identifica "os propósitos que
a nação, através das suas chefias, parece prosseguir com persistência ao longo
do tempo" (Seabury, apudHolsti, 1974, 130-131).
No primeiro caso, o consenso é, em princípio, generalizado, referindo-se
aos valores e interesses que constituem o núcleo duro, ou o "cerne" do interesse nacional, isto é, àquelas
:>
lÍa de va) pressio:0 moral,
pfaltzgra-
enças sociais e
1ciam também
:terna.
e como o conOs interesses,
poder varia na
e instrumental
decida. Relatil considera que
chamado
:a está no
revem no
;trutura e
"finalidades pelas quais a maior parte das pessoas está disposta a fazer
os maiores sacrifícios (... )[e que] são geralmente expostos sob a forma
de princípios básicos de política externa tornando-se artigos de fé que a
sociedade aceita indiscutivelmente" (Holsti, 1974, 137 e n.).
No segundo caso, ou seja, no plano descritivo, esse consenso limita-se aos
interesses nacionais directamente relacionados com a segurança e a defesa da
comunidade. Todos os outros, variando no espaço e no tempo, suscitam as
mais diversificadas divergências internas e pressupõem uma hierarquização
variável e complexa.
Alguns autores preferem, por isso, distinguir entre os termos "interesses" e
"objectivos", centrando o debate sobre os interesses a "defender" ou os interesses a "sacrificar", se necessário (Northedge, 1968, 16), e referindo os objectivos em termos da "imagem" de "um futuro estado de coisas e de um futuro
conjunto de condições" que os governos esperam alcançar através da implementação e da condução das suas políticas externas (Holsti, 1974, 131).
Também neste plano, a selecção valorativa deriva de um "critério de relevância" baseado em "regras de interpretação" da realidade. O elemento de
subjectividade desta interpretação decorre da dimensão cognitiva e das com-
157
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
ponentes sócio-psicológicas presentes no processo de observação, percepção e
aquisição de informação que complementa e que, com alguma frequência,
influencia de forma determinante a componente de racionalidade no processo
de percepção e interpretação das situações. "Todos os países desenvolvem regras de interpretação de acordo com as suas culturas nacionais e tradições"
(Northedge, 1968, 41). O carácter vago das mesmas, resulta numa ausência
de articulação coerente entre elas dificultando e, por vezes, impossibilitando,
a sua identificação e alteração.
Deste modo,
"aquilo que descobrimos sobre o nosso ambiente é tão remoto relativamente à realidade, que em vez de falarmos de conhecimento deveríamos antes empregar o termo 'imagem'" (Northedge, 1968,41).
Esta percepção torna-se decisiva para a legitimação das acções políticas empreendidas em nome da realização do interesse nacional e para a concretização
dos objectivos que lhes estão associados. De facto, são estas "imagens", tacticamente tratadas, articuladas e veiculadas pelos diversos canais de informação, a
partir de estratégias desenvolvidas pelas instâncias políticas através dos "formadores de opinião", que condicionam as opiniões e os consequentes comportamentos dos eleitorados, e legitimam as atitudes e as decisões dos dirigentes políticos, supostamente assumidas em defesa dos interesses nacionais.
Por último, será conveniente acentuar que todo o interesse nacional, conducente a uma concretização objectiva, em termos de formulação da política
externa, deverá revelar coerência e consistência próprias estando, porém, e
para além disso, condicionado por um critério de classificação inevitável, fundamental e inerente à própria existência do estado em questão. Trata-se da
necessidade de aferição permanente do grau e dos modos de integração do
estado na comunidade internacional, tendo como referência a noção de papel,
ou "national role" (Holsti, 1974, 121-127). Ou seja,
"nenhum interesse nacional poderá justificar um objectivo de política
externa que não se relacione com a questão fundamental que é a de
saber e, posteriormente, de assumir, qual o papel que o estado deverá
desempenhar no mundo, no contexto da comunidade internacional"
(Santos, 2000, 91),
na qual se integra, dos actores com os quais se relaciona e da comunidade
global a que, inevitavelmente, pertence.
158
POLÍTICA ExTERNA E INTERESSE NACIONAL
), percepção e
la frequência,
le no processo
senvolvem res e tradições"
uma ausência
)ossibilitando,
relativadevería).
; políticas emconcretização
gens", tacticainformação, a
;s dos "formates comportadirigentes pois.
lacionaI, conão da política
.do, porém, e
levitável, hm). Trata-se da
integração do
oção de papel,
LEITURAS COMPLEMENTARES:
- BREUNING, Marijke, 2007, Foreign Policy Analysis: A
Comparative Introduetion, Houndmills, Basingstoke,
Hampshire, U.K., PaIgrave Macmillan.
- EVANS, P. B., ]ACOBSON, H. K, PUTNAM, R. D.,
1993, Double-Edged Diplomacy. International Bargaining
and Domerstíe Politíes, Berkeley, CA., University of Cai ifornia Press.
- HILL, Christopher, 2003, The Changing Politíes 01 Foreign
Policy, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, U.K., PaIgrave Macmillan.
- SNYDER, Richard, BRUCK, H.W., SAPIN, Burton, HUDSON, VaIerie, 2002, Foreign Policy Decision-Making,
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, D.K., PaIgraveMacmillan.
política
e é a de
J deverá
acional"
comunidade
159
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
WEBOGRAFIA:
www.foreignpolicy.com
www.foreignaffairs.com
160
POLÍTICA ExTERNA E I NT ERESSE NACIONAL
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ARON, Raymond, 1962, Paix et Guerre entre les Nations, Paris, Éditions
Calmann-Levy.
- BESSA, António Marques, 2001, O Olhar de Leviathan. Uma Introdução à
Política Externa dos Estados Modernos, Lisboa, ISCSP-UTL.
- DOUGHERTY, James E., PFALTZGRAFF, JR., Robert L., 2003, Relações
Internacionais. As Teorias em Confronto, Lisboa, Gradiva.
_ _ _ , 2001, Contending lheories olInternational Relations. A Comprehensive Survey, 5 th • ed., New York, N.Y., Longman.
_ _ _ , 1981, Contending lheories olInternational Relations. A Comprehensive Survey, 2 nd • ed., New York, N.Y., Harper & Row.
- GOMES, G. Santa Clara, 1990, "A Política Externa e a Diplomacia numa
Estratégia Nacional", in Nação e Defesa, n056, Lisboa, Instituto da Defesa
Nacional, Out.-Dez., 1990.
- FERNANDES, João P. S. de Castro, 2003, "O Ultramar Português no
Apaziguamento Internacional", in Estratégia, voI. XIV, Lisboa, Instituto
Português da Conjuntura Estratégica, 2003, pp. 167-300;
- FRANKEL, Joseph, 1969, International Relations, 2 nd • ed., London, U.K.,
Oxford University Press.
- HOLSTI, K. J., 1995, International Politics. A Frame Workfor Analysis, 7 th •
ed., Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall International, Inc.
_ _ _ , 1974, International Politics. A Frame Work for Analysis, 2 nd • ed.,
Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall International, Inc.
- ISA, Internacional Studies Associacion, Foreign Policy Analysis, http://foreignpolicyanalysis.org/
- KEOHANE, Robert O ., NYE, JR., Joseph. S., 1989, Power and Interdependence, 2 nd • ed., Glenview, Ill., Scott, Foresman and Company.
- KISSINGER, Henry, 1994, Diplomacy, New York, N.Y., Simon and Schuster.
161
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
- MACEDO, Jorge Borges de, 1987, História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas de Força, Lisboa, IDN, ed. Revista Nação e Defesa.
- MAGALHÃES, José Calvet de, 1982, A Diplomacia Pura, Lisboa, Associação Portuguesa para o Estudo das Relações Internacionais.
- MANDROU, Robert, 1980, La Raison du Prince. L 'Europe Absolutiste,
1649-1775, Paris, Marabout.
- MERLE, Marcel, 1964, La Politique Étrangere, Paris, P.U.F.
- MOREIRA, Adriano, 2004, A Europa em Formação. A Crise do Atldntico, 4. a
ed., Lisboa, ISCSP-UTL.
_ _ _ ,2002, Teoria das Relações Internacionais, 4. a ed., Coimbra, Almedina.
- MORGENTHAU, Hans, 1993, Politics Among Nations. lhe Struggle for
Power and Peace, brief edition, NewYork, N.Y., McGraw-Hili.
___ , 1982, ln Defense 01the National Interest. A Criticai Examination 01
American Foreign Policy, 2nd • ed., New York, N.Y., University Press of
América.
- NINCIC, Miroslav, "lhe National Interest and its Interpretation", in lhe
Review olPolitics, voi. 61, n. o l, 1999, pp. 29-55.
- NORTHEDGE, F. S., ed., 1969, lhe Foreign Policies olthe Powers, New
York, N.Y., FrederickA. Praeger, Publishers.
- NYE, JR., Joseph S., 1999, "Redejining the National Interest", in Foreign
Affairs, voi. 78, n.°I, 1999.
- PUTNAM, Robert D., 1988, "Diplomacy and Domestic Politics: lhe Logic 01
Two-level Games", in, Internationalorganization, voI. 42, Summer, 1988,
pp. 427-60.
- RICE, Condoleezza, 2000, "Promoting the National Interesi', in Foreign
Affairs, voi. 49, n. O 1,2000
- ROSENAU, James N., 1970, International Politics and Foreign Policy, A
Reader in Research and lheory, New York, N.Y., The Free Press.
_ _ _ , ed., 1969, Linkage Politics: Essays on the Convergence
and International Systems, New York, N.Y., The Free Press.
01 National
___ , ed., 1967 DomesticSourcesolForeignPolicy, NewYork, N.Y., The Free
Press.
162
PoLÍTICA ExTERNA E INT ERESSE NACIONAL
(guesa. ConsPesa.
loa, Associa-
, Absolutiste,
___ , 1966, "Pre-1heories and 1heories 01Foreign Policy," in R. Barry FarreU, ed., 1966 Approaches to Comparative and International Politics, Evanston, m., Northwestern University Press.
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ ,2007, Introdução à Teoria das Relações Internacionais. Referências de
Enquadramento Teórico-Analítico, Lisboa, ISCSP-UTL.
4tlântico,4. a
a, Almedina.
, Struggle for
I.
amination 01
sity Press of
___ , 2001, A Humanidade e o seu Património. Reflexões Contextuais sobre
Conceptualidade Evolutiva e Dinâmica Operatória em Teoria das Relações
Internacionais, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ , 2000, "Reflexões sobre a Problemática da Avaliação de Resultados
em Política Externa", in Discursos. Estudos em Memória do Prof Doutor
Luís de Sá, Lisboa, Universidade Aberta, Dezembro de 2000, pp. 93-109.
-ion", in 1he
- SINGER, David, 1969, "1he Global System and its Sub-systems: A Development View", inJames. N. Rosenau, ed., 1969, Linkage Politics: Essays on the
Convergence 01 National and International Systems, New York, N.Y., 1he
Free Press, 1969, pp.21-43.
Dowers, New
- SPIRO, Herbert J., 1966. World Politics: 1he Global System, Homewood,
III., 1he Dorsey Press.
" in Foreign
- WEBBER, Mark, SMITH, Michael, et ai., 2002, Foreign Policy in a Transformed World, Edinburgh Gate, Harlow, U.K., Pearson Education / Prentice Hall.
. 1he Logic 01
nmer, 1988,
" in Foreign
ign Policy, A
iS •
. 01 National
.Y., 1he Free
163
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Objectivos do Capítulo
- Caracterizar o ambiente e os processos de elaboração e
formulação da política externa, bem como os agentes intervenientes nos respectivos processos.
- Classificar os objectivos da política externa, a partir do
conceito de "national role" e da conversão dos interesses
nacionais, segundo critérios de temporalidade, valor e benefício.
- Caracterizar o ambiente de implementação da política externa e as consequentes limitações à implementação das
acções e à condução das linhas de acção política.
Síntese dos temas abordados
- As características do ambiente de formulação da política
externa e identificação dos respectivos agentes
- Critérios e tipologias de classificação dos objectivos, acentuando as especificidades processuais dos pequenos estados.
- As características do ambiente de implementação da política externa e as formas adaptativas e diferenciadas da implementação das acções, aos enquadramenros relacionais.
164
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
':4 central relationship in the implementation offlreign policy
is that between the capacity to act and the capacity to get results. "
Webber, Smith et all.,
in Foreign Policy in a Transformed World,
(2002,80).
elaboração e
os agentes ina, a partir do
dos interesses
de, valor e beda política exmentação das
.ítica.
CAPÍTULO
V
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA
5.1. - O Ambiente de Formulação
5.1.1. Características do Ambiente Interno
ão da política
tes
jectivos, acenleque nos estaltação da polí1ciadas da imos relacionais.
O processo de formulação da política externa decorre no ambiente interno
ou doméstico, próprio do estado considerado. Neste contexto, e tal como
mencionado, a análise comparativa da política externa relativamente às outras
políticas governamentais, evidencia uma natureza específica cujas características verificáveis, superam o plano dos pressupostos teóricos. Apesar de, tal
como referido, a "razão de estado", frequentemente evocada, se confundir,
por vezes, com a "razão do príncipe" ou de traduzir o fenómeno da "clandestinidade do estado", em que os processos de decisão se desenvolvem à margem
das instituições políticas representativas, este processo de decisão decorre, estruturalmente, e em princípio, no âmbito institucional do estado e segundo
as normas constituintes da unidade política considerada.
No entanto, a legitimidade dos agentes legalmente mandatados para a formulação e implementação da política externa, não decorre, necessariamente,
da observância destas normas. Com efeito, o fundamento das mesmas e o
exercício da autoridade ou do poder legítimo baseado no conteúdo normativo, podem não corresponder entre si, nem ao princípio de conformidade lógico-formal que designaríamos por legalidade. Na perspectiva "weberiana",
nomeadamente, esse fundamento pode radicar num fenómeno carismático
165
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
ou no carácter tradicional de uma anterioridade de práticas consagradas e, não
necessariamente, numa racionalidade baseada no direito "que se impõe em
virtude da legalidade, isto é, na medida em que observa as regras jurídicas"
(Albuquerque, 1985).
Quer dizer que, se neste último caso existe concordância entre os factos e
o direito positivo, entendido como a regra de conduta ou a lei imposta pelo
estado, "a coincidência entre a legalidade e a legitimidade não é uma característica necessária do sistema político-jurídico" (Moreira, 1985; ver tb. idem,
1979, 22-29). Por outro lado, e por maioria de razão, se exclui a inevitabilidade da existência de qualquer componente democratizante ou de participação da sociedade, quer no processo de legitimação dos agentes, quer no processo de formulação ou nas acções de execução da política externa.
Sobre o conceito de legitimidade, Martim de Albuquerque refere que se
trata da
"conformidade com uma escala superior de valores, traduzida pelo sentimento geralmente difundido na comunidade (. .. ) [ou] como escreve
Sergio Cana, a legitimidade exprime 'o princípio da correspondência
existencial entre dois elementos essenciais do corpo social (o Poder e os
governantes) a respeito do bem comum'" (Albuquerque, 1985).
Partindo do princípio que os governantes detêm uma "legitimidade de título", a "legitimidade de exercício" do poder envolveria um debate mais alargado sobre "os fins do estado" e sobre o "sistema de crenças" ou as "ideologias" que os fundamentam e justificam. Considerando a legitimidade em
termos de valor, deveremos, no entanto, reconhecer, com Adriano Moreira,
que "a resposta à questão da legitimidade passa a variar no tempo e no espaço
para cada modelo político" (Albuquerque, 1985. Ver, tb. Santos, 2009, 112113).
Convém, portanto, acentuar que a capacidade de participação dos estados,
em termos de igualdade soberana de direito, na comunidade internacional
não decorre do processo de legitimação interna dos governantes, nem do grau
de participação das populações nesse processo, mas apenas do reconhecimento, pela comunidade internacional, do facto de que o estado em questão,
através do regime político instalado e dos respectivos detentores do poder,
tem a vontade política e a capacidade efectiva para assegurar o exercício das
competências decorrentes das atribuições da soberania externa, assumir os
seus deveres e obrigações, e respeitar os compromissos externamente assumidos. Apesar disso, verificamos hoje que, na maior parte dos países do mundo,
"os dirigentes políticos se reclamam de uma legitimidade democrática" (Mer-
166
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExrERNA
ISagradas e, não
e se impõe em
~gras jurídicas"
n tre os factos e
~i imposta pelo
é uma caracte;; ver tb. idem,
ui a inevitabililU de participas, quer no pro~rna.
e refere que se
pelo senescreve
londência
)oder e os
10
·5).
timidade de tÍmais alarou as "ideologitimidade em
.riano Moreira,
IpO e no espaço
:os, 2009, 112~bate
;ão dos estados,
e internacional
:s, nem do grau
reconhecimenlo em questão,
ores do poder,
o exercício das
na, assumir os
lmente assumiíses do mundo,
Jcrática" (Mer-
le, 1982,51), facto que, a verificar-se, implicaria a participação activa dos representantes das populações nos processos políticos considerados.
Sucede também, que cada governo recebe uma "herança" política necessariamente condicionante que terá de aferir no seu contexto próprio e que, em
relação ao ambiente internacional, terá de gerir de acordo com os recursos
disponíveis e à qual deverá dar continuidade de acordo com os objectivos
aprovados pelo órgão legislativo. Todo este processo de formulação interna
inclui, naturalmente, oposições, divergências de opinião e de perspectiva, fenómenos de conflitualidade potencial e efectiva nos planos intra e inter-institucional, bem como entre os vários sectores da sociedade, mais ou menos organizados em termos de forças de pressão e "lobbies" nacionais e transnacionais
de interesses específicos, com ligações e influência no plano externo, e com as
opiniões públicas interna e externa. Neste contexto, o tipo de regime político,
a estrutura institucional e administrativa, o relacionamento entre as elites decisórias e a população, a opinião pública, os grupos de interesse nacionais, as
pressões exercidas por actores exógenos e pelas circunstâncias externas e a dinâmica do binómio capacidades I vulnerabilidades constituem factores ambientais determinantes na formulação da política externa.
No caso dos pequenos estados, os comportamentos políticos ao nível da
própria formulação da política externa tendem a sofrer uma acentuada influência do ambiente externo que, com alguma frequência, se encontra subjacente à referida e controversa justificação da "razão de estado". Inversamente,
a evolução das questões políticas internas, justifica, por vezes, a utilização
táctica de processos de "diversão", polarizando as atenções dos eleitorados
sobre as problemáticas do ambiente externo através de uma "fuga para a frente", ou seja, da utilização do conflito internacional, ou da internacionalização
do conflito doméstico, para resolução de problemáticas internas dos regimes
e de promoção da coesão em torno de um objectivo considerado inevitável,
processo este a que Péricles, o "teórico da democracia" se referira já, no seu
célebre discurso aos atenienses sobre a guerra do Peloponeso (Moreira, 2002,
274; 1988). Ambos os casos ilustram exemplarmente a interacção entre o
ambiente interno, doméstico ou de formulação, e o ambiente externo, de
implementação e condução, situando-se na génese dos conceitos de "linkage
politics" e de "penetrated society", bem como da natureza tendencialmente indiferenciada dos ambientes e da especificidade da política externa.
O que parece verificar-se é que a noção de interesse nacional, situando a
sua génese e desenvolvimento na evolução da experiência intrínseca de formação da comunidade nacional, consubstanciada em referências valorativas adquiridas e consolidadas ao longo do processo, não encontra correspondência
essencial ou necessária ao nível da definição das orientações, da formulação
167
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
objectiva das políticas e da selecção das acções de execução que devem converter esse interesse ao plano das realizações concretas. Neste sentido, os interesses nacionais pressupõem que as políticas governamentais são formuladas no
sentido da respectiva concretização em termos de objectivos. No entanto, o
interesse nacional pode não se identificar com o interesse extensivo a toda
uma sociedade, e pode não ter correspondência com as decisões e com as acções desenvolvidas pelos governos no plano da política externa. Também nestes casos, a "~d
razao e estad"'fi
o e requentemente evocad a.
Assim, o ambiente actual de formulação da política externa caracteriza-se
pela dinâmica evolutiva da relação entre interesses, valores e objectivos. Registam-se alterações de percepção dos actores sobre os contextos internos e
externos, cuja interacção origina a identificação de novos interesses e a definição de novos objectivos, induzindo alterações das respectivas atitudes e
comportamentos, no sentido da gestão integrada das interdependências relacionais. As interacções entre os actores e sub-actores estatais, privados,
domésticos e internacionais, bem como as sinergias decorrentes das alterações e da natureza dos relacionamentos, entre o púbico e o privado, e o
"linkage" entre o nacional, o internacional e o global, determinam mudanças significativas na abordagem estatocêntrica da análise e na "visão topográfica" da política externa. O novo contexto sugere a inevitabilidade da
inclusão analítica de percepções, perspectivas e expectativas diferenciadas,
de novos actores, capacidades e factores de poder e de influência, de lógicas,
critérios e estratégias de acção decorrentes de mundivisões e posicionamentos diversificados.
5.1.2. Os Agentes Processuais
Presumindo-se, pois, como necessária e suficiente a capacidade política e o
poder de decisão dos agentes, independentemente da legitimação interna,
mas sobretudo dependente do reconhecimento externo enquanto dirigentes
políticos cujo estatuto legal lhes permite assumirem compromissos internacionais em nome do estado, em termos da implementação da política externa,
torna-se, contudo, inevitável considerarmos, por um lado, a influência do
tipo de regime político interno e, por outro lado, os modos de participação
efectiva de outros actores na formulação e implementação da política externa.
Quer dependa das decisões de um único indivíduo, quer se processe através dos órgãos institucionais que asseguram, em grau diferenciado, a representatividade das populações, quer se verifique através da acção directa dos indivíduos congregados em grupos de pressão mais ou menos organizados, do
aparelho estatal ou da esfera privada e da opinião pública, quer seja ainda o
168
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
levem converdo, os interesurmuladas no
'10 entanto, o
'ensivo a toda
s e com as acTambémnescaracteriza-se
bjectivos. Retos internos e
esses e a defivas atitudes e
,endências re'ais, privados,
tes das alteraprivado, e o
inam mudanl "visão topotabilidade da
diferenciadas,
:ia, de lógicas,
osicionamen-
de política e o
lação interna,
nto dirigentes
lÍssos interna,lítica externa,
influência do
e participação
,lítica externa.
processe atraIo, a represen'ecta dos indiganizados, do
T seja ainda o
resultado da decorrente interacção sinérgica, a análise dos modos e a avaliação
gradativa dessa participação, permitem, finalmente, reconhecer os efeitos da
resultante dinâmica interactiva e as respectivas consequências no plano da
formulação e da implementação da política externa.
Com efeito, a elaboração da política externa de um estado é um processo
dinâmico, evolutivo e de extrema complexidade. Nele intervêm, directa ou
indirectamente, um reduzido número de indivíduos e de grupos cujas decisões, são tomadas em nome da comunidade, estão, presumivelmente, de acordo com os seus interesses gerais, e os seus efeitos prolongam-se no tempo,
afectando, potencialmente, as gerações futuras.
N o entanto, outros actores e sub-actores domésticos e externos, governamentais e da sociedade civil, intervêm também, influenciando, inevitavelmente, essas decisões, através de modalidades, processos e graus de legitimação diferenciados. De facto, os vários órgãos de soberania, os governos, os
ministérios e os departamentos e outras entidades encarregados da execução
das diversas políticas sectoriais, tenderão a desenvolver contactos directos
no seu relacionamento externo, em reciprocidade com os seus congéneres
estrangeiros, retirando ao ministério da tutela das relações exteriores o exclusivo da condução dessas actividades. Neste contexto, a articulação entre
diplomacia e defesa nacional, ou entre diplomacia, economia e cultura, determinam, frequentemente, orientações específicas significativas para as linhas de acção da política externa. Estabelecem-se, assim, relacionamentos
interparlamentares, transgovernamentais ou transdepartamentais, bem
como interacções transnacionais derivadas do envolvimento de entidades
privadas, designadamente, empresas multinacionais, ONGs, grupos de interesse e forças de pressão diversificadas, nos processos de formulação da
política externa.
Se as instituições parlamentares nascentes em regimes constitucionais retiraram, tendencialmente, ao "monarca" o monopólio da formulação e da decisão em política externa (Webber, Smith et all., 2002, 62-67; ver tb., Keohane e Nye, Jr., 1974), verifica-se, actualmente, a par da diversidade dos
intervenientes potenciais referidos, um correspondente reforço dos poderes
do executivo, bem como uma tendência para a desvalorização progressiva da
intervenção do órgão legislativo no processo de elaboração da política externa.
Esta participação processual limita-se, geralmente, à discussão e aprovação do
programa de governo, e a uma monitorização a priori ou a posteriori dos efeitos da implementação da política externa, relativamente aos quais se verifica a
participação das oposições democráticas representadas nos parlamentos. Com
efeito,
169
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
"o acompanhamento da política externa pelos parlamentares é certamente uma das tarefas difíceis na área do relacionamento institucional
dos órgãos da soberania, porque a transparência e a reserva são valores
frequentemente difíceis de harmonizar" (Moreira, 1994, itálico acrescentado).
Este facto pode ser explicado por uma multiplicidade de factores causais presentes nos regimes democráticos ocidentais, entre eles,
"os regimes eleitorais, o sistema de partidos ou a personalização do
poder (... ), mas nada impede de inverter os termos do problema e de
nos perguntarmos se não será a extensão do privilégio do executivo a
sectores cada vez mais vastos cobertos pela política externa, que é responsável pela redução do poder parlamentar" (Merle, 1982, SI).
Sucede também, que as crescentes interdependências e o contínuo "linkage"
processual entre o ambientes interno de formulação e o ambiente internacional de implementação da política externa, reduzem a capacidade efectiva de
controlo das instituições parlamentares, limitadas pelo desfasamento temporal e pelo grau de informação condicionada pelos governos. Com efeito,
"[à] medida que os centros de decisão sobre a política externa e a segurança comum se internacionalizam, e são criados órgãos de gestão
transnacionais, a definição da corrente de dados entre os executivos
e os parlamentos, e em consequência a exposição à opinião crítica do
eleitorado, correm o risco de sofrer cortes e limitações cobertos pelo silêncio, criando práticas e costumes facilmente legitimados pelo simples
decurso do tempo (... ) [com o qual] se perdem também as competências" (Moreira, 1994).
A participação em organizações internacionais, em alianças e coligações,
bem como a integração e o regionalismo, evidenciam esta internacionalização
dos processos decisórios.
No entanto, este facto não significa, necessariamente, um retrocesso no processo de democratização da política externa. Com efeito, os verdadeiros sinais
de democratização dos negócios estrangeiros transcendem o âmbito institucional da estrutura do estado para se evidenciarem na intensificação acelerada das
transacções intersecto riais directas, e mesmo das relações transnacionais. Estas,
se, por um lado, escapam, pela sua natureza e características, ao controlo efectivo do estado, por outro lado, constituem objecto de atenção permanente por
170
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PoLÍTICA ExrERNA
certa~
donal
alores
acres~
causais pre~
ão do
a e de
tivo a
é res~
uo "linkage"
internacio~
efectiva de
nto tempo~
efeito,
:a
se~
gestão
utivos
ica do
elo si~
mples
Jetên~
parte dos responsáveis políticos que, frequentemente, as influenciam, no sentido de as potenciarem como meio instrumental de execução das políticas e das
acções, como indicadores de verificação e como critérios elementares de aferição
e reorientação das linhas de acção política.
Neste contexto, a política externa do estado, não apenas nas fases de formulação e de definição de objectivos mas, sobretudo, nas fases de implementação das acções e de verificação e avaliação de efeitos e resultados, passa a
fazer parte das questões de interesse directo dos indivíduos e das sociedades,
perante a percepção das consequências e dos efeitos sociais decorrentes das
formas de participação do estado na política internacional. A realização das
expectativas dos eleitorados e as promessas dos programas eleitorais, bem
como a percepção social sobre as formas de gestão e afirmação do "national
role", e sobre o "seu" lugar, enquanto comunidade nacional com características identitárias próprias, no contexto alargado da sociedade internacional e do
mundo, estão progressivamente dependentes da concretização de objectivos
específicos alcançados através da intervenção externa do estado.
A política externa, tradicionalmente considerada, sob uma perspectiva do~
méstica ou interna, como um âmbito de acção isolado ou "marginalizado" em
termos de opinião pública, deixou de constituir um foco de atenção exclusivo
de um "público atento", para se tornar um foco de atenção permanente e de
frequente acção concertada por parte de audiências nacionais e transnacionais
crescentes, organizadas em rede e potenciadas pelo acesso à informação e às
novas tecnologias da comunicação. Assim, a decisão em política externa terá
de incluir no respectivo processo de formulação, critérios de legitimação democrática que transcendem a simples "opinião pública". De facto, podemos
considerar que
coligações,
:ionalização
"a democratização da política externa no século XX não significa apenas
que a opinião pública é mais importante do que era antes de 1914, mas
que agora essa política tem tanto a ver com o melhoramento do nível de
vida das populações, como com os objectivos tradicionais das políticas
dos estados" (Northedge, 1969, 18).
esso no pro~
:leiros sinais
) institucio~
celerada das
)nais. Estas,
trolo efectilanente por
A evolução acelerada do contexto internacional, verificada desde 1989 e
durante a primeira década do século XXI, acentua esta tendência e alarga o
âmbito da participação da sociedade civil, em termos de exercício de influên~
cia sobre a elaboração e a gestão das agendas da política externa, bem como de
participação activa e consequente na apreciação crítica dos respectivos resultados e na acção sobre os responsáveis. Trata-se agora, não apenas da noção vaga
de uma "opinião pública", ainda que transnacional, mas de eleitores e contri-
171
·
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
buintes, dos quais depende a legitimação política dos governos e das administrações (Santos, 2009a, 99-100).
Esta alteração de abrangência sectorial implica a revisão da hierarquia de
interesses, perante a inerente diversificação de objectivos no plano da formulação das políticas, bem como o estabelecimento de prioridades quanto à execução das acções, o que pressupõe o exercício de opções baseadas em enquadramentos conjunturais políticos, económicos e sociais específicos. A formulação
da política externa pressupõe, por consequência, uma observação atenta, de
acompanhamento e monitorização permanente dos processos de mudança acelerada da realidade internacional, com vista à aferição e à reorientação frequente
da hierarquia das prioridades, optimizadora das potencialidades do estado, e
exigida pela desvalorização temporalmente diferenciada dos objectivos, perante
a evolução diacrónica dos processos políticos internacionais. Com efeito,
"a improvisação, a adaptabilidade, a capacidade de aproveitamento de
vantagens circunstanciais transitórias ... [são fundamentais, e] o preço
da eficácia em política externa é a vigilância permanente dos processos
de evolução em constante desenvolvimento na política mundial" (Northedge, 1969, 10-11).
5.2. - A Definição dos Objectivos
Identificados os interesses nacionais e considerados os múltiplos factores
condicionantes envolvidos, a elaboração da política externa pressupõe uma
consequente conversão em objectivos definidos e em lógicas e estratégias que
permitirão concretizá-los, através da implementação ou condução, ou seja, da
execução das acções.
A definição dos objectivos e a elaboração das estratégias resultam das finalidades e dos interesses identificados, que a comunidade politicamente organizada procura alcançar e realizar através da política externa, e podem resumir-se no seguinte: protegr os cidadãos e os seus interesses no estrangeiro;
promover os valores e a identidade nacionais; preservar o status quo territorial,
social e político; aumentar as capacidades de exercício de influência activa
sobre os processos de decisão, bem como sobre a elaboração nas agendas dos
organismos e dos processos internacionais, através da inclusão e debate sobre
questões e temas do interesse nacional; manter a estabilidade da ordem internacional; proteger os recursos comuns e participar na definição de soluções
para as problemáticas globais (Hill, 2003, 44-46).
A percepção das administrações sobre as formas de se alcançarem estas finalidades e de realizarem os interesses identificados resulta, frequentemente,
172
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
das adminishierarquia de
) da formulaanto à execu:m enquadraI\. formulação
ão atenta, de
nudança aceção frequente
do estado, e
tivos, perante
I efeito,
ento de
o preço
'ocessos
" (Nor-
iplos factores
essupõe uma
itratégias que
o, ou seja, da
tam das finaunente orgapodem resu, estrangeiro;
uo territorial,
uência activa
: agendas dos
debate sobre
ordem inter) de soluções
uem estas filuentemente,
em perspectivas controversas dos governos sobre as limitações impostas pelo
ambiente à realização concreta das aspirações. De facto, essas decisões e acções
poderão não estar de acordo, e mesmo ser contrárias, às escolhas, expectativas
e perspectivas da totalidade, ou pelo menos de alguns sectores dos eleitorados
(Nincic, 1999, 42-44 e 55). Assim, também a problemática dos objectivos
confere à política externa um irrecusável grau de especificidade, na medida em
que se poderão registar contradições pontuais entre linhas de acção política, e
alterações nas prioridades, frequentemente derivadas da evolução das conjunturas internas e do contexto internacional.
Com efeito, sendo de complexa determinação, transitórios, na sua expressão mais polémica, geradores de divergências internas e, não raras vezes, de
incompatibilidades externas e sempre, inevitavelmente, condicionados pelo
binómio capacidades/vulnerabilidades, os objectivos em política externa
constituem a expressão possível da adaptação às realidades concretas, dos valores e dos ideais identificados como interesses. No entanto, essa correspondência entre, por um lado, objectivos e interesses, e, por outro lado, ideais e
valores intrínsecos à comunidade nacional, nem sempre se verifica.
5.2.1. A Tipologia de Holsti
A definição de objectivos pressupõe um critério, ou conjunto de critérios
de selecção, baseados nas prioridades de realização, motivadas estas pela hierarquia de interesses directamente envolvidos. K. J. Holsti propõe uma classificação dos objectivos baseada na articulação interactiva entre três critérios,
designadamente, valor atribuído, elemento temporal e tipo de exigência, que
constituem os elementos da análise combinatória que permitem determinar,
também, o carácter fundamental ou permanente dos interesses envolvidos, ou
a sua relevância temporária ou circunstancial.
O valor atribuído refere-se à característica que determina a localização do
interesse numa escala hierárquica de prioridades objectivas. O elemento temporal refere-se à oportunidade da concretização do objectivo, que pode ser
desvalorizado parcial ou totalmente à medida que o tempo de realização útil
se reduz. Em última análise, é a temporalidade limitada de realização, expressa no médio ou longo prazo que confere pertinência ao objectivo. Ou seja, a
viabilidade ou o interesse contextualizado da concretização dos objectivos não
permanentes, pode depender do cumprimento da linha de acção política no
prazo previsto para a sua implementação. Finalmente, o tipo de exigência refere-se aos vários custos envolvidos na concretização do objectivo que permite a
realização do interesse, e que poderá ser considerado numa perspectiva racionalizada através do binómio custo / benefício.
173
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Holsti identifica, em primeiro lugar, os "'core' values and interests" que
poderemos traduzir por interesses nacionais permanentes ou duradoiros e inerentes à própria soberania, expressos nos objectivos correspondentes à preservação e defesa da integridade territorial, à protecção e defesa do bem-estar das
populações e ao funcionamento regular e sustentado das instituições da estrutura política (Holsti, 1974, 136 e segs.).
Os Objectivos de Médio Prazo
Em segundo lugar, identificam-se os objectivos de médio prazo, ("middlerange"). Considerando como fundamentais os objectivos inerentes aos interesses nacionais permanentes, isto é, aos interesses ligados à preservação da
comunidade e à própria existência do estado, logo, tacitamente aceites, e tomando como objectivos de longo prazo as aspirações virtuais da comunidade,
universalmente consagradas, vagamente definidas no tempo, evocadas segundo a conveniência estratégica e a táctica política, verificamos que são os objectivos de médio prazo que constituem o cerne da definição de objectivos em
política externa.
Trata-se de um processo que se, por um lado, gera controvérsia e polémica
entre governos e oposições, por outro lado, constitui um imperativo, no plano
da formulação da política externa, da definição de objectivos e em termos de
decisão sobre a implementação das linhas de acção política correspondentes à
respectiva concretização, por vezes, limitada no tempo tanto pela evolução contextual interna, como pela dinâmica evolutiva da conjuntura internacional.
Frequentemente, as respostas e as soluções encontradas para os objectivos
de médio prazo comprometem futuros desenvolvimentos em relação a outras
áreas de interesses, limitando capacidades, ou representando compromissos
que futuras administrações e gerações terão de gerir e cumprir. Essas respostas
e soluções constituem, no entanto, o resultado decisório da dinâmica institucional e da dialéctica desenvolvida entre as várias forças políticas e entre os
interesses públicos e privados, num momento ou numa situação conjuntural
determinada, condicionando os governos, também sujeitos à limitação temporal dos mandatos, às instâncias envolvidas e às características dos processos
decisórios.
Verifica-se, com frequência, que a polémica gerada em torno destes objectivos desvirtua e altera a perspectiva de análise que permite inseri-los entre os
objectivos de longo prazo. No entanto, e apesar das circunstâncias condicionantes, também os objectivos considerados de médio prazo se devem inserir nas
orientações políticas constantes das leis fundamentais, e decorrem do conceito
de papel, o "national role" anteriormente referido, e que o estado é suposto
174
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
nterests" que
ldoiros e ineItes à preserem-estar das
ões da estru-
w, ("middleltes aos inteeservação da
aceites, e to:omunidade,
cadas segunsão os objecbjectivos em
ia e polémica
.vo, no plano
m termos de
spondentes à
'volução connacional.
os objectivos
ação a outras
)mpromissos
ssas respostas
mica instituas e entre os
I conjuntural
nitação temlos processos
destes objeci-los entre os
ias condicio:m inserir nas
1 do conceito
do é suposto
desempenhar na comunidade internacional, de acordo com a perspectiva política adoptada. As orientações podem ser definidas como
"os padrões de atitudes características, acções e transacções governamentais e políticas significativas, que definem o alinhamento de um
país" (Barston, 1988,33).
Consideradas as capacidades efectivas, o conceito de papel deriva, por sua
vez, da perspectiva política e ideológica que anima a população, nomeadamente as elites ligadas aos processos de decisão e ao exercício de poder, e que
definem qualitativa e quantitativamente o nível de empenhamento, as formas
e o grau de participação do estado no contexto internacional.
Entre os objectivos de médio prazo, Holsti considera uma tipologia que
distingue essencialmente três áreas. A primeira dessas áreas, que "inclui os
esforços dos governos no sentido de satisfazer as exigências e as necessidades
públicas e privadas através de acções internacionais" (Holsti, 1974, 139. Ver,
tb., Hill 2003, 251-282), é geralmente justificada pela condicionante dos limitados recursos disponíveis, logo, pela inevitabilidade das interdependências. Se, em alguns casos, estes esforços podem significar a procura do aumento de crescimento económico e dos níveis de desenvolvimento do país, ou
seja, a concretização de interesses colectivos, noutros casos poderá significar a
protecção de interesses de alguns grupos de pressão ou actores e agentes económicos transnacionais, isto é, a realização de interesses privados e, não necessariamente, do interesse público ou dos interesses gerais da população.
Uma segunda área de objectivos de médio prazo compreende o propósito
de preencher o interesse nacional de aumento de prestígio do estado no contexto da sociedade internacional. Esta finalidade que, tradicionalmente, se
conseguia através das exibições da capacidade militar ou no âmbito do cerimonial diplomático, ou mesmo través da prestação de serviços internacionalmente relevantes como a mediação, os bons ofícios ou a participação em esforços multinacionais promovidos pelas organizações internacionais,
transcende, actualmente, o carácter demonstrativo do poder efectivo ou do
estatuto soberano. Com efeito, os esforços nesse sentido concentram-se, progressivamente, nos aspectos da capacidade científico-tecnológica e dos progressos na área do desenvolvimento económico e social, isto é, no exercício de
um "soft power" ou de um "smart power" que adquirem expressão através da
influência exercida pela atracção suscitada pela evidência das vantagens inerentes a certos comportamentos internacionais, ou pela demonstração activa
dos resultados atingidos a partir de desempenhos específicos, como sugestão
de identificação conducente a atitudes miméticas em relação a uma determi-
175
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
nada prática política. A imagem externa do estado, assente na credibilidade
demonstrada pela consistência dos posicionamentos e pela capacidade de liderança, e potenciada através do desenvolvimento da diplomacia pública, constituem esforços frequentemente conjugados e complementados pela adopção
nacional dos grandes princípios consagrados pela comunidade dos estados,
nomeadamente, nos textos constitutivos das organizações internacionais, e
incluem, entre outras, as áreas dos Direitos Humanos, da projecção cultural e
as intervenções humanitárias, mesmo por parte de entidades não governamentais.
Finalmente, uma terceira categoria compreende diversas formas de expansão
territorial, de exercício de poder hegemónico ou de imperialismo, frequentemente caracterizado por certas manifestações de neo-colonialismo (Holsti,
1974, 139-142). Estes objectivos de médio prazo têm por finalidade a realização
de interesses relacionados com pretensões de aumento de influência sobre a
comunidade internacional, que podem revestir formas diferenciadas de concretização, variando entre o acrescentamento territorial, por alegados motivos estratégicos, reivindicações étnicas, religiosas ou outras justificadoras de tendências separatistas ou irredentistas, imperativos de segurança, designadamente a
contenção do desenvolvimento de capacidades potenciais por parte de outro
estado, etc., até certas formas de hegemonia imperialista, concretizadas através
da ocupação e / ou do domínio directo ou indirecto de território estrangeiro,
controlo das respectivas populações e exploração dos recursos.
Os Objectivos de Longo Prazo
Os interesses expressos através dos objectivos de longo prazo (" long-range"), articulam frequentemente o conceito de "national role" com a perspectiva de um determinado estado sobre a forma que o contexto internacional
deverá revestir, através da adopção dos seus próprios valores e princípios matriciais, projectados sobre o sistema e a sociedade internacionais. Essa percepção do mundo e a missão que o estado se atribui de transformar, moldar ou
reconstruir a ordem internacional através de reorganizações territoriais, de
enquadramentos político-jurídicos baseados em valores e princípios matriciais
adquiridos ao longo de uma determinada vivência colectiva, sócio-histórica e
cultural própria, são geralmente contrariados pelos outros estados que seriam
envolvidos no processo, em detrimento dos seus valores e interesses próprios,
pela "nova ordem" idealizada, inevitavelmente contrária a uma visão multilateralista e liberalizante, da política externa.
No mundo contemporâneo, esses objectivos são conseguidos ao longo do
tempo, e estão dependentes das percepções comuns sobre interesses recípro-
176
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
credibilidade
cidade de lidepública, conss pela adopção
le dos estados,
ternacionais, e
cção cultural e
não governa-
1
Las de expansão
mo, frequentelismo (Holsti,
lde a realização
uência sobre a
idas de concrelos motivos esIras de tendênignadamente a
parte de outro
~tizadas através
rio estrangeiro,
LZO ("
long-ran-
1m a perspecti, internacional
princípios mas. Essa perceplar, moldar ou
territoriais, de
pios matriciais
lcio-histórica e
ios que seriam
esses próprios,
visão multila)s ao longo do
'resses recípro-
cos e partilhados, geradoras de comportamentos cooperativos, de consensos,
alinhamentos, alianças, associações e coligações induzidos por interdependências complexas projectando-se no regionalismo e através de formas diversificadas de organização dos "grandes espaços". A referida noção de "national role",
ou de papel, adquire expressões concretas e circunstancialmente adaptadas em
termos de objectivos e de linhas de acção política.
A protecção dos recursos comuns globais, as soluções para as grandes problemáticas, como a defesa os direitos humanos, dos direitos das minorias, as
questões demográficas, as migrações, a fome e a pobreza, o desarmamento e o
controlo do nuclear, o desenvolvimento sustentável, a protecção do ambiente,
as alterações climáticas, etc., constituem também interesses nacionais integradores de uma agenda de objectivos permanentes mas de prioridade variável e
dependentes, em termos de realização, das capacidades do estado.
Frequentemente, estes objectivos de longo prazo são perspectivados como
finalidades permanentes da política externa, não lhes sendo atribuído um período de concretização estritamente definido, ou acções especificamente planeadas, para além das previstas em termos da respectiva defesa através da participação em contextos multilaterais, designadamente, em conferências e
organizações internacionais. As suas linhas de acção política são desenvolvidas
em consonância com os interesses nacionais permanentes, em convergência
com a gestão quotidiana das relações externas e em articulação conjuntural e
circunstancial com as linhas de acção e com os objectivos de médio prazo. No
entanto, a inclusão específica dos objectivos de longo prazo nas agendas de
política externa e a sua defesa concreta, tanto no plano doméstico como no
plano internacional, contribuem para o aumento do prestígio internacional e
para a construção da imagem do estado (Holsti, 1974, 142-143).
5.2.2. A Tipologia de Wolfers
Aspirações e Objectivos
Arnold Wolfers refere-se à conversão dos interesses nacionais em objectivos
de política externa através de uma primeira distinção entre aspirações e objectivos
políticos genuínos, correspondendo, as primeiras, a objectivos de longo-prazo, e
os segundos, a objectivos concretos, de realização mais imediata. Neste sentido,
aquele autor elabora uma classificação baseada em critérios de interesse imediato, objectivos próprios da nação e próprios do "meio" ou ambiente externo, e
estabelece uma diferenciação operatória entre os interesses nacionais e interesses
indirectos, que correspondem à classificação de interesses colectivos e interesses
privados, de Holsti (Wolfers, apudHolsti 1974, 136 e n.6).
177
ELEMENTOS DE ANÁLISE DÊ POLÍTICA ExrERNA
Wolfers separa os objectivos concretos em dois grupos, designadamente, os
de posse e os ambientais. Os primeiros desenvolvem-se em relação aos interesses nacionais geralmente considerados como permanentes, nomeadamente, a
integridade territorial, a sobrevivência e o bem-estar dos cidadãos, o funcionamento normal das instituições políticas e a preservação da soberania nacional. Os segundos desenvolvem-se relativamente ao meio envolvente no sentido anteriormente referido de o afectarem de forma a torná-lo mais favorável
à condução da política externa, logo, à concretização dos interesses do estado.
Num outro registo, Wolfers refere ainda uma classificação de objectivos
divididos em três grupos, designadamente, os objectivos de expansão, de autopreservação e de auto-abnegação ou altruístas. Nos dois primeiros grupos poderemos identificar objectivos de posse, tais como independência nacional, sobrevivência física, integridade territorial, e objectivos ambientais, delineados para
afectarem o "meio" ou ambiente relacional para além das fronteiras do estado.
Por outro lado, os objectivos de auto-preservação podem incluir a eventual
concretização de objectivos de expansão que assumem formas diversificadas.
Ou seja, os objectivos de auto-preservação e de expansão correspondem às duas
categorias de objectivos concretos, designadamente, os de posse e os ambientais.
No terceiro grupo, reúnem-se objectivos respeitantes a temas globais da
agenda da comunidade internacional, tais como a solidariedade internacional,
a observância da normatividade internacional, a resolução pacífica de conflitos ou o estabelecimento da paz, objectivos estes que, incluindo, mas transcendendo o interesse nacional, não colidem com ele. Trata-se, pois, dos objectivos de longo-prazo que Wolfers identifica como aspirações.
Os "Comportamentos Diferenciados"
A diferenciação estabelecida entre os dois conjuntos anteriormente referidos, assenta numa base física, a fronteira territorial, evidenciando a permanência do estado como actor de referência. No entanto, a crescente interdependência determina não apenas a coexistência, mas a articulação interactiva
e sinérgica entre políticas, linhas de acção política e grupos de objectivos, originando sobreposições, duplicações e coincidências frequentes. Estes factos
evidenciam, por um lado, a convergência intersectorial das políticas domésticas tanto internamente como em relação ao exterior e, por outro lado, relevam a consistência e o aprofundamento crescente do "linkage" entre os planos
relacionais doméstico e internacional, dificultando o retorno às perspectivas
políticas de objectivos limitados.
Wolfers considera, assim, que as relações entre os estados se caracterizam
pelo que designa por "comportamentos diferenciados" mas simultâneos, entre
178
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
nadamente, os
;ão aos interesneadamente, a
iãos, o funciolberania naciovente no sentimais favorável
:sses do estado.
I de objectivos
ansáo, de autos grupos podeacional, sobrelelineados para
~iras do estado.
luir a eventual
diversificadas.
ondem às duas
os ambientais.
nas globais da
: internacional,
ífica de conflido, mas transpois, dos objec-
>rmente referimdo a permascente interdeção interactiva
Jbjectivos, ori:s. Estes factos
íticas doméstiItro lado, releentre os planos
às perspectivas
;e caracterizam
ultâneos, entre
"amizade" que pode suscitar formas diversificadas de "cooperação", e "inimizade", que poderemos considerar como decorrente de interesses conflituantes,
gerando formas diferenciadas de "competição", estando dependentes, em ambos os casos, dos seus objectivos (Dougherty e Plalyzgraff, Jr., 1981, 108111). Neste sentido, torna-se admissível considerar que, nas relações políticas
internacionais em situações de interdependência,
"os comportamentos de cooperação evidenciam complementaridade,
alternância diacrónica ou simultaneidade, mas verificam-se sempre em
paralelo com atitudes de competição registando-se, eventualmente, um
acréscimo de agressividade num contexto competitivo ( ... ). Os efeitos
recíprocos das situações de interdependência, para além de não serem
inevitavelmente benéficos para todos os actores envolvidos e de não
eliminarem os comportamentos comflituais, também não implicam,
necessariamente, atitudes de cooperação" (Santos, 2009, 78-79).
Através da negociação directa, formal ou informal fora do âmbito das relações diplomáticas e no contexto da transnacionalização progressiva dos relacionamentos internacionais, os estados participam nos processos que lhes permitirão o acesso a determinados recursos naturais, a concessões de exclusividade de
exploração, a posições preferenciais nos mercados, a tarifas especiais, vias de
comércio e linhas de crédito, a facilidades de implantação de empresas estrangeiras e transferências de capitais, etc., ou seja, que lhes permitirão concretizar
os objectivos definidos.
Deveremos, contudo, salientar o carácter estratégico de criação e consolidação de áreas de interesses ou de "esferas de influência", decorrentes da assimetria das interdependências, e que aquelas acções conjugadas podem revestir.
Com efeito, verifica-se, por um lado, um fenómeno de complementaridade
entre os propósitos de expansão ideológica e cultural, ou dos valores da comunidade nacional, definidos no contexto dos objectivos de longo prazo e aqui
subjacentes aos objectivos de médio prazo e, por outro lado, a aparente correspondência circunstancial destes objectivos com os interesses de desenvolvimento dos países destinatários justificadora de uma, ainda que controversa,
ajuda ao desenvolvimento e do inerente progresso socioeconómico projectado, mas nem sempre conseguido, apesar da condicionalidade ligada à ajuda e
das cedências imperativas.
Estamos perante o fenómeno da influência recíproca entre os ambientes
interno e externo, na qual se baseiam os teóricos da "linkage politics", anteriormente referida, expressa na sua vertente de formulação da política externa,
através da indução exercida por factores externos, condicionantes dos proces-
179
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
sos e dos aparelhos de decisão internos, em termos da definição de objectivos,
num contexto de dependências assimétricas, tanto de desenvolvimento como
de capacidades.
A interacção entre estas influências de origem exógena e os factores de
condicionamento interno, bem como o seu grau de intensidade, permanência
e extensão, constituem variáveis circunstanciais do processo de definição dos
objectivos de médio prazo, que interagem sinergicamente com as referidas limitações internas impostas pelas heranças políticas. Esta interactividade é ainda potenciada pelas variáveis conjunturais, entre elas, a evolução dos processos, a gestão dos recursos, as alterações dinâmicas do ambiente internacional,
a diversidade das conflitualidades sociais e oposições políticas internas, a temporalidade previsível dos mandatos e a consequente necessidade verificada,
em regimes de expressão democrática parlamentar, de garantir a permanência
dos governos e os apoios eleitorais.
5.2.3. O Caso dos Pequenos Estados
Raymond Aron descreve a política externa dos grandes estados em termos
de acções desenvolvidas na perspectiva da realização dos seus objectivos através da preservação do status quo da soberania, pelo equilíbrio, pela hegemonia
ou pelo império (Aron, 1962). A perspectiva central das teorias realistas é,
frequentemente, ilustrada através do recurso à obra de Hans Morgenthau
que, definindo o interesse como poder, resume os objectivos da política externa em termos de preservação, aumento ou demonstração desse mesmo poder
(Morgenthau, 1993; 1982).
Se estas classificações se afiguram pertinentes na perspectiva de uma superpotência, ou de uma grande ou média potência, a perspectiva é completamente diferente quando se trata de um pequeno estado, cujas dimensões e recursos
disponíveis limitam as suas capacidades próprias, tornando-o mais vulnerável
às alterações do ambiente externo, através da indução dos factores exógenos
de mudança e, geralmente, mais desfavorecido num contexto bilateral de relacionamento com estados mais fortes.
Com efeito, e tal como referido, os pequenos estados são particularmente
sensíveis às evoluções da política internacional, nos seus diversificados componentes. A influência dos factores exógenos sobre o seu processo interno de
formulação da política externa, bem como sobre as suas capacidades efectivas
de condução exterior dessa política determina, frequentemente, uma atitude
de recção, prioritariamente exigida pela necessidade de resposta, por vezes
urgente, adaptada à dinâmica evolutiva do ambiente e dirigida à viabilização
imediata e sustentada do estatuto soberano do pequeno estado.
180
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExrERNA
de objectivos,
imento como
)s factores de
permanência
definição dos
as referidas li:ividade é ain.0 dos procesinternacional,
ternas, a temde verificada,
permanência
.os em termos
Jjectivos atra:la hegemonia
ias realistas é,
Morgenthau
política extermesmo poder
ie uma super:ompletameniões e recursos
ais vulnerável
ores exógenos
,ilateral de rerticularmente
ificados comiSO interno de
[ades efectivas
, uma atitude
sta, por vezes
à viabilização
Neste contexto, a política externa torna-se reactiva quando deixa de ser conduzida e implementada segundo a estratégia planeada e ao longo de linhas de
acção política determinadas, no sentido da concretização de um objectivo, passando a depender da inevitabilidade de uma resposta específica aos desenvolvimentos da estratégia dos parceiros relacionais do pequeno estado, ou seja, tornase um" output' induzido pelos efeitos do "input' recebido. Esta necessidade de
adaptação táctica e imediata implica, com frequência, capacidades de "steerini',
por vezes potenciadas em termos de flexibilidade operacional pela evolução do
ambiente externo, e que permitem efectuar alterações de orientação das linhas
de acção política planeadas, no sentido da formação de alinhamentos que podem afectar a concretização dos objectivos inicialmente definidos.
Este posicionamento exige a monitorização e a análise permanente do contexto relacional, bem como respostas pontuais às alterações do ambiente externo, para as quais o pequeno estado não contribuiu e em cujo processo não
tem participação activa, mas cujos resultados produzem efeitos induzidos no
seu plano interno.
Esta capacidade de adaptação permitirá, dentro de certos limites, a manutenção das pretensões possíveis no seio de uma comunidade internacional hierarquizada. A dependência resultante, concretizada por cedências graduais, determinadas pela gestão evolutiva do contexto relacional, é induzida pela
interiorização inevitável dos factores exógenos de mudança. Com efeito, a inevitabilidade das interdependências que, por um lado, não significam a ausência
de competição e mesmo de conflitualidade, e que, por outro lado, e tal como
referido, não garantem necessariamente benefícios implicando, com frequência,
a aceitação de um "mal menor", determinam, por vezes, a imperatividade de
soluções menos vantajosas para os objectivos da política externa dos pequenos
estados, num contexto relacional de interdependências assimétricas.
A dinâmica operatória verificada caracteriza uma conceptualidade evolutiva, em cujo contexto adquirem expressão noções derivadas, como "quase-estado" Uackson, 1990), ou de "estado exíguo", qualificativo este atribuído aos
estados considerados "definitivamente incapazes de realizarem todas as finalidades estaduais, e obrigados a alienarem em terceiro Estado, ou em organização internacional, tal função" (Moreira, 2002, 345. Ver, tb., idem, 2009, 277
e passim; 1993; 1991). Com efeito, a perda gradual das capacidades básicas, a
fragmentação social, a erosão das relações de confiança entre as elites políticas
e os eleitorados, a degradação dos processos de decisão e a descredibilização
institucional, poderão comprometer as capacidades de defesa e de realização
consequente dos interesses nacionais considerados permanentes.
Apesar de continuar a ser considerado pela comunidade internacional
como uma entidade politicamente organizada, que mantém o seu estatuto de
181
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
estado soberano, o "estado exíguo" aproxima-se tendencialmente do controverso conceito de "estado falhado", ou seja, de um estado que perdeu as capacidades e os recursos que lhe permitiam assumir as suas responsabilidades de
estado soberano e membro da comunidade internacional, aumentando significativamente o seu grau de vulnerabilidade à penetração externa e a outras
intervenções de origem exógena (Helman e Ratner, 1992-1993), mantendo
apenas a dimensão formal de uma "soberania simulada" (Weber, 1995). Asua
existência real e objectiva, ou seja, a sua viabilidade de facto passa a depender
"da convergência dinâmica, interactiva e equilibrada dos interesses de outros
actores, ou da conveniência estratégica de alguns" (Santos, 2000, 101). No
plano da elaboração e da implementação da política externa, os efeitos desta
perda gradual das capacidades de desempenho das funções e competências
soberanas do estado resultam na respectiva incapacidade de
"projecção de poder sobre o ambiente externo, no sentido da produção
de alterações que favoreçam a concretização dos seus objectivos próprios, tornando-se progressivamente irrelevante para o processo evolutivo do contexto internacional" (Santos, 2000, 101).
Mesmo em relação aos pequenos estados, todo o complexo processo de
definição dos objectivos em política externa determinará o "estilo político" da
sua própria condução e, através dela, as condições do processo interno de
formação de consensos, influenciando directamente a capacidade efectiva de
execução das respectivas acções, quer através das relações bilaterais e multilaterais, quer através da participação activa como estado membro, nas diversas
organizações internacionais.
A par de uma característica "forma de estar" nas instâncias internacionais,
o "estilo político" afectará, em última análise, de forma inequívoca, inevitável
e por vezes irreversível, o prestígio internacional do estado, a credibilidade
política dos governantes e a própria imagem do país perante os eleitorados, as
opiniões públicas e as comunidades de nacionais residentes no exterior.
5.3. - O Ambiente de Implementação
5.3.1. Características do Ambiente Relacional
Entre as características próprias da política externa, identificámos a especificidade do ambiente relacional da sua implementação ou condução. Com
efeito, a diferenciação entre os ambientes de formulação e implementação da
política externa torna-se essencial à compreensão das lógicas processuais inerentes ao desenvolvimento das linhas de acção e à execução das acções.
182
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
te do contro!rdeu as capa;abilidades de
ntando signina e a outras
~), mantendo
1995).Asua
la a depender
ises de outros
)0, 101). No
efeitos desta
:ompetências
'odução
'os pró) evoluprocesso de
) político" da
o interno de
le efectiva de
ais e multila, nas diversas
I
.ternacionais,
ca, inevitável
credibilidade
leitorados, as
xterior.
mos a especidução. Com
mentação da
lcessuais inelcções.
A política internacional constitui a resultante da convergência interactiva das acções relacionais desenvolvidas entre os estados. Estas interacções
geram sinergias próprias cujos efeitos transcendem, tanto os ambientes internos de formulação das políticas externas, como os efeitos exercidos sobre
os outros estados, reflectindo-se também nos comportamentos dos outros
actores, designadamente, não estatais que, por sua vez, exercem influência
recíproca sobre os primeiros. Na ausência de um "governo mundial", único
e supranacional, os chamados "pilares de Westphalia" (Zacher, 1992) asseguram os princípios estruturais e estruturantes, da soberania e da territorialidade perante a proliferação dos centros de decisão e a hierarquia dos estados em termos de capacidades de acção. Aqueles princípios continuam a
prevalecer como elementos matriciais de um contexto relacional que reflecte a ordem internacional dos vencedores e a inerente diferenciação entre
capacidades de projecção de poder, a par de uma igualdade soberana de direito. Neste sentido, o enquadramento político-institucional das organizações intergovernamentais, os tratados, as convenções e os regimes internacionais constituem algumas das formas e modalidades de conciliação entre
as diferenças de capacidade política efectiva e a igualdade jurídica convencionada.
A ordem jurídica internacional parece corresponder à noção do fenómeno
que alguns politólogos e publicistas designam por "sofo law", isto é, um enquadramento normativo com capacidade e força jurídica variáveis, evolutivo,
flexível e adaptável, não existindo um aparelho de imposição coerciva generalizada ao serviço dessa mesma ordem. Os estados situam-se na sua génese e
constituem os seus elementos estruturais, mas também estruturantes, sendo
simultaneamente sujeitos e objectos dessa ordem jurídica em permanente
evolução. Neste contexto, os estados elaboram, implementam, assumem e
respeitam essa ordem jurídica na medida exacta dos seus interesses próprios,
por decisão unilateral, pelo que os respectivos efeitos concretos variam no espaço e no tempo, segundo as oportunidades, os constrangimentos e as circunstâncias, perante a permanência dos interesses nacionais dos estados. O
comportamento evolutivo destes, define-se, assim, pelo grau de funcionalidade efectiva e pela utilidade instrumental que atribuem ao Direito Internacional, e das quais decorre o seu empenhamento no respeito pelas regras jurídicas
do relacionamento, condicionado pela referida eficiência perspectivada em
termos da concretização racionalizada de objectivos (Touscoz, 1993, 292 e
segs.; RAMSÉS, 1992,312-378).
Acresce, ainda, o facto de que, no sistema internacional, existem outros
actores com interesses e capacidades próprias de projecção de poder, que utilizam ao serviço de uma consequente intervenção efectiva no plano político
183
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
internacional, no sentido da concretização de objectivos que não coincidem
ou que, eventualmente, se opõem às próprias políticas externas e aos interesses
dos estados. Esta verificação estrutural inerente à própria natureza intrínseca
da comunidade internacional e que, em termos analíticos, poderemos considerar como uma constante sistémica, determina que a actividade do estado,
que designamos por política externa, não corresponda ao exercício de um
controlo político, tal como acontece com em relação às outras políticas estatais, mas antes ao exercício de uma influência política, desenvolvida no sentido de persuadir os outros actores a exercerem o seu poder efectivo de acordo
com os interesses do estado considerado (Northedge, 1969,9). Neste contexto, as formas de implementação da política externa caracterizam-se mais por
linhas de acção política conduzidas, do que por linhas de acção política executadas, fenómeno verificado, designadamente, no plano das relações diplomáticas (Northedge, 1969,28).
Entre os factores de mudança do ambiente internacional, evidenciam-se o
aumento do número e a diversificação da natureza e das características dos
actores estatais e não estatais; a natureza e a percepção sobre a segurança
nacional, bem como as perspectivas e expectativas sobre outros objectivos e
valores nacionais; os processos de elaboração das políticas, incluindo os processos transdepartamentais, transgovernamentais e trans-estatais (" cross-nationa!'); a natureza do poder e da influência, bem como a efectividade diferenciada das formas, instrumentos e métodos de exercício e implementação
(Webber, Smith et ali., 2002, 20 e Cap. 2).
É neste ambiente sistémico da comunidade internacional, onde a estrutura
política do estado já não exerce o "o monopólio da violência legítima" a que Max
Weber se referiu, e que se caracteriza essencialmente pela inexistência de qualquer entidade que o detenha, que a política externa é implementada perante a
"ausência de tribunal e de polícia, direito de recurso à força, pluralidade
de centros de decisão autónomos, alternância e continuidade da paz e
da guerra" (Aron, 1967, 100).
o ambiente relacional actual apresenta, no entanto, características específicas
que transcendem as alternativas clássicas da paz e da guerra. Com efeito, o fim da
guerra fria e os processos de globalização económica e financeira, entre outros,
têm deslocado os centros de actividade política tradicional da Europa e das relações transatlânticas, evidenciando a relevância estratégica, económica e política
de outras regiões do globo, condicionando os alinhamentos, desenvolvendo enquadramentos institucionais de cooperação, acentuando as evoluções geoestratégicas e conferindo expressão a novas formas de conflito.
184
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
lão coincidem
~ aos interesses
reza intrínseca
leremos consiIde do estado,
ercício de um
políticas esta[vida no sentitivo de acordo
Neste contexm-se mais por
política execuções diplomá"idenciam-se o
cterísticas dos
e a segurança
IS objectivos e
uindo os pro"
s (" cross-nattoidade diferennplementação
lde a estrutura
na" aque M ax
ência de qualda perante a
lralidade
da paz e
icas específicas
:feito, o fim da
, entre outros,
opa e das relanica e política
nvolvendo enóes geoestraté-
No plano doméstico dos estados democráticos, as relações institucionais
entre os órgãos envolvidos na elaboração da política externa, condicionam
também os executivos, de formas diferenciadas e constitucionalmente definidas no processo de implementação das acções. A par destes constrangimentos,
regista-se a influência, por vezes determinante das oposições internas, das "famílias políticas" internacionais, dos grupos de interesse nacionais e transnacionais, das redes sociais e de movimentos organizados da sociedade civil
transnacional. Todos estes factores, bem como a presença e a participação
activa de uma diversidade acentuada de agentes, actores e sub-actores estatais
e não estatais, permitem estabelecer uma diferença significativa, não apenas
entre os ambientes de elaboração e de implementação da política externa, mas
também entre os respectivos processos, quando se trata de estados democráticos, ou quando se trata de regimes autoritários e aparelhos decisórios de participação restrita (Hill, 2003, 251-282).
Ao mesmo tempo, o núcleo essencial das actividades tradicionais da política externa sofreu uma alteração no sentido da inclusão de novas questões e
problemáticas de carácter globalizante, e de uma inerente diversificação qualitativa das actividades internacionais, da natureza das interacções e da diversidade dos actores envolvidos. Neste contexto, as modalidades de exercício de
poder e de influência resultantes da adaptação dos actores às novas características do ambiente relacional de implementação da política externa, pressupõem o recurso a novos instrumentos de acção. Os conceitos de "soft power',
governação global, regime internacional e políticas públicas transnacionais
têm procurado conferir expressão operacional a novas instituições, procedimentos, técnicas e práticas políticas, diplomáticas e negociais, formais e informais. As funcionalidades destes novos instrumentos de acção cooperativa e
coordenada, associativa e sectorialmente integradora, de enquadramento institucional e de resolução pacífica e convencionada de diferendos, complementam-se e prevalecem, gradualmente, sobre a dicotomia clássica entre o diplomata e o militar, enquanto agentes tradicionais das políticas externas dos
estados (Webber, Smith et ali., 2002, 31-33).
Neste contexto, a complexidade e a dinâmica evolutiva do ambiente relacional exige aos estados capacidades de adaptação acrescidas nos planos institucional, decisório e operacional, tornando a política externa num factor significativo e, frequentemente, determinante da evolução das políticas no plano
interno, bem como em termos de percepção das sociedades e das respectivas
alterações de perspectiva, de legitimação das expectativas e das consequentes
exigências dos eleitorados sobre os governos.
Verificamos, no entanto, que a evolução do ambiente de implementação
da política externa origina, também, capacidades e recursos exógenos adicio-
185
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
nais, que o decisor deverá potenciar em termos de acção, e que transcendem
os recursos físicos, materiais e humanos internos, pela natureza política, económica e social das interacções relacionais. Neste contexto, a capacidade de
avaliação dos recursos internos e externos existentes em cada momento, bem
como a capacidade de promover a sua convergência para uma utilização conjugada, no sentido da eficiência acrescida das acções, constituem factores determinantes para o sucesso da implementação da política externa. De facto, a
"relação central na implementação da política externa, é entre a capacidade de agir e a capacidade de obter resultados" (Webber, Smith et all.,
2002, 80; ver tb., idem, 29-30).
5.3.2. A Implementação das Acções
Definidos os objectivos, no contexto da fase de elaboração da política externa,
a fase seguinte será a da implementação das linhas de acção política através da
execução sequencial de acções concretas, específicas, de efeitos cumulativos e interactivos, designadamente das tarefas desempenhadas pelos diversos órgãos do
estado envolvidos no processo de relacionamento externo. Torna-se pertinente
acentuar, no entanto, que esta transição entre as fases de elaboração e de implementação da política externa envolve, também, a mudança decisiva que permite
a autonomização analítica das suas características específicas visto corresponder,
tal como referido, à passagem do ambiente interno, nacional, em cujo contexto
todas as outras políticas sectoriais são elaboradas e executadas, para o ambiente
externo, internacional, onde apenas a política externa é implementada.
Apesar de criteriosamente definidos, os objectivos estão sempre dependentes, em termos de concretização, da eficácia das acções, o que permite superar
a distinção conceptual operatória entre uns e outras, integrando ambos numa
perspectiva de política externa intrinsecamente articulada com a noção de
interesse nacional. Com efeito, é
"apenas na acção que os valores atingem a plenitude do seu significado
político, quando o decisor os aplica activamente à sua imagem do ambiente" (Frankel, 1968,39).
As sinergias originadas pela implementação da política externa exigem um
ajustamento adaptativo sustentado, dos objectivos estratégicos à realidade
concreta do ambiente relacional. Por outro lado, a referida aplicação dos "valores" à "imagem" ou percepção do decisor sobre o ambiente, implica uma
reflexão crítica e um debate político-ideológico sobre a permanência e valida-
186
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLíTICA ExrERNA
e transcendem
1 política, ecocapacidade de
lomento, bem
utilização conm factores dena. De facto, a
ção daqueles valores no "tempo demorado", perante a dinâmica evolutiva e
acelerada do ambiente. De facto,
"[t]alvez o problema mais complexo que um ministro enfrenta ao formular uma hierarquia de interesses apropriada a um mundo em rápida
mutação, seja o da reavaliação e reinventariação de interesses com vista
a fazê-los concordar com as novas realidades emergentes" (Northedge,
1969, 19).
a capaci-
lth et all.,
)olítica externa,
ítica através da
mulativos e in~rsos órgãos do
.a-se pertinente
;:ão e de impleva que permite
) corresponder,
1 cujo contexto
ara o ambiente
ltada.
pre dependenermite superar
D ambos numa
m a noção de
gnificado
n do am-
"na exigem um
os à realidade
icação dos "va:, implica uma
lência e valida-
Porém, mesmo após essa eventual reformulação, as dificuldades continuam a registar-se no plano de implementação das políticas, devido às resistências internas que as opiniões públicas e os grupos de interesses organizados em
forças de pressão opõem, perante quaisquer tentativas de adaptação dos objectivos e dos interesses nacionais às mudanças verificadas ou previsíveis nas condições do ambiente externo, e para cuja realidade evolutiva e respectivos efeitos consequentes, as populações se encontram, frequentemente, pouco
sensibilizadas.
Verificamos, assim, que, concluído o processo institucional, apesar de ultrapassadas formalmente as divergências políticas internas e depois de ter sido
consensualmente adoptada uma determinada política externa, só então começam, de facto, a surgir as problemáticas do seu ambiente de implementação
próprio. Porém, a ordem jurídica internacional que estabelece as normas e as
regras aplicáveis ao ambiente relacional e que prevê direitos, deveres e sanções
é, tal como referido, desprovida de um aparelho coercivo para a imposição
efectiva da obrigatoriedade de cumprimento. Com efeito, a ordem jurídica
internacional é complementada, e frequentemente superada e utilizada ao serviço dos estados e de uma ordem política que, a par da desigualdade entre as
respectivas capacidades, se caracteriza pela especificidade instrumental e técnica as acções, bem como pela ausência de controlo dos actores sobre os efeitos produzidos pelas respectivas políticas externas.
Daí que, "considerando o carácter altamente condicional da diplomacia",
e tal como referido, se torne pertinente estabelecer uma distinção qualitativa
e de natureza, entre o acto executivo de aplicar ou executar uma política interna, e o acto executivo de implementar ou conduzir uma política externa. A
diferença entre "execution 01 a domestíc policy" e "ímplementation 01flreign
policy" é baseada nos critérios do grau de capacidade de execução envolvido e
da eficácia instrumental respectiva (Northedge, 1969,28). A necessidade desta diferenciação deriva das novas condições do ambiente externo em que se
desenvolve a acção, das capacidades efectivas dos governos, bem como da especificidade dos instrumentos e das técnicas utilizados. Todos estes elementos
187
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
condicionam, necessariamente, tanto a estratégia política como a adaptação
táctica das acções.
De facto, na ausência do respeito assegurado dos estados em relação à ordem jurídica internacional, e na impossibilidade de um controlo internacional efectivo sobre o seu comportamento, o enquadramento legal de execução
das acções políticas, normalmente observado no contexto interno dos estados,
é substituído, no plano externo, pelo referido exercício da influência. No entanto, e com alguma frequência, esse comportamento é também caracterizado
pelo exercício do poder e da força implicando a potencialização dos diferenciais
das capacidades de coerção, imposição e controlo, definindo-se como poder,
neste contexto e na acepção weberiana, a capacidade efectiva de obrigar e I ou
controlar os comportamentos e as atitudes dos outros estados.
Hans Morgenthau acentua a importância do controlo, definindo poder
como "o controlo exercido por um homem sobre as mentes e as acções de
outros homens" (Morgenthau, 1993, 30). Numa versão mais elaborada,
abrangente e eminentemente operacional, Walter S. Jones refere o poder
como a capacidade do actor em utilizar "recursos e valores materiais e imateriais" com o objectivo de influenciar os comportamentos de terceiros segundo
o seu interesse próprio. A dinâmica da relação conflitual permite, no entanto,
verificar que nem sempre existe coincidência entre poder, ou diferencial de
poderes traduzido em potência, e força. Se o poder significa a "capacidade de
influenciar a conduta de terceiros", aforça corresponde à expressão quantitativa e qualitativa dos recursos colocados "à disposição da vontade política" do
actor que a exerce (Moreira, 2002, 247-249 e n.s; ver, tb., Santos, 2007, 258259).
Verifica-se, por um lado, que, subjacente a estas formulações sobre o poder,
e articulada com este, se encontra a noção de influência e, por outro lado, que
o exercício do poder através do uso da força, designadamente, do recutso a
instrumentos violentos incluindo a guerra, não constitui, de facto, a regra
geral de relacionamento entre os actores da comunidade internacional. Com
efeito, é o referido exercício da influência que adquire relevância, implicando
métodos diferenciados, processos múltiplos, sequenciais ou simultâneos, segundo uma lógica de convergência objectiva (Santos, 2007, 256-284; Guzzini, 1993,443-478; Rosenau, 1990, 182 e segs.).
O método mais utilizado é o da persuasão, entendida como a capacidade de
alterar, pelo convencimento através do apelo à racionalidade e à razoabilidade,
determinados comportamentos ou atitudes dos outros estados, utilizando instrumentos pacíficos, como a diplomacia e a negociação. A persuasão constitui,
pois, um método normal e contínuo da vida internacional. A sua prática conduz à concretização da influência como resultado do convencimento pelo
188
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PoLÍTICA ExTERNA
l adaptação
elação à orinternacioie execução
ios estados,
cia. No enlracterizado
diferenciais
omo poder,
7rigare I ou
indo poder
.s acções de
elaborada,
:re o poder
ais e imateros segundo
no entanto,
ferencial de
Jacidade de
io quantitapolítica" do
2007,258bre o poder,
ro lado, que
o recurso a
eto, a regra
ional. Com
implicando
tltâneos, se284; Guzzipacidade de
zoabilidade,
lizando ins-
io constitui,
prática conmento pelo
exercício exclusivo da razão. Neste contexto, o "actor racional" desenvolve
um processo decisório baseado na optimização evolutiva da eficiência, expressa nos resultados do binómio custos I benefícios. No entanto, será a razoabilidade que, transcendendo o comportamento racionalmente entendido, perspectivando-o através da integração da proposta num enquadramento alargado
de referências comuns e de interesses recíprocos, implica "a consideração ponderada de todos os interesses envolvidos" (Moreira, 1979a, 18; ver tb., Santos,
2007,276) e determina a decisão motivada, não apenas pelo interesse do actor que exerce a influência, mas também pelo benefício decorrente da alteração de comportamento proposto ao actor que se pretende influenciar. Este é
o método que permite, mais facilmente, a um actor mais fraco, conseguir uma
alteração de comportamento de um actor mais forte.
O método da persuasão, que poderá ser considerado o primeiro passo no
processo de execução das acções, é conseguido através da explicação, perante
a comunidade internacional, de uma linha de acção determinada, de modo a
convencer os outros estados que é também no seu próprio interesse que colaborem na viabilização de tais acções. Esta explicação, que deverá ser clara e
evitar os inconvenientes derivados das deficiências da comunicação, nomeadamente as que resultam do "factor ideológico" e das especificidades culturais. Com efeito,
"O factor ideológico nas relações internacionais modernas aumenta as
dificuldades de traduzir as intenções de um país em termos significativos no contexto ideológico de outro" (Northedge, 1969, 29; ver, tb.,
Holsti, 1995,275-277).
A referida explicação deverá, por outro lado, ter em conta o sigilo necessário ao êxito da acção, bem como a previsão dos custos ou da potencial extensão dos efeitos que, para os estados considerados, as suas atitudes cooperantes
poderão vir a ter. Os verdadeiros objectivos a atingir, as múltiplas especificidades dos estados a influenciar, as áreas de interesse envolvidas, as acções
sectoriais em avaliação e as circunstâncias da conjuntura, determinarão, em
última análise, o grau de secretismo, de confidencialidade ou de abertura a
conferir ao método persuasivo.
Após esta primeira aproximação à comuIlidade internacional pelo estado
interessado, e que consiste, de facto, numa declaração de intenções ou de uma
posição inicial, que permite identificar um eventual espaço de interesses comuns, o processo entra na fase sequencial de negociação, ou de barganha
("bargainini'). Esta corresponde à técnica da alternância evolutiva das atitudes, ao longo da qual se procura, através de contactos indirectos ou de nível
189
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
oficial menos elevado, aproximar as posições dos estados envolvidos, através
de pequenos avanços e recuos, ganhos e cedências controladas em termos de
efeitos. Este processo exige, para além da observação permanente das evoluções do contexto processual, uma margem de manobra ou "steering', uma
gestão optimizada da condução e graus de flexibilidade e adaptação táctica
previamente definidos, e decorrentes das capacidades efectivas e das prioridades objectivas, ainda que potencialmente alteráveis, pressupondo o recurso
consequente a instrumentos próprios e a técnicas específicas.
Devemos salientar que, tanto numa fase como na outra, o processo de
persuasão assenta no denominador comum do exercício da influência (Santos,
2007,274-280) e da utilização exclusiva da razão, e que o factor tempo adquire importância decisiva, exigindo a avaliação permanente do compromisso
entre o prolongamento da negociação e a aceitação de um resultado que apesar de parcial relativamente ao objectivo fixado de início, se torne, no entanto,
satisfatório e preferível num contexto temporal mais limitado. Ao mesmo
tempo, o grau de precisão do processo de avaliação contínua de resultados,
bem como da consequência das alterações introduzidas no plano das acções
inicialmente previstas, depende, fundamentalmente, da eficácia dos canais de
comunicação entre o aparelho de decisão governamental, e os níveis de execução estratégicos e tácticos, directamente envolvidos nas negociações. A eficácia da acção decorrerá, porém, da capacidade de interacção entre ambos, apesar de a optimização da qualidade das intervenções e o grau de participação
recomendado estarem, necessariamente, condicionadas pelo contexto espácio-temporal definido e pelas características específicas do processo negocial.
Um outro método, o da indução, é entendido como a capacidade de alterar
os comportamentos ou atitudes dos outros actores por convencimento, através da criação e do desenvolvimento de empatias relativamente a posicionamentos ou atitudes determinadas, através da demonstração de resultados obtidos, ou ainda da perspectiva racionalizada dos efeitos potencialmente
decorrentes de uma não alteração comportamental. Para além do exercício da
racionalidade no sentido da aceitação, por demonstração verificada, do comportamento pretendido, os processos de indução podem implicar o recurso a
métodos complementares, indutores da racionalização, designadamente, através da demonstração da possibilidade e da capacidade de utilização de instrumentos sancionatórios por acção ou omissão, desde instrumentos não violentos, até à ameaça ou à própria utilização da força, sem que isso implique, no
entanto, o desencadear de hostilidades traduzidas em confronto físico, mantendo-se o diferendo, em níveis de "baixa intensidade".
Em última análise, a possibilidade da utilização da força ou da ameaça credível em termos da determinação quanto ao seu uso, como factor complementar
190
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
os, através
termos de
das evolu-ini' , uma
ção táctica
s prioridao recurso
rocesso de
ia (Santos,
l.po adquinpromisso
o que apeLO entanto,
\0 mesmo
resultados,
das acções
s canais de
s de execues. A eficámbos, apearticipação
:exto espá, negocial.
e de alterar
.ento, atraposicionalltados obncialmente
xercício da
a, do como recurso a
lente, atra, de instrul.ão violenLplique, no
isico, manleaça credíl.plementar
da racionalidade e da razoabilidade, constitui uma forma de pressão quando o
componamento desejado, apesar de não trazer benefícios ao actor que se pretende influenciar, constitui um "mal menor" entre as suas alternativas decisionais. Neste caso, o processo de aplicação de uma estratégia ou linha específica de
acções pode ser acomparthado, desde o seu início, por demonstrações simultâneas, reveladoras do grau de firmeza das intenções, das capacidades efectivas ou
mobilizáveis, ou dos limites das cedências potenciais do estado em questão,
perante as atitudes de maior ou menor cooperação por pane dos estados que ele
pretende influenciar, bem como do grau de necessidade, imperatividade ou imponância atribuído ao objectivo (Santos, 2007, 274-280).
Numa fase de intensidade extrema, a indução implica a prática do chamado "brinkmanship", no qual se verifica o aumento dos níveis de tensão, através
do exercício da pressão ou ameaça, a par da firmeza quanto à credibilidade da
intenção do uso da força, rejeitando-se a possibilidade de cedência e mantendo-se o controlo total quanto a este último recurso, gradualmente adaptado à
evolução das circunstâncias, retirando-se a ameaça no momento exacto da
cedência do outro. O sistema de hierarquização valorativa evolui, assim, ao
longo de um "jogo de soma nula", decorrendo de alterações de perspectiva e
implicando mudanças de estratégia, reavaliação de custos e alteração eventual
de prioridades e de objectivos.
Os efeitos sinérgicos do exercício conjugado da razão e da força ou ameaça,
ambas objectivamente desenvolvidas através do recurso a instrumentos e técnicas próprias, consubstanciam a evolução das circunstâncias, promovendo os
processos de avaliação contínua das situações e da comparação permanente
entre vantagens e desvantagens. Neste contexto, regista-se a convergência de
elementos de "hard power" e de "sofo power" (Nye, 1990,2004,2005,2008)
conjugados, em 2003, por Joseph Nye, na fórmula do "smart power" (Nossel,
2004; Nye, 2009). A dinâmica decorrente conduz, de facto, a uma "razoabilidade efectiva" mas "condicionadà', determinante da aceitação ou da rejeição
dos termos dos compromissos, e que constitui, ao mesmo tempo, um factor
fundamental da matriz de relacionamento dos actores da comunidade internacional.
A adopção destes métodos não significa, necessariamente, a submissão exclusiva da condução da política externa aos princípios de uma "realpolitik"
caracterizada pelo critério dominante da eficácia do desempenho, tendo como
indicador de demonstração a verificação de resultados, através da concretização de objectivos, e implicando a exclusão total das referências éticas e da
noção dos valores morais subjacentes às regras de um normativismo internacional que, em princípio, deverá ser observado. Prevalece, assim, o princípio
de que, se nem todos os fins justificam todos os meios, admite-se, no entanto,
191
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
que, em determinadas circunstâncias, o alcance de certos fins considerados de
concretização imperativa, depende da utilização de meios que incluem o uso
da força e da violência.
Neste contexto, as opiniões públicas e, em última análise, os eleitorados,
julgarão, de facto, os seus governantes pelos resultados alcançados, logo pela
eficácia da acção legitimada pela atribuição das responsabilidades assumidas,
e não pelos princípios que determinaram as escolhas. Com efeito, se o insucesso das acções políticas é dificilmente aceite, ainda que baseado na ética dos
princípios, os meios utilizados serão tacitamente caucionados pelo sucesso dos
resultados verificáveis, perante a realização dos interesses nacionais que, tacitamente, os justificam, apesar da percepção socialmente construída e questionável, dos objectivos políticos que, expressamente, lhes correspondem. Tratase, em todo o caso, de uma forma de exercício do poder motivado, também,
pelo objectivo da sua preservação.
"Na acção externa existem, obviamente, normas éticas e critérios de
valoração moral que devem ser respeitados, como existem também na
execução de todas as políticas nacionais por estados que se querem considerar pessoas de bem" (Gomes, 1990,65).
A verificação empírica permite, contudo, admitir também no contexto da
política externa e até por maioria de razão, que as opções e as atitudes políticas
dos governantes revelam o primado das decisões tomadas mais por uma moral
de responsabilidade orientada pela verificação da eficácia objectiva, do que
por uma moral de convicção, ou de respeito pela normatividade internacional
orientada pela dependência dos valores e não dos resultados, sendo a ''power
politics", na sua versão extrema de "realpolitik", uma atitude frequentemente
adoptada pelos estados e expressa em termos de opções decisionais e de acção
política concreta justificada pela prevalência absoluta do interesse nacional, e
em violação directa do Direito Internacional (Moreira, 1979b, 54).
Verifica-se, no entanto, que se o cumprimento de obrigações imperativas e
o atendimento de responsabilidades inadiáveis, inerentes aos interesses fundamentais de um estado poderão justificar, pontualmente, "concessões à negligência dos princípios" (Moreira, 1993), a atitude de princípio dos governos é
determinante na condução da política externa. De facto,
"uma coisa é (... ) o compromisso ou transigência da corrente humanista
com a Realpolitik, outra coisa é ter esta Realpolitik como princípio que
não transige com o respeito por valores e normativismos" (Moreira,
2002,252).
192
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
derados de
.uem o uso
:leitorados,
I, logo pela
assumidas,
, se o insula ética dos
sucesso dos
s que, taci1 e questiolemo Trata), também,
os de
mna
I con-
:ontexto da
les políticas
uma moral
va, do que
ternacional
lo a "power
lentemente
; e de acção
nacional, e
).
nperativas e
~sses fundaões à negligovernos é
anista
,o que
)reira,
Tal como referido, tanto a persuasão como a indução constituem formas diferenciadas do exercício da influência através da racionalização e da razoabilidade aplicada aos processos decisionais. Estabelecendo uma articulação conceptual entre poder e influência, Holsti considera que, enquanto o poder é "a
capacidade generalizada de um estado controlar o comportamento de outros",
a influência é apenas "um aspecto do poder", designadamente, "um meio para
atingir um fim" conferindo-lhe, assim, um carácter essencialmente instrumental Neste sentido, Holsti considera que os estados utilizam a influência "primeiramente para atingir ou para defender outros objectivos, que podem incluir
prestígio, território, pessoas, materias primas, segurança ou alianças" (Holsti
1995, 118), apesar de admitir que a capacidade do exercício da influência poderá, em alguns casos, constituir um fim e um objectivo em si mesmo.
Para aquele autor, o poder deve ser perspectivado segundo três aspectos ou
dimensões, designadamente, as acções, que consubstanciam os processos relacionais; os recursos, que incluem a capacidade de exercício de influência, e as
respostas às acções dos outros, incluindo as respostas por antecipação. Os instrumentos potenciais colocados ao serviço da implementação da política externa são diversificados e distribuem-se por estas três dimensões do poder
mas, na sua vasta maioria, constituem formas de exercício da influência (Holsti, 1995, 119-122).
Neste contexto, Holsti identifica as variáveis que afectam este exercício, começando por assinalar como primeira variável, "a distinção entre as capacidades
totais de um estado e a relevância dos recursos numa situação diplomática particular". Neste plano, o autor refere que no caso dos recursos e da capacidade de
usar a força, aqueles não se devem avaliar tanto pela posse, mas antes pela credibilidade da capacidade e determinação de os utilizar (Holsti, 1995, 122-123).
Uma segunda variável que afecta a capacidade de exercer a influência numa
determinada conjuntura, é a interdependência entre os estados envolvidos,
traduzida nas necessidades que o relacionamento recíproco deverá satisfazer.
Uma terceira variável que se tem tornado decisiva com o desenvolvimento
científico e tecnológico aplicado a sectores muito diversificados, designadamente, da comunicação e da informação, é o grau de domínio das tecnologias,
que está dependente do nível de conhecimento, o qual afecta, por sua vez, a
capacidade negocial em sectores que, apesar de muito diversificados, se articulam com os factores de conhecimento científico e tecnológico.
Uma quarta variável é identificada como a capacidade de aceitação ou acolhimento das perspectivas, propostas ou exigências dos outros estados, mesmo à
custa de alguns sacrifícios próprios, no sentido da satisfação dos seus interesses.
Esta aceitação ("responsiveness") pode ser definida como "a predisposição para
ser influenciado" (Hoslti, 1995, 124 e n.). Esta atitude, não significa, necessa-
193
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
riamente, altruísmo ou solidariedade identificando-se, talvez, como uma estratégia de credibilização da imagem do estado legitimando, ao mesmo tempo,
expectativas de compensação político-diplomática no médio ou no longo prazo.
Uma última variável, baseia-se na análise do binómio custo / benefício, designadamente, nos custos potenciais decorrentes de um eventual não cumprimento de compromissos assumidos, incluindo a imagem do estado perante a
comunidade internacional. Identificam-se, neste contexto, o grau de determinação na implementação das políticas adoptadas, designadamente, das linhas de
acção, dos objectivos e das estratégias estabelecidas. Ou seja, perante uma política externa vagamente definida, de implementação flexível, pouco articulada
com interesses nacionais claramente definidos, com uma previsível margem de
manobra alargada, os actores serão mais permeáveis à persuasão, logo, ao exercício da influência por parte de outros actores (Holsti, 1995, 124-125).
Partindo da conjugação interactiva destas variáveis que afectam o exercício
da influência, considerada, tal como referido, como um "aspecto do poder" e
identificável em cada uma das referidas dimensões do poder, Holsti enumera
as formas de exercício da influência, nomeadamente, a persuasão, a oferta de
compensações, a sua concessão, as ameaças de represálias, o recurso a represálias não violentas e, finalmente, o uso da força (Holsti, 1995, 125-126).
Naturalmente que a panóplia de elementos de influência, desde as recompensas adaptadas aos interesses do outro país, até aos factores de constrangimento, como as ameaças mais ou menos credíveis, dependerá muito das capacidades de persuasão do estado. Capacidade, credibilidade e necessidade,
muito dependentes da imagem externa do estado, constituem, pois, as três
variáveis fundamentais, mas não as únicas, determinantes da evolução de todo
o processo negocial desenvolvido no contexto de aplicação da política externa.
Acontece, porém, que o potencial efectivo nem sempre corresponde ao potencial utilizável. De facto, o peso da opinião pública, a influência dos eleitorados, a
preservação da imagem e do prestígio internacional de um país, os aspectos éticos
envolvidos em certos posicionamentos ou atitudes, as reacções de outros estados
aliados do país visado, poderão determinar uma limitação da margem de manobra
em termos de factores de influência aplicáveis, exigindo maior capacidade de persuasão, mais tempo e maior grau de flexibilidade no processo negocial.
Por outro lado, a verificada hierarquia das potências, característica da comunidade internacional, determina uma outra hierarquia baseada nas capacidades instrumentais dos estados, e que não corresponde necessariamente à
primeira. Com efeito, esta é frequentemente modificada, quer pela alteração
das circunstâncias do ambiente relacional, reconhecendo-se neste fenómeno
evolutivo a origem genética dos "poderes funcionais" (Moreira, 1979a), quer
pelos condicionalismos exógenos inerentes à internacionalização dos factos
194
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
) uma estrasmo tempo,
longo prazo.
enefício, delão cumprilo perante a
de determi:las linhas de
te uma polío articulada
margem de
IgO, ao exer25).
1 o exercício
do poder" e
sti enumera
, a oferta de
iO a represá.-126).
le as recomconstrangito das capalecessidade,
pois, as três
.ção de todo
Lica externa.
de ao poten:leitorados, a
pectos éticos
ltros estados
demanobra
dade de per-
internos, designadamente, a influência das opiniões públicas transnacionais,
quer ainda pelo desenvolvimento de princípios e critérios de eficácia aplicados
a capacidades negociais específicas, decorrentes da funcionalidade estratégica
potencial, característica de alguns pequenos estados.
Perante todos estes limites e restrições, a tendência verificada na interacção
entre os estados continua a ser a do exercício da influência persuasiva, através da
diplomacia e da negociação, pontualmente complementada pela influência indutiva, que pode recorrer à utilização da força. Neste sentido, a implementação
consequente da política externa pressupõe a monitorização permanente da evolução dinâmica do contexto relacional, permitindo identificar "padrões de influência na sociedade internacional", bem como a construção de "tipologias
flexíveis de relacionamentos internacionais identificados pelas técnicas específicas utilizadas no acto de influência" (Holsti, 1974, 169). A fase de implementação da política externa caracteriza-se, assim, pelo desenvolvimento de processos
de contacto permanentes, em planos de interesse múltiplos e interactivos, em
sectores diferenciados, constituindo a negociação internacional a técnica fundamental da condução sustentada das políticas e da inerente execução das acções.
Ao mesmo tempo, a mudança constante e acelerada do ambiente relacional, gera necessidades inerentes, por vezes urgentes e imperativas, cuja previsão exige um processo sustentado de análise e aferição permanente dos efeitos
produzidos pelas acções desenvolvidas. A sua eventual alteração sequencial,
formal ou modal, designadamente, a sua reorientação, permitem admitir que,
no domínio da implementação, a política externa corresponde a uma "posição" transitória perante uma situação concreta, decorrente da adaptação táctica das acções à dinâmica da realidade conjuntural evolutiva. Com efeito,
"[a]s alterações fundamentais são por isso, geralmente induzidas do
exterior, raras, e não controláveis. Aquilo que mantém a coerência do
conjunto no decorrer normal dos acontecimentos, são os valores partilhados e a mesma socialização em direcção a um critério convencional.
É mais uma deriva na mesma direcção, do que um controlo" (Olson e
Groom, 1992,167-168 e n.s 72 e 73).
U.
ística da conas capaciuiamente à
:la alteração
~ fenómeno
979a), quer
, dos factos
Neste contexto, e em termos de estratégia de implementação, a política externa constitui, de facto, "uma sequência infinita de posições sobre o fluir quotidiano das questões internacionais" (Northedge, 1969, 28) e, neste sentido,
representa um processo dinâmico no qual, as posições sequencialmente assumidas e as acções executadas evidenciam, em cada momento, o compromisso,
necessariamente evolutivo e transitório, entre o objectivo perspectivado como
estrategicamente desejável, e a posição alcançada como limite do possível.
195
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
LEITURAS COMPLEMENTARES
- BEASLEY, Ryan, KAARBO, Juliet, SNARR, Michael,
2001, Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic
and State lnfluences on State Behaviour, Washington, D.C,
CQPress.
_ HILL, Christopher, 2003 The Changing Politics o/ Foreign
Policy, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave Macmillan.
- MINTZ, Alex, DEROUEN, Jr., Karl, 2010, Understanding
Foreign Policy Decision-making, Cambridge, U.K., Cambridge U niversity Press.
_ WALKER, Stephen, MALICI, Akan, 2010, Rethinking Foreign Policy Analysis: States, leaders and the Microfoundations o/ Behavioral lnternational Relations, London, U.K.,
Routledge.
196
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExrERNA
WEBOGRAFIA
www.foreignpolicy.com
www.foreignaffairs.com
www.time.com
_, Michael,
'e: Domestic
5t0n, D.e.,
r
o/ Foreign
U.K., Pal-
derstanding
J.K., Cam-
binking Fo"icrofoundadon, U.K.,
197
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ALBUQUERQUE, Martim de, 1985, "Legitimidade", in, Polis. Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, 5 vols., Lisboa, Verbo, 1983-1987.
- ARON, Raymond, 1967, "O Que é uma Teoria das Relações Internacionais?", in BRAILLARD, Philippe, 1990, Teoria das Relações Internacionais,
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp.148-163.
___ , 1962, Paix et Guerre entre les Nations, Paris, Calmann-Levy.
- BARSTON, R.P., 1988, Modern Diplomacy, London, U.K., Longman.
BRAILLARD, Philippe, 1990, Teoria das Relações Internacionais, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian.
- DOUGHERTY, James E., PFALTZGRAFF, JR., Robert L., 2003, Relações
Internacionais. As Teorias em Confronto, Lisboa, Gradiva.
_ _ _ , 2001, Contending lheories o/International Relations. A Comprehensive Survey, 5th • ed., New York, N.Y., Longman.
_ _ _ , 1981, Contending lheories o/International Relations. A Comprehensive Survey, 2 nd • ed., New York, N.Y., Harper & Row.
- FRANKEL, Joseph, 1968, International Relations, 2nd • ed., London, U.K.,
Oxford University Press.
- GOMES, F. Santa Clara, 1990, "A Política Externa e a Diplomacia numa Estratégia Nacional", in Nação e Defesa, n.O 56, Lisboa, IDN, Out.-Nov., 1990.
- GUZZINI, Stefano, 1993, "Structural Power: lhe Limits o/NeorealistAnalysis", in International Organization, n.O 47,3, Summer, 1993, pp. 443-478,
- H ELMAN , Gerald B., RATNER, Steven R., 1992-1993, "Saving Failed
States", in Foreign Policy, n.O 89, Winter 1992-1993, pp. 3-20.
- HILL, Christopher, 2003, lhe Changing Politics o/ Foreign Policy, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave Macmillan.
- HOLSTI, K. J., 1995, International Politics. A Frame Workfor Analysis, 7 th •
ed., Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall International.
198
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExTERNA
___ , 1974, International Politics. A Frame Work for Analysis, 2 nd • ed.,
Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall International.
- JACKSON, Robert H., 1990, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, Cambridge, Cambridge University Press.
Enciclopé3-1987.
f.
Internacio-
- KEOHANE, Robert O ., NYE, JR.,1974, "Transgovernmental Relations and
International Organizations", in World Politics, voi. 27, nO. 1, (Oct. 1974),
The Johns Hopkins University Press, 1974, pp. 59-62, disponível em,
http://www.jstor.org/stable/200925, consultado em 21/1012009.
~ernacionais,
- MERLE, Marcel, 1982, Sociologie des Relations Internationales, 3eme. ed.,
Paris, Dalloz.
Levy.
- MOREIRA, Adriano, 2009, A Circunstância do Estado Exíguo, Lisboa, Diário de Bordo.
ngman.
ais, Lisboa,
03, Relações
ComprehenComprehenldon, U.K.,
ia numa EsNov.,1990.
ealist Analyp.443-478,
lVing Failed
;0" Hound4nalysis, 7th •
___ ,2002, Teoria das Relações Internacionais, 4. a ed., Coimbra, Almeruna.
___ , 1994, "A Política Externa e de Segurança Comum" in, Diário de
Notícias, Lisboa, 7 de Junho de 1994.
___ , 1993 "Notícias da Frente Leste", in Diário de Notícias, Lisboa,
21/12/1993.
___ , 1993, "A Crise do Estado Soberano", in Nação e Defesa, n.O 70,
Lisboa, IDN, MDN, 1993, pp. 27-37.
___ , 1991, "O Poder e a Soberania", in Nação e Defesa, n.O 57, Lisboa,
IDN, MDN, 1991, pp. 25-48.
___ , 1985, "Legitimação", in, Polis. Enciclopédia Verbo da Sociedade e do
Estado, 5 vols., Lisboa, Verbo, 1983-1987.
___ , 1979a, "Poder Funcional e Poder Errático", in Nação e Defesa, Ano
VI, n.O 12, Lisboa, IDN, Outubro-Dezembro de 1979, pp. 13-27.
___ , 1979b, Ciência Política, Lisboa, Bertrand.
___ , "O Ideal Democrático. O Discurso de Péricles", in idem, BUGALLO. Alejandro, ALBUQUERQUE, Celso, coordenadores, 1988. Legado Político do Ocidente, 2 a • ed., Lisboa, Academia Internacional da Cultura Portuguesa, pp. 15-31.
___, BUGALLO. Alejandro, ALBUQUERQUE, Celso, coordenadores, 1988 Legado Político do Ocidente, 2 a • ed., Lisboa, Academia Internacional da Cultura Portuguesa.
199
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
- MORGENTHAU, Hans J., 1993, Polítics Among Nations. 1he Struggke for
Power and Peace, brief edition, New York, N.Y., McGraw-Hill
___ , 1982, ln Defense of the National Interest. A Criticai Examination of
American Foreign Policy, 2 nd • ed., New York, N.Y., University Press of
América.
- NINCIC, Miroslav, "1he National Interest and íts Interpretation", in 1he
Review ofPolitics, voI. 61, n.ol, 1999, pp. 29-55.
- NORTHEDGE, F. S., ed., 1969, 1he Foreign Policies of the Powers, New
York, N.Y., Frederick A. Praeger, Publishers.
- NOSSEL, Suzanne, 2004, "Smart Power", in ForeignAJfairs, vol, 83, n.O 2,
Jan. 2004, pp. 131-142.
- NYE, Jr., Joseph S., 2009, "Get Smart", in Foreign AJfairs, voI. 88, n.O 4,
Jul.lAug., 2009.
_ _-', 2008, 1he Powers to Lead, New York, N.Y., Oxford, U.K., Oxford
U niversity Press.
___ , 2004, Soft Power: The Means to Success in World Polítics, New York,
N.Y., Public Affairs.
___ , "Redefining the National Interesf', in Foreign AJfairs, voI. 78, n.ol,
1999.
___ , "Soft Power", in Foreign Policy, n.O 80, FaU, 1990.
- OLSON, William c., GROOM, A.J.R., 1992, International Relations Then
and Now. Origins and Trends in Interpretation, London, U.K., Routledge.
- "Problématique du Droít dans les Relations Internationales", in RAMSES
1993, 1992, Paris, Dunod, / LF.R.L, 1992, pp. 312-378.
- RAMSES 1993, 1992, Paris, Dunod, / LF.R.L, 1992.
- ROSENAU, James N., 1990, Turbulence in World Politics. A 1heory of
Change and Continuity, Princeton, N.J., Princeton University Press.
_ _ _ , CZEMPIEL, Ernst-Otto, eds., 1992, Governance wíthout Government: Order and Change in World Polítics, Cambridge, U.K., Cambridge
University Press.
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
200
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ExrERNA
'e Struggke for
ill
"amination of
rsity Press of
uion", in lhe
Powers, New
_ _ _ , 2009a, "Diplomacy 'Old' and 'New: On the Concept of Economic
Diplomacy", in COSTA, Carla Guapo, org., 2009 New Frontiers for Economic Diplomacy, Lisboa, ISCSP-UTL.
___ ,2007, Introdução à Teoria das Relações Internacionais. Referências de
Enquadramento Teórico-Analítico, Lisboa, ISCSP-UTL.
_ _ _ , 2000, "Reflexões sobre a Problemática da Avaliação de Resultados
em Política Externa", in Discursos. Estudos em Memória do Prof Doutor
Luís Sá, Lisboa, Universidade Aberta, Dezembro de 2000, pp. 93-109.
- TOUSCOZ, Jean, 1993, Droit International, Paris, P.U.F.
fOI, 83, n. ° 2,
- WEBER, Cynthia, 1995, Simulating Sovereignty. Intervention, the State and
Symbolic Change, Cambridge, U.K., Cambridge University Press.
'01. 88, n. O 4,
- WEBBER, Mark, SMITH, Michael et ali., 2002, Foreign Policy in a Transformed World, Edinburgh Gate, Harlow, U.K., Pearson Education / Prentice Hall.
u.K., Oxford
cs, New York,
- ZACHER, Mark, W., 1992, "lhe Decaying Pillars ofthe Wesphalian Tempie", in ROSENAU, James N., CZEMPIEL, Ernst-Otto, eds., 1992, Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, pp. 58-101.
vol. 78, n. o 1,
Relations lhen
c., Routledge.
in RAMSES
i.
ty
A lheory of
Press.
~thout Govern:., Cambridge
r
nternacionais.
:::SP-UTL.
201
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Objectivos do Capítulo
- Contextualizar a utilização dos instrumentos da política externa segundo os critérios, as lógicas e as estratégias subjacentes às linhas de acção política, às acções e aos objectivos.
- Abordar a diplomacia, enquanto instrumento da política
externa referindo a sua complexificação sectorial como
evolução adaptativa ao ambiente relacional globalizado,
bem como a sua articulação com técnicas específicas, designadamente, a negociação, e as modalidades de resolução pacífica de conflitos.
- Descrever alguns instrumentos da política externa, designadamente, a diplomacia, a propaganda e a acção económica, enquanto formas diferenciadas e diversificadas do
exercício da influência.
Síntese dos temas abordados
- Instrumentos e técnicas, força, poder, razão e influência,
bem como a relevância da negociação, entre os critérios,
as lógicas e as técnicas de utilização.
- As novas problemáticas da diplomacia moderna, derivadas da complexificação do ambiente relacional e das novas tecnologias da informação e da comunicação
- A propaganda nas suas formas diversificadas, e a actualização dos métodos e técnicas decorrentes das novas tecnologias da informação e da comunicação.
- A acção económica enquanto instrumento da política externa, em particular, sob a forma de ajuda pública ao desenvolvimento.
202
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
"[A} diplomacy that ends in war has foiled in its primary objective:
the promotion o/the national interest by peaceful means... "
Hans J. Morgenthau,
in Politics Among Natiom.
política ex~gias subjaobjectivos.
da política
)rial como
[obalizado,
cíficas, dede resolu:rna, desigção econóificadas do
CAPÍTULO
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA EXTERNA
6.1. - Lógicas e Técnicas de Utilização
A importância fundamental da política externa, enquanto sistema complexo de gestão das relações interestatais, implica uma reflexão sobre a instrumentalidade que lhe está associada. A centralidade instrumental no contexto da abordagem analítica acentua a perspectiva de que os instrumentos
da política externa correspondem a meios integrados numa estratégia de
implementação, cuja finalidade última é
"a tentativa permanente de garantir a cooperação internacional relativamente às posições de um estado, modificada na medida do necessário
pela sucessão quotidiana dos factos internacionais" (Northedge, 1969,
33).
influência,
,s critérios,
na, derivaI e das noão
~ a actualinovas te cpolítica ex,lica ao de-
VI
o
estudo da utilização instrumental no processo de implementação,
pode ser perspectivado a partir da imagem da própria política externa. De
facto, é através dos efeitos decorrentes da acção, que essa política externa
adquire expressão perante as opiniões públicas e os eleitorados, sobre os
quais, esses efeitos se exercem, envolvendo técnicas de tratamento construtivo da imagem e de previsão e orientação dos efeitos psicológicos. As entidades institucionais e agentes individuais envolvidos no processo de implementação, são também frequentemente identificados com os instrumentos
utilizados, Ao mesmo tempo, a avaliação dos resultados constitui um aspecto decisivo e intrinsecamente articulado com a validação social e com a legi-
203
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
timação pública tanto dessas entidades e indivíduos, como dos instrumentos utilizados.
Cerca de seis séculos antes da era cristã, no seu tratado sobre A Arte da
Guerra, o estratega chinês Sun Tzu concluía que o maior triunfo consistiria
em vencer o inimigo sem combate, e que a melhor guerra seria aquela que não
tinha de ser travada (Cooper, 2004, 85). Mais recentemente, superando a
perspectiva "hobbesiana" da "guerra de todos contra todos", já no segundo
quartel do século XIX, Von Clausewitz considerava que "a guerra não tem em
si os elementos para uma decisão completa e uma solução final" (Clausewitz,
s.d., 50) e recomendava, também por isso, o exercício da contenção quanto ao
uso da violência, e a subordinação da guerra aos resultados da estimativa do
cálculo custos/benefícios, binómio este, nem sempre equacionável ou redutível à contabilidade dos orçamentos militares (Cooper, 2004, 85). Com efeito,
"o cálculo de custos/benefícios relativo ao uso da força é mais difícil de
formular do que para qualquer outro dos instrumentos da política e as
consequências do erro são geralmente fatais" (Reynolds, 1980, 147; ver
tb., Santos, 2009, 193).
Neste contexto, apesar das capacidades de preVlsao tecnologicamente
mais sofisticadas parece ser virtualmente impossível determinar a extensão
exacta dos resultados da aplicação da força. Por isso, a incontestável actualidade destes pensamentos permite questionar a aparente fluidez dos processos da política internacional, evidenciando o efeito sustentado dessa forma
de "hipocrisia organizada", na qual Stephen Krasner reconheceu a soberania
(Krasner, 1999), a ambivalência estratégica das atitudes, a instrumentalização das organizações internacionais, da normatividade jurídica internacional e a prevalência sustentada dos interesses permanentes dos estados mais
fortes. A chamada "coexistência pacífica", prolongando-se numa détente fomentadora de contra-culturas, suscitou oposições e resistências progressivamente toleradas e, inevitavelmente geradoras de fragmentação e de atenuação das vontades políticas, solicitadas por outras prioridades de interesses,
precursoras do fenómeno evolutivo da hierarquias de valores (Santos, 2009,
2007, 2006) .
Neste contexto, o transitório, a instabilidade e a crise adquirem um estatuto analítico de constantes operatórias, enquanto a mudança transformacional acelerada do sistema internacional evidencia a exigência de uma conceptualidade evolutiva e de uma renovação epistemológica, perante a
imperatividade da resolução de problemáticas globalizantes incontornáveis.
A diferenciação temporal dos ritmos de desenvolvimento das sociedades, da
204
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
lstrumen-
A Arte da
consistiria
la que não
perando a
o segundo
ão temem
:lausewitz,
quanto ao
mativa do
ou redutí.om efeito,
:il de
I
e as
'; ver
gicamente
a extensão
ivel actualos procesessa forma
. soberania
mentalizanternacio:ados mais
détente forogressivade atenuainteresses,
.tos, 2009,
num esta'ansforma. uma conperante a
ltornáveis.
edades, da
globalização dos processos relacionais e dos níveis qualitativos e graus de
intensidade da participação activa dos actores da comunidade internacional,
ampliam e complexificam a diversidade instrumental e técnica disponível e
utilizável ao serviço da política externa, numa conjuntura em que "os interesses e os conflitos já não estão compendiados e historicamente definidos
para inspirarem as gerações" e na qual "os amigos e os inimigos já não se
ensinam nas escolas primárias para ficarem sabidos para sempre" (Moreira,
1969, 845).
Poderemos, pois, considerar que as problemáticas inerentes à formulação e
à condução da política externa se prolongam e adquirem aspectos de complexidade específicos, quando perspectivadas numa óptica de inventariação de
aplicabilidade casuística dos instrumentos, bem como da determinação da sua
natureza e da análise da sua eficácia. Se, numa abordagem inicial, podemos
admitir uma distinção primária entre os instrumentos pacíficos e os instrumentos violentos de aplicação da política externa, esta nomenclatura simplificadora deverá necessariamente desenvolver-se de modo a reflectir a sua diversidade elementar estabelecendo, num primeiro momento, a diferença
conceptual entre instrumento e técnica. O instrumento será,
objecto utilizado para se praticar uma determinada operação e a
técnica o processo utilizado para a efectivação dessa mesma operação
(... ) achando-se, pois, intimamente ligados, como aspectos estático e
dinâmico da mesma realidade" (Magalhães, 1982,21-22).
"O
Os instrumentos da diplomacia e da guerra aparecem, tradicionalmente,
como os mais característicos ao serviço da política externa, mas não como os
únicos. Entre os instrumentos pacíficos e técnicas que se utilizam no âmbito do
exercício da influência persuasiva ou indutiva, e que constituirão o tema central
desta abordagem, incluem-se, para além do instrumento da diplomacia, as técnicas negociação directa, bilateral ou multilateral, os processos de resolução pacífica de conflitos, os instrumentos da propaganda, frequentemente protagonizados pelos media, as várias formas de acção económica e o próprio Direito
Internacional (Berridge, 2002, 1). Quanto aos meios violentos, utilizados no
exercício da imposição coerciva e do constrangimento através da força ou da
ameaça da sua utilização, bem como da aplicação e desenvolvimento de acções
agressivas de intensidade variável, identificam-se, para além da guerra, as acções
de dissuasão por ameaça directa ou indirecta, o embargo, o boicote, a intervenção e o bloqueio económico, a acção clandestina, o terrorismo, a desinformação,
as acções de subversão, as acções de provocação e a intervenção militar limitada,
que constituem algumas das opções possíveis.
205
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Não poderemos, no entanto, aceitar esta classificação, sem a introdução do
elemento rectificador inerente à fluidez inevitável das respectivas noções. T orna-se, de facto, evidente a dificuldade de determinar, por exemplo, quando é
que a propaganda atinge um grau de agressividade que possa considerar-se
violência, ou quando é que as acções clandestinas, sendo pacificamente desenvolvidas, poderão ser integradas no primeiro grupo.
Tanto num conjunto como noutro, a aplicabilidade instrumental pode ser
simultânea e integrada, paralela, sequencial e diacrónica, de grau de intensidade variável e reciprocamente ponderado ("smart power'), controlado dinamicamente, ajustado e de efeitos, necessariamente, interactivos. Sucede, também, que a tradicional correspondência entre os meios pacíficos de exercício
de influência e a fase de explicação, convencimento ou indução, por um lado, e
entre os meios violentos de exercício da força e a fase de imposição, constrangimento ou controlo, por outro lado, parece ter deixado de se verificar.
Com efeito, tal como referido anteriormente, dentro de determinados limites de utilização, o exercício da força pode processar-se em graus de agressividade controlada e complementarmente ao exercício da influência, em circunstâncias em que os instrumentos pacíficos se revelaram insuficientes para
induzir as alterações comportamentais desejadas, mas onde a baixa intensidade do diferendo em causa permite o recurso à violência sem envolver aspectos
de escalada conflitual.
"A realidade é tão complexa que pode mesmo constatar-se a utilização de
meios pacíficos ao serviço de uma política agressiva, tal como há meios
violentos ao serviço de políticas pacíficas. Quer isto dizer que não há classificações perfeitas, mas apenas classificações úteis" (Gomes, 1990, 72).
A própria formalidade político-diplomática da declaração de guerra, que
correspondia, expressamente, à funcionalidade técnico-jurídica do momento de transição entre a fase de utilização dos instrumentos pacíficos e a fase
de utilização dos instrumentos violentos, parece ter caído em desuso. De
facto, verifica-se, actualmente, que o desenvolvimento político-estratégico
paralelo de linhas de acção sequenciais e a diversidade dos interesses circunstanciais e dos contextos geopolíticos de aplicação, bem como a variedade instrumental, exigem e possibilitam a simultaneidade do emprego de
instrumentos pacíficos e violentos. Este fenómeno de complementaridade
instrumental e técnica parece constituir, tendencialmente, uma constante
analítica verificável na prática política das relações externas dos estados.
A vasta diversidade instrumental que pode ser utilizada ao serviço da política externa, determina que abordemos apenas alguns dos instrumentos não-
206
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
ntrodução do
; noções. T orpIo, quando é
considerar-se
mente desen-
violentos mais significativos, designadamente, a diplomacia, a propaganda e a
acção económica. Será conveniente acentuar, por último, que os instrumentos da política externa poderão ser utilizados em contextos sectoriais diferenciados, ou seja, ao serviço de uma política económica externa, de uma política
cultural externa, de uma política estratégico-militar, de defesa, etc.
ental pode ser
_de intensida)lado dinamiSucede, tamIS de exercício
lor um lado, e
~o, constrangilcar.
:erminados lilUS de agressiência, em cirlficientes para
tÍxa intensidaolver aspectos
6.2. - A Diplomacia
zação de
lá meios
) há clas10,72).
le guerra, que
ado momen:íficos e a fase
n desuso. De
co-estratégico
interesses cirmo a varieda, emprego de
ementaridade
ma constante
's estados.
:rviço da políumentos não-
6.2.1. A Evolução Histórica das Práticas Diplomáticas
A Antiguidade Clássica. Grécia e Roma
Os contactos entre os governantes e entre as estruturas políticas das sociedades politicamente organizadas, independentemente da forma ou tipo de
organização, e das hierarquias e funções características de cada sociedade, encontram-se registados desde tempos imemoriais.
No entanto, parece ter sido na Grécia, que se institui a prática do envio de
missões ocasionais de representantes ou negociadores credenciados pela assembleia política da cidade que os enviava. Essas missões eram compostas por
representantes das várias facções políticas da assembleia, que, para além de se
fiscalizarem, ou "espiarem" mutuamente, desenvolviam o que poderá ser considerado como "diplomacia paralela", tentando obter vantagens, alinhamentos e apoios políticos para a facção a que pertenciam, eventualmente, em detrimento dos interesses da cidade que representavam.
Os embaixadores praticavam a chamada "diplomacia aberta", declarando
as suas intenções e os objectivos da missão. O estatuto de neutralidade e a
prática da arbitragem como forma de resolução de conflitos, foram desenvolvidas pelos gregos, que instituíram também o consulado. No século Va.c.
"os gregos tinham construído um complicado aparelho diplomático;
conheciam as ligas e as alianças, tinham estabelecido princípios para
a declaração de guerra, para fazer a paz, para a ratificação dos tratados,
arbitragem, neutralidade, troca de embaixadores, funções dos cônsules, estatutos de aliança, naturalização, asilo, extradição e práticas marítimas"
(Moreira, 2002, 76).
O desenvolvimento do aparelho e dos métodos diplomáticos das cidadesestado gregas, não conheceu evolução correspondente no estado romano, organizado sob os princípios do imperium. A perspectiva imperial estaria na génese
de uma normatividade jurídica aplicável aos relacionamentos entre cidadãos
207
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
romanos e estrangeiros, na qual, o princípio da "subordinação" prevalecia sobre
o da "negociação", embora o princípio do respeito pelos tratados e o princípio
da boa-fé fossem praticados e desenvolvidos (Moreira, 2002, 77).
Tal como na Grécia, também os enviados romanos, os "nuntii" ou "oratores", eram nomeados pela assembleia, o Senado, para as missões ocasionais de
representação e de negociação, cujos resultados ficavam dependentes da aprovação senatorial. Os enviados de outros estados eram recebidos em Roma,
pelo Senado, estando esse acto dependente da autorização senatorial que, se
fosse concedida, estabelecia também um período limitado para a negociação,
durante o qual, os negociadores enviados teriam imunidade, que poderia ser
levantada no fim desse período, ou se as negociações não produzissem os resultados desejados. Se, porém, as negociações fossem concluídas com êxito, os
romanos poderiam tomar os negociadores como reféns, até se certificarem do
cumprimento dos compromissos negociados e assumidos pela outra parte
(Stern, 2000, 179-180).
As práticas diplomáticas dos romanos não atingiram o desenvolvimento
das suas contribuições no plano jurídico-normativo, ficando muito aquém
das contribuições gregas no domínio da diplomacia. Assinalam-se, no entanto, a criação de comissões arbitrais para a resolução das reclamações sobre
tratados, e a referida instituição da prática da exigência de reféns, que exerciam sem concessão de reciprocidade e que acabaria por ser abandonada
(Stern, 2000, 180). Resumindo a avaliação comparativa das contribuições
grega e romana para o desenvolvimento da diplomacia, o diplomata britânico
Harold Nicholson referiu que
gregos descobriram a necessidade de submeter as relações internacionais a certos princípios estáveis, mas não conseguiram encontrar um
método de negociação entre as sociedades democráticas e os governos
despóticos, não tendo compreendido que as assembleias políticas não
são indicadas para conduzir a diplomacia. Por outro lado, considero
que a maior contribuição dos romanos foi o princípio pacta sunt servanda. De qualquer modo, não se lhes deve a criação nem de um sistema,
nem de um método para a negociação permanente" (Nicholson, apud
Moreira, 2002, 78 e n. 54).
"OS
A Idade Média. O Papado e Bizâncio
O advento da Idade Média representa a génese de tendências e de influências diversificadas no plano das práticas diplomáticas, decorrentes da proliferação de entidades políticas resultantes da fragmentação do Império Romano.
208
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
lecia sobre
princípio
I
ou "oratotSionais de
:s da apro:m Roma,
ial que, se
egociação,
,oderia ser
sem os ren êxito, os
1carem do
utra parte
olvimento
ito aquém
no entanções sobre
que exer)andonada
ltribuições
1 britânico
~rna­
rum
:rnos
, não
,dero
'vanema,
apud
Para além da separação entre os Impérios Romanos do Oriente e do Ocidente, o maior dos estados derivados dessa evolução, seria o Papado. A Roma
Papal desenvolveria as relações com os governos, e neste âmbito, as práticas
diplomáticas evoluiram no sentido da resolução das questões emergentes entre a igreja e o estado. As primeiras representações eclesiásticas, compostas por
"legados", eram missões temporárias que, progressivamente evoluíram para
missões mais prolongadas, desempenhadas pelos ''nuntii'', ou núncios, e cujas
tarefas se aproximam já das que, futuramente, serão atribuídas aos embaixadores permanentes nos estados seculares, ou seja, a da defesa dos interesses dos
seus estados e a da implementação das respectivas políticas externas. Os embaixadores da Santa Sé,
"[e]m breve adoptariam uma panóplia de práticas diplomáticas utilizadas por toda a península italiana: pelo menos, a arbitragem, a negociação, a celebração de tratados e de alianças e, de natureza mais sinistra, a
espionagem, a subversão, a sedução (. .. ), a conspiração e o engenho na
utilização do veneno e do estilete" (Stern, 2000, 180).
À fragmentação do Império Romano, corresponde também a consagração
do Império Bizantino. Bizâncio torna-se o primeiro império a organizar, de
forma sistematizada, um departamento estatal para as relações exteriores, ou
negócios estrangeiros, baseado em Constantinopla e dispondo de pessoal especificamente treinado, designadamente, na análise detalhada de relatórios, na
elaboração de linhas de acção e nas instruções precisas dadas aos emissários. Esta
sistematização substituía a simples transmissão de mensagens, a que a perspectiva anterior reduzia as actividades diplomáticas. O imperador Constantino Porphyrogenitus seria o autor de um tratado sobre diplomacia, acentuando a importância das cerimónias protocolares e das precedências. Os cerimoniais de
recepção dos embaixadores estrangeiros eram desenhados para os impressionar,
recorrendo-se a efeitos especiais e a paradas militares controversas (Stern, 2000,
180).
Os enviados de Bizâncio eram, no entanto, frequentemente impedidos de
regressar, pela tradicional desconfiança que inspiravam, e os imperadores bizantinos concediam tratamento semelhante aos enviados de outros estados,
confinando-os, por vezes, ao isolamento.
o Renascimento. As Cidades-Estado Italianas
de influênda prolife) Romano.
As práticas e tradições diplomáticas bizantinas seriam recolhidas pelas Repúblicas Italianas, na génese do Renascimento. Veneza seria o primeiro estado
209
:ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
ocidental a organizar a diplomacia e os arquivos diplomáticos de uma forma
sistematizada. Os seus embaixadores eram nomeados por um período limitado, estavam impedidos de adquirir propriedades nos países onde estavam destacados, não podiam ser acompanhados pelas suas mulheres e eram obrigados
a entregar os presentes que recebiam à Senhoria de Veneza. Reconhecia-se,
também, a conveniência de estarem informados sobre a política interna da
república veneziana (Moreira, 2000, 79).
As missões temporárias passariam gradualmente a legações permanentes.
Neste contexto, o Duque de Milão seria o primeiro governante a estabelecer
uma missão permanente em Génova, em 1455, "inaugurando, de facto, a
diplomacia moderna" (Stern, 2000, 181; ver, tb., Anderson, 1993,6-20). Em
finais do século seguinte, as Repúblicas Italianas tinham trocado entre si representações permanentes, e tinham estabelecido missões permanentes em
Paris, Londres e na corte do Sacro Império Romano.
O "equilíbrio das impotências", decorrente da precariedade dos sistemas
políticos das Repúblicas Italianas, induziria o consenso sobre a conveniência
do desenvolvimento de práticas e de técnicas negociais, que levavam os estados de acolhimento a exercerem uma vigilância discreta, mas sistemática, sobre os embaixadores estrangeiros, geralmente suspeitos pelas suas actividades,
que frequentemente transcendiam as inerentes à sua missão, pela proveniência por vezes diferente da do estado que representavam, e quanto à autenticidade das suas credenciais. Com efeito, durante os séculos XVI e XVII, os enviados dos governos eram conhecidos por
"subornarem cortesãos, financiarem rebeliões, encorajarem partidos na
oposição; subvertiam, seduziam, mentiam, espiavam e roubavam documentos oficiais, convencidos que moralidade privada e pública eram
coisas diferentes" (Stern, 2000, 181-182).
Uma verdadeira "arte da negociação", nascia neste ambiente de ''combinazione" que, representando "o anteparo mais sólido do Estado", seriam protagonizadas por César Bórgia e retratadas por Maquiavel.
"A teoria de que os interesses do Estado estão acima de considerações
éticas é uma base claríssima para transformar a arte da negociação numa
técnica apoiada em órgãos especializados" (Moreira, 2002, 79),
originando e justificando a evolução das representações diplomáticas para o
seu estatuto de missões permanentes desde meados do século XV, permitindo
equacionar a presença dos embaixadores estrangeiros, com a segurança dos
210
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
na forma
lo limitalvam des)brigados
lhecia-se,
'lterna da
nanentes.
5tabelecer
e facto, a
,-20). Em
ltre si reentes em
; sistemas
veniência
nos estalática, sotividades,
roveniênautentici11, os en-
) na
doraro
''combinalffi
prota-
~ões
lma
:as para o
!rmitindo
rança dos
estados de acolhimento. A esta situação, juntava-se o facto de, pelas dificuldades de comunicação, os embaixadores constituírem uma fonte de informação,
por vezes única, do soberano que os enviava e terem, por isso mesmo, de
acompanhar de perto os soberanos que os acolhiam.
A importância do protocolo, do cerimonial e das precedências continuou
a prevalecer durante este período, mas o principal legado do sistema italiano
terá sido "o ensinamento de que a razão do Estado está acima de quaisquer
outras considerações", confundindo-se frequentemente com a "razão do príncipe", a par do "desenvolvimento de uma série de hábitos e técnicas de oportunismo que cabem na famosa expressão Combinazione" (Moreira, 2002,80).
Será também conveniente acentuar, que foram as Repúblicas Italianas que
iniciaram a organização sistematizada das actividades diplomáticas e dos respectivos registos arquivísticos, bem como da prática progressiva de uma diplomacia de representação permanente.
Os Tratados de Westphalia
Entre os séculos XVI e XVIII, a evolução da diplomacia foi acentuadamente influenciada pelo modelo francês. Sob a tutela de Luís XIII e do seu primeiro-ministro, o Cardeal Richelieu, foi instituído em França, em 1626, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Regista-se, ao mesmo tempo, uma
tendência gradual para a profissionalização dos diplomatas. Com Luís XIV
consagra-se a influência francesa no plano da diplomacia. Mas a separação
administrativa e burocrática dos negócios estrangeiros em relação à restante
actividade política do estado, evidenciando a relevância da negociação entre as
práticas diplomáticas, não interfere com o princípio da "unidade do comando
da política externa", centrada na pessoa do monarca, que é o detentor único
do "segredo do rei", ou do "segredo do imperador" (Moreira, 2002,80).
O embaixador passa a ser considerado não apenas como o enviado do soberano, mas como a própria presença física do seu senhor (Stern, 2000, 182).
A complexificação da administração estatal e dos procedimentos diplomáticos, a par da referida tendência para a profissionalização dos diplomatas, induziu uma tendência corporativa, elitista, caracterizada pela ocupação aristocrática dos cargos, bem como pelo reconhecimento de um estatuto próprio na
hierarquia social e pelo desenvolvimento de complexas regras de etiqueta. A
língua francesa substituía o latim como idioma internacional da diplomacia.
A obra de de François de Callieres, "De la Maniere de Négocier avec les Souverains", publicada em 1716, tornava-se "a bíblia" da profissão.
Os Tratados de paz de Westphalia, assinados em Münster e Osnabruck,
em 1648, constituem um marco definidor para a evolução, tanto das relações
211
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
políticas internacionais, como das práticas diplomáticas. O processo negocial
multilateral do congresso de estados, representava uma inovação e contribuiria
para a fixação de regras de procedimento desenvolvidas durante as conversações e negociações bilaterais separadas, originando um sistema relacional de
diplomacia colectiva, multilateral ou de conferência, no contexto embrionário de uma organização sistematizada das relações políticas internacionais.
O complexo equilíbrio europeu e os efeitos derivados dos Tratados em
termos de compromisso político internacional, envolviam agora as áreas geográficas marginais de uma Europa partilhada pelo reconhecimento consensualizado da inviabilidade das hegemonias, bem como de áreas fora da Europa,
conferindo uma funcionalidade estratégica específica às pequenas potências,
progressivamente sedimentadas na sua expressão de estados nacionais, no
contexto desse equilíbrio internacional precário, e introduzindo nos procedimentos, novas considerações de votação estratégica e de cálculo ponderado
das forças, interesses e capacidades, situando-se na génese de uma nova "forma pública de tratar dos problemas internacionais" (Macedo, 2006, 215).
A diplomacia tornava-se mais complexa em termos de aparelho de estado,
de procedimentos burocráticos e de elaboração das regras e das práticas de
relacionamento. O seu alcance tornava-se também mais extensivo em termos
de objectivos e capacidades de desempenho de funcionalidades negociais.
Aperfeiçoavam-se as estratégias de bastidores, de subversão, de espionagem e
de secretismo, perante a percepção da relevância acrescida da diplomacia na
sua dimensão essencial de negociação e de instrumento de implementação da
política externa. A actividade diplomática adquiria, assim, a capacidade de
desempenho de uma outra missão instrumental, desenvolvida ao serviço da
informação dos soberanos e do exercício da influência nos processos internos
e internacionais dos estados, através de meios, métodos e técnicas, nem sempre consentâneos com a ética relacional.
Os Tratados de Utrecht, de 1713, e de Paris, de 1763, significavam o reconhecimento consolidado da inviabilidade das hegemonias, da inevitabilidade da partilha do poder na Europa e da imperatividade da concertação internacional, efectivamente assumida no Congresso de Viena de 1815.
o Congresso de Viena
Reunido em Viena, em 1814-1815, na sequência da Revolução Francesa e
do episódio napoleónico, aquele que o cinema imortalizou como o "congresso
que dança", constituiria, de facto, a mais importante reunião de cabeças coroadas de uma Europa que, apesar das problemáticas internas dos estados e das
rivalidades e conflitos internacionais, estava consciencializada da necessidade
21 2
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
negocial
:mtribuiria
; conversaacional de
embrionácionais.
·atados em
áreas geoconsensuia Europa,
potências,
:ionais, no
)s procediponderado
nova "for5,215).
de estado,
oráticas de
em termos
negociais.
ionagem e
omacia na
entação da
acidade de
serviço da
)s internos
nem sem;0
avam o re:vi tab ilidaação inter-
de serem evitadas futuras perturbações, como as que tinham motivado o próprio Congresso, e que os monarcas procuravam, agora em conjunto, resolver.
O carácter excepcional do Congresso teria efeitos decisivos no plano das
práticas diplomáticas. A problemática questão das precedências seria, finalmente, resolvida no essencial. A introdução da técnica da "mesa redonda"
ilustra o pormenor da sofisticação protocolar destinada a respeitar as hierarquias, tanto as consensualmente aceites, como as inevitavelmente impostas.
O sistema de congressos, instituído em Viena, e que em breve daria lugar
a um "concerto da Europa" que deveria gerir um "equilíbrio de poderes" assente em alianças entre casas reais, debatia-se com um continente onde os
novos nacionalismos, os ideais liberais, o progressivo acesso das populações à
informação e as capacidades organizativas de acção social perspectivavam outras formas de participação democrática e outros critérios de legitimação dos
governantes. Também a diplomacia teria de se adaptar, nas suas funcionalidades práticas, às novas exigências estratégias de uma "balança de poderes" característica do século XVIII mas, agora, num ambiente relacional de equilíbrio instável.
Neste sentido, o Príncipe von Metternich, representante da Áustria no
Congresso, desenvolveria uma rede de informação oficiosa internacional que
consubstanciava o conceito de "diplomacia secreta", assim designada pela
oposição da natureza de procedimentos em relação à "diplomacia aberta",
obtendo acesso a documentos das chancelarias, interceptando os sistemas de
comunicação, dando origem a um período que ficaria conhecido como "a era
de Metternich" e que se prolongaria até 1848.
Ao longo do século XIX, sucederam-se as conferências e os congressos integrados no sistema do "concerto europeu". A necessidade de corresponder a
uma nova dinâmica da vida das sociedades e a complexidade dos relacionamentos políticos internacionais, induziriam a introdução de alterações nos
aparelhos diplomáticos, em termos de competências. A diplomacia multilateral praticada nas referidas conferências e congressos, constituiria o embrião
das futuras organizações de concertação internacional permanente. Registavase, ao mesmo tempo, o acréscimo do recurso a entidades da esfera privada,
aprofundando a prática de uma diplomacia oficiosa, informal e paralela, através da utilização de agentes e de canais de comunicação privados, ao serviço
das chancelarias, dos governos e dos governantes.
Francesa e
"congresso
As Conferências da Haia e a Sociedade das Nações
)eças corotados e das
lecessidade
Todos estes factores têm contribuído para um inerente acréscimo da relevância da diplomacia no contexto do processo complexificador dos relaciona-
213
ELEMENTOS DE ANÁLISE D E POLÍTICA ExTERNA
mentos internacionais. As conferências da Haia, na transição entre os séculos
XIX e XX, evidenciam a consciencialização dos estados para esse fenómeno de
complexificação progressiva dos processos relacionais.
Ao mesmo tempo, os governos são agora confrontados com os efeitos da
problemática concreta do custo das novas tecnologias aplicadas aos armamentos, em termos de orçamentos militares incomportáveis, e forçados à limitação drástica das despesas militares inesperadamente acrescidas pela introdução das inovações tecnológicas, e geradoras de tensões sociais, quando a opção
entre "canhões ou manteiga" se torna matéria de escolha inevitável.
Com efeito, as disposições saídas das conferências da Haia, de 1899 e de
1907, são necessariamente influenciadas pelos efeitos preocupantes da aplicação dos progressos científicos e tecnológicos ao teatro estratégico e táctico da
guerra clássica. A evidência do crescente grau de incontrolabilidade desses
efeitos sobre uma sociedade tradicionalmente afastada dos cenários de violência generalizada, recomendou e justificou a acentuação dos esforços no sentido do recurso convencionado aos métodos pacíficos de resolução dos conflitos
internacionais, bem como da contenção e regulamentação das hostilidades.
Os efeitos devastadores da Grande Guerra, determinariam a atenção acrescida dos estados sobre a exigência do desenvolvimento de instrumentos de
resolução pacífica de conflitos internacionais, nos anos de crises políticas sucessivas que caracterizaram o período do pós-guerra. Ao longo do século XX,
o Pacto da Sociedade das Nações, a Carta das Nações Unidas e a instituição
de tribunais internacionais, confirmam a tendência para o recurso crescente a
esses instrumentos e processos.
A diplomacia multilateral seria, a partir de então, consagrada como instrumento permanente do relacionamento político. A diversidade sectorial das
áreas de contacto exigiria a especialização técnica dos diplomatas e dos negociadores, num processo gradual inerente e paralelo à aplicação dos desenvolvimentos técnicos e científicos ao plano dos relacionamentos internacionais,
designadamente, nas áreas estratégico-militares, das comunicações e da informação.
Na sequência da Grande Guerra, o Pacto da Sociedade das Nações instituía a resolução pacífica de conflitos. Outros tratados e convenções assinadas
durante o período entre as duas guerras mundiais, consagraram os mesmos
princípios, tendências e procedimentos. Após a Segunda Guerra Mundial, a
ordem internacional estabelecida em Yalta resultará na consagração das várias
Convenções de Genebra, de Agosto de 1949, que viriam a ser complementadas pelos respectivos Protocolos Adicionais, de Julho de 1977.
Desde então, o dever dos estados quanto à promoção do apaziguamento
internacional (ver Capítulo II, supra) e a convergência interactiva dos diversos
214
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
e os séculos
nómenode
s efeitos da
; armamenos à limita-la introduLdo a opção
canais diplomáticos, designadamente, através da prática sustentada e consistente da referida diplomacia multilateral, ou de conferência, sugerem uma
evolução adaptativa dos aparelhos diplomáticos perante as alterações da sociedade internacional e as mudanças no ambiente relacional. Esta evolução adaptativa adquire expressão na departamentalização tendencial das actividades
diplomáticas, no sentido da gestão optimizada dos relacionamentos entre governantes e governados constituindo, assim, características tendenciais verificadas na diplomacia moderna (Santos, 2009, 214-218).
:1.
e 1899 e de
s da aplicae táctico da
fade desses
5 de violên)s no sentios conflitos
.tilidades.
nção acresLmentos de
lolíticas suséculo XX,
instituição
crescente a
Imo instru:ctorial das
: dos negos desenvolrnacionais,
e da inforlções insti:s assinadas
os mesmos
\..fundial, a
) das várias
lplementaiguamento
os diversos
6.2.2. Definição e Características da Diplomacia
o termo diplomacia refere-se, actualmente, a um conjunto de práticas e de
técnicas de relacionamento formalizado entre governantes de entidades sociopolíticas diferenciadas. Na sua origem, encontram-se os contactos estabelecidos por agentes portadores de mensagens e enviados para as transmitir ou
entregar. A palavra diplomacia, encontra a sua génese no vocábulo diploma, de
origem grega, e que significa documento dobrado em dois, ou fechado, ilustrando o carácter de confidencialidade da mensagem transmitida entre governantes.
A diplomacia constitui um dos instrumentos matriciais da política externa.
Contextualizando as acções do exercício da influência do estado sobre o ambiente relacional, a diplomacia caracteriza-se pelas suas técnicas próprias, formas convencionadas e dimensões diversificadas, designadamente, a diplomacia política, a diplomacia pública, a diplomacia cultural, a diplomacia
económica, a diplomacia de defesa etc., desenvolvidas em interacção conjugada, e em convergência com outros instrumentos da política externa, no sentido da respectiva implementação e da concretização de objectivos em sectores
diferenciados do interesse nacional. A diplomacia situa-se, assim, no plano
essencial do relacionamento pacífico sustentado, convencionado e formalmente instituído entre estados soberanos.
Numa abordagem inicial e estrita, poderemos definir a "diplomacia pura"
como "um instrumento da política externa, para o estabelecimento e desenvolvimento dos contactos pacíficos entre os governos de diferentes Estados,
pelo emprego de intermediários, mutuamente reconhecidos pelas respectivas
partes"(Magalhães, 1982,88). Enquanto conjunto de processos, de práticas e
de técnicas relacionais, a diplomacia tem sido considerada também, como "o
mais importante instrumento da Política Internacional" (Moreira, 1970,23).
Entre as numerosas definições operacionais de diplomacia, e "no sentido
amplo de conjunto da política externa" (Barata, 1989, 14). Numa perspectiva
abrangente e extensiva, Hans Morgenthau considera que a diplomacia inclui
215
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
"a formação e a execução da política externa e todos os níveis" (Morgenthau,
1993,155, n.18). Numa abordagem descritiva, poderemos então perspectivar
a diplomacia como "a arte de combinar os diferentes factores do poder nacional e de os aplicar do modo mais propício ao sucesso na defesa dos objectivos
nacionais" (Barata, 1989, 14). Hans Morgenthau descreve esta "arte" como
os processos e as acções desenvolvidas no sentido de
"integrar os diferentes factores em um conjunto coerente e de lhes fixar
direcção e ponto de aplicação por forma a maximizar os efeitos nos
pontos estratégicos da situação internacional que mais interessam ao
país" (Barata, 1989, 14-15 e n.8; Morgenthau, 1993, 155-158,361363).
A perspectiva de Morgenthau sobre a diplomacia, identifica-a com os
meios que a mesma utiliza, designadamente, a persuasão, o compromisso e a
ameaça do uso da força, acrescentando que
"[a] arte da diplomacia consiste em pôr o ênfase correcto, em cada momento particular em cada um destes três meios" (Morgenthau, 1993,
363).
Esta descrição permite entender o carácter extensivo da perspectiva, na
medida em que, constituindo a "ameaça do uso da força" um meio violento
de exercício do poder soberano, se distancia claramente do carácter essencialmente pacífico dos meios diplomáticos, aproximando e sobrepondo o conceito de diplomacia, ao de política externa, à semelhança da generalidade dos
autores realistas americanos (Kissinger, 1994).
Neste contexto, correspondendo apenas ao conjunto de actividades próprias, ou seja, das funções convencionadas e desenvolvidas pelos diplomatas"
(Santos, 2009, 225), a perspectiva estrita de uma "diplomacia pura" não permite incluir entre aquelas "actividades próprias", outras dimensões e modalidades muito diversificadas do respectivo exercício, que sugerem o carácter
essencialmente, mas não estritamente, pacífico da diplomacia. Verifica-se,
neste sentido, que
"a imprecisão evolutiva dos limites de separação, e a indiferenciação
tendencial entre a utilização da diplomacia e o recurso à violência,
constituem uma das características da chamada 'diplomacia moderna'"
(Santos, 2009, 225; Barston, 1988, 1).
216
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
orgenthau,
lerspectivar
)der nacio; objectivos
lrte" como
fixar
nos
m ao
361-
5
-a com os
'omISSO e a
.mo993,
Jectiva, na
io violento
r essencialDO conceiJidade dos
dades próiplomatas"
1" náo perI e modalio carácter
verifica-se,
iação
ncia,
ma",
Incluindo, entre as técnicas diplomáticas, as
"ameaças ou o uso limitado da força para persuadir os oponentes a não
alterarem o status quo a seu favor ou para terminar ou desfazer uma
acção de ingerência ("encroachmeni')" Qonsson, 2002, 213 e n.s;
Santos, 2007, 273-280)
poderemos operacionalizar um conceito de "diplomacia coerciva", ou mesmo, numa situação extrema, de uma "diplomacia da violência" (Schelling,
1966, 168-182).
Thomas Schelling refere a articulação entre diplomacia e meios violentos
ao serviço da política externa considerando que
"[a] distinção habitual entre diplomacia e força, não está apenas nos
instrumentos, palavras ou balas, mas na relação entre adversários - na
interacção de motivações e do papel da comunicação, dos entendimentos, dos compromissos e da contenção. Diplomacia é barganha; procura resultados que, apesar de não serem os ideais para nenhuma das
partes, são melhores para ambas do que algumas das alternativas (... ).
[QJuer ocorra entre amigos ou antagonistas, quer haja ou não uma base
de confiança e de boa vontade, tem de existir algum interesse comum,
quanto mais não seja, o evitar de prejuízos mútuos, e a consciencialização da necessidade de fazer a outra parte preferir um resultado aceitável
ao próprio" (Schelling, 1966, 168).
Neste contexto, se, por um lado, poderemos considerar a diplomacia como
"uma arte de negociação, ou o conjunto de técnicas e processos de conduzir
as relações entre os Estados" (Moreira, 2002, 74-75), por outro lado, torna-se
necessário reconhecer que, algumas das técnicas utilizadas, não se identificam
com a "conduçáo pacífica das relações entre entidades políticas, os seus dirigentes e agentes acreditados", e que estas "entidades" não são apenas os estados, mas também outros actores, designadamente, transnacionais, das RI,
"aspecto este que constitui outra das características da 'diplomacia moderna'"
(Santos, 2009, 226; Jonsson, 2002, 213 e n.s). Assim,
"a diplomacia não é nem o simples sofisma moral da força, nem uma
técnica garantida para resolver pela negociação os conflitos entre estados, sem o recurso à mesma" (Watson, 1982,60, apudJõnsson, 2002,
213).
217
;<.
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Apesar destas caractenstlcas diferenciadoras da chamada "diplomacia
moderna", a permanência funcional das actividades da comunicação, da informação, da representação e da negociação, determinam exigências acrescidas
sobre a capacidade de adaptação dos processos e dos aparelhos diplomáticos
às características evolutivas do ambiente relacional. Neste sentido, regista-se
o recurso crescente a uma diplomacia de representação multilateral permanente. Trata-se de uma prática crescente de diplomacia colectiva ou de conferência, frequentemente chamada também "diplomacia parlamentar", embora esta designação possa revestir significados diferentes. Este tipo de
representação evoluiu ao longo do tempo, desde os contactos periódicos
iniciais e da realização de conferências regulares, passando pela formalização
processual que adquire expressão consagrada através de convenções, cartas
ou outros documentos fundadores e constitutivos das instituições internacionais.
As organizações internacionais representam, assim, um dos enquadramentos institucionais privilegiados pelos actores para o debate e para a afirmação
pública de perspectivas, posições, declarações e recomendações, bem como
para a elaboração e conclusão de acordos, tratados, convenções e outros instrumentos político-jurídicos, e ainda para o diálogo no sentido da prevenção,
gestão e resolução pacífica de conflitos e crises internacionais (Santos, 2009,
227), em cujo contexto se destacam os conceitos de "diplomacia preventiva"
(Boutros-Ghali, 1992) e de "diplomacia de crise" (Zorgbibe, 1990, 150-161).
No entanto, se
"[a] existência de areópagos do tipo da O .N.U. pode servir para dar ao
pequeno estado a percepção das tensões a nível internacional ou permitir aos seus delegados a oportunidade de iniciar contactos preliminares
( ... )[,] as negociações e as decisões têm lugar fora dali. A assembleia é
um excelente lugar para a propaganda mas é uma péssima estância para
o concerto" (Almeida, 1990,207).
Neste contexto, a diversidade das actividades e dimensões funcionais atribuídas à diplomacia, em interacção sinérgica com a multiplicidade de problemáticas transversais, de âmbito global, e cuja gestão e resolução implicam a
cooperação entre os estados, designadamente, em acções de governação local,
regional e global através de políticas públicas transnacionais. Este fenómeno
evidencia, por um lado, a evolução processual adaptativa do estado perante a
transformação evolutiva e acelerada do ambiente relacional, implicando, por
outro lado, a participação activa dos aparelhos diplomáticos e permitindo
concluir que,
218
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
"diplomacia
'cação, da inias acrescidas
:liplomáticos
:lo, regista-se
Lteral perma'a ou de connentar" , emEste tipo de
)s periódicos
formalização
nções, cartas
yões internalquadramena a afirmação
i, bem como
e outros insla prevenção,
;antos, 2009,
a preventiva"
10, 150-161).
dar ao
permiminares
obleia é
ciapara
1
ncionais atride de proble) implicam a
:rnação local,
;te fenómeno
ldo perante a
)licando, por
~ permitindo
"ao invés de estar facilitada, a diplomacia moderna é uma técnica e
uma arte ainda mais difícil que no passado, dada a lei da complexidade
crescente das relações internacionais" (Almeida, 1990,207).
6.2.3. As Funções da Diplomacia
A existência das missões diplomáticas e consulares permanentes e especiais,
bem como as funções dos respectivos agentes, encontram-se regulamentadas
pelas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de Abril de
1961, e sobre Relações Consulares, de 24 de Abril de 1963, que consignam
também, entre outros aspectos, as suas imunidades e privilégios, bem como os
procedimentos protocolares para diversos actos, nomeadamente, para a acreditação dos agentes, a organização das missões, o estabelecimento ou o corte
de relações diplomáticas. Por sua vez, a Convenção de Viena de 14 de Março
de 1975, dispõe sobre a Representação dos Estados nas suas Relações com as
Organizações Internacionais de Carácter Universal.
Neste contexto as funções da diplomacia convencional, na sua especificação
descritiva e normativa, são as que constam da referida Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, a qual fixa as funções da missão diplomática, designadamente, a representação do estado acreditante perante o estado
acreditador, a protecção dos interesses e a promoção da imagem, bem como dos
seus nacionais, residentes no território do segundo. Essas funções incluem ainda, negociar com o governo do estado acreditador, informar o seu governo sobre assuntos de interesse relativos ao estado acreditador, promover relações
amistosas e desenvolver as relações económicas, culturais e científicas entre ambos os estados. Referimos, também, anteriormente, que a Convenção de Viena
sobre Relações Consulares, de 1963, fixa um conjunto mais vasto de funções
consulares que, para além do seu carácter de extensão internacional de serviços
públicos do estado acreditante, se podem considerar, em alguns casos, complementares das funções da missão diplomática (Escarameia, 2003, 492, 507-508).
Neste contexto, as funções essenciais da actividade diplomática previstas
pelas Convenções referidas são a representação, a informação, que pressupõe a
comunicação, e a negociação, complementadas com as funções de protecção,
promoção e extensão externa do serviço público. A função de representação tem
como finalidade a afirmação da participação ou da responsabilização do estado representado, através da presença, por vezes activa, do seu agente diplomático, em actos sociais e oficiais, públicos ou particulares, no contexto do exercicio do direito de legação.
A informação constitui uma das funções mais importantes decorrentes do
direito de legação e consiste na recolha, análise, selecção e transmissão de ele-
219
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
mentos de informação sobre aspectos diversificados da vida do estado acreditador, obtidos por meios estritamente legais, junto de entidades públicas ou privadas desse estado, ou através da análise dos meios de comunicação locais, de
contactos institucionais e de outras fontes diversificadas, públicas e privadas,
formais e informais e que constituam informações de interesse para o estado
representado. Articuladas com a informação, as funções prevalecentes da representação e da comunicação têm registado processos evolutivos no plano das práticas diplomáticas, perante as exigências de adaptação das funções desempenhadas, ao contexto relacional, designadamente, aos novos actores e sub-actores, à
intervenção e participação directa de agentes estatais diferenciados, dirigentes
políticos e cidadãos privados, pelo aumento e diversificação da áreas de assunto,
pela complexidade crescente das agendas, designadamente, pela interactividade
gerada entre as respectivas questões e objectivos, bem como pelas novas dinâmicas dos processos globalizantes (Santos, 2009, 224-225).
A negociação consiste no estabelecimento e desenvolvimento de contactos
entre representantes de dois ou mais estados ou de outras entidades ou actores
estatais ou privados, no sentido de conseguirem uma concertação ou um consenso sobre procedimentos, perspectivas, posicionamentos e atitudes relativos
a interesses comuns ou recíprocos. Sendo, com alguma frequência, informal,
a negociação no plano diplomático reveste, geralmente um grau de formalidade restrito e constitui uma das funções normais do agente diplomático. Poderá, no entanto, assumir também um carácter formal, na medida em que pode
resultar na elaboração e estabelecimento de acordos sectoriais sobre áreas de
interesse comum entre os estados. A negociação formal, que pode ser conduzida por diplomatas será, no entanto, mais frequentemente conduzida por
agentes negociadores especialmente designados, que podem ser especialistas,
técnicos, ou estruturas estatais especializadas, num enquadramento especificamente elaborado para o efeito, tendo como objectivo a concretização formalizada de um instrumento jurídico, geralmente um acordo escrito, ou seja um
tratado ou convenção (Santos, 2009, 230). Neste sentido, a negociação poderá
ser considerada, num plano geral como um processo de "contactos entre Estados para concertarem entre si a resolução de problemas de interesse comum
ou recíproco" ou, num âmbito mais restrito, como "a concertação para se
chegar a um determinado acordo, geralmente escrito, sobre qualquer problema específico" (Magalhães, 1982,22-23).
Neste contexto, a actividade da negociação adquire centralidade tendencial
e importância acentuada, entre as práticas diplomáticas, sendo considerada
como o núcleo duro da diplomacia e com a qual, esta é frequentemente confundida, designadamente, no plano da resolução pacífica de conflitos internacionais, na medida em que, tanto a diplomacia como a negociação, se referem
220
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
ldo acredita,licas ou prião locais, de
5 e privadas,
ara o estado
ltes da repreano das prálesem penhaub-actores, à
IS, dirigentes
s de assunto,
teractividade
ovas dinâmi:te contactos
es ou actores
ou um condes relativos
ia, informal,
e formalidalático. Pode~m que pode
Ibre áreas de
e ser condunduzida por
especialistas,
:0 especifica~ação formaI, ou seja um
iação poderá
tos entre Es'esse comum
ação para se
quer ptoblete tendencial
considerada
emente conlitos internao, se referem
a uma "funcionalidade instrumental utilizada para a concretização daquela
finalidade específica" (Santos, 2009, 227). Assim, a prevalência da negociação
entre as funções da diplomacia, e do diálogo negocial entre as práticas diplomáticas, permitem considerar a diplomacia como
"a condução de relações internacionais pela negociação em vez da força,
da propaganda, ou do recurso ao direito e por outros meios pacíficos
(tais como a recolha de informação ou a criação de boa vontade) que
são directa ou indirectamente concebidos para promoverem a negociação" (Berridge, 2002, 1).
No mesmo sentido, Watson define diplomacia como as
"negociações entre entidades políticas que reconhecem mutuamente a
respectiva independência" (Watson, 1982, 33, apud Jõnsson, 2002, 217)
Tal como referido, a negociação pode constituir um instrumento decisivo
para a resolução pacífica de conflitos, ou ter objectivos mais limitados, enquanto
"meio para manter o contacto com o opositor e estabelecer um hábito
de comunicação que pode tornar-se útil no caso de crises ou emergências. Além disso, pode servir como substituto para a acção violenta ( ... ).
[A] informação obtida no processo de negociação é, por vezes, mais importante do que a resolução das questões" Qõnsson, 2002, 221).
De facto,
"a importância intrínseca da negociação decorre da sua própria natureza
processual, que envolve contacto, comunicação informação, dinâmica
relacional interactiva, pressupondo o aprofundamento dos níveis de
conhecimento mútuo, mesmo que o objectivo final de um desejado
entendimento, não seja alcançado. Neste sentido, Richelieu refere, no
seu" Testament Politique", que, independentemente dos resultados obtidos, o esforço negocial envolvido representa sempre um processo de
aprendizagem recíproca, um acréscimo de experiência, de informação e
de conhecimento mútuo, designadamente, sobre as causas, as posições,
as motivações, as intenções e o empenhamento dos actores envolvidos,
traduzindo-se sempre por uma futura capacidade potencial e nunca em
esforço perdido" (Santos, 2009, 229; ver, tb., Moreira, 2002, 75).
221
:'
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Mas a negociação pode também ser utilizada como táctica dilatória na gestão de crises e de conflitos, no sentido de potenciar o factor temporal da estratégia política. Com efeito,
"[O] lado negativo é que as negociações podem ser potenciadas com
propósitos de decepção, por exemplo, ganhar tempo para preparar o
futuro uso da força" aõnsson, 2002, 221).
A par da negociação, e enquanto modalidades de intervenção de uma terceira entidade, as actividades diplomáticas incluem o desempenho de funções
de bons ofícios e de mediação, de participação em inquéritos internacionais e
em processos de conciliação.
A promoção consiste num conjunto de actividades desenvolvidas no sentido de promover a imagem e a credibilidade do estado acreditante, bem como
o desenvolvimento de relações nos planos económico, comercial, cultural,
científico, etc., com o estado acreditador, através do aprofundamento do conhecimento mútuo, da iniciativa de difusão de informações sobre um estado
noutro estado, e de uma atitude dinâmica e proactiva por parte do agente
diplomático. De certo modo, toda a actividade diplomática, tendo como finalidade a defesa do interesse nacional identificado pela política externa em termos de objectivos e de linhas de acção política, envolve elementos de defesa e
de promoção dos interesses do estado, designadamente, através da diplomacia
económica, da diplomacia cultural e da chamada diplomacia pública que,
entre outros objectivos, procura promover a imagem do estado através da
demonstração da consistência e da coerência das respectivas políticas, pela
acção dos seus representantes diplomáticos.
A protecção pode ser considerada, num sentido abrangente, como a defesa de
todos os interesses do estado e dos seus cidadãos. No plano estritamente diplomático, ou seja, decorrente do direito de legação, a protecção consiste na defesa de
alguns direitos e interesses específicos do estado, nomeadamente, o cumprimento
de obrigações assumidas e a defesa de interesses patrimoniais. Relativamente aos
cidadãos, trata-se da defesa dos interesses pessoais e patrimoniais dos nacionais de
um estado, residentes ou em trânsito noutro estado, consistindo em questões de
carácter, essencialmente, mas não exclusivamente, jurídico. Com efeito, perante
determinadas conjunturas e situações que representem riscos agravados, as funções de protecção podem ser extensivas à salvaguarda dos interesses, da propriedade
e da integridade física dos cidadãos nacionais residentes no outro estado.
A extensão externa dos serviços públicos consiste, em termos genéricos, nos
serviços consulares prestados pelas secções consulares das embaixadas ou pelos
consulados, aos cidadãos nacionais residentes ou em trânsito noutro país, bem
222
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
[atória na gesporal da estra-
das com
eparar o
o de uma terho de funções
ternacionais e
'idas no sentite, bem como
"cial, cultural,
mento do co)re um estado
Ite do agente
do como finaICterna em ter:os de defesa e
ia diplomacia
pública que,
do através da
políticas, pela
no a defesa de
lente diplomáe na defesa de
cumprimento
ltivamente aos
)s nacionais de
m questões de
efeito, perante
lvados, as fun:la propriedade
stado.
~enéricos, nos
lCadas ou pelos
ltro país, bem
como aos meios de transporte e mercadorias em trânsito nesse outro país.
Trata-se, geralmente, de serviços de registo civil, notariado, serviço militar,
recenseamentos eleitorais, emissão de passaportes, ou de actos públicos e formalidades exigidas em relação aos meios de transporte e mercadorias em trânsito, desempenhados por agentes diplomáticos ou consulares.
Apesar da enumeração anterior poder ser considerada exaustiva relativamente às funções convencionadas, as missões desempenhadas pela diplomacia transcendem essas actividades articulando-se, objectiva ou potencialmente, com todos os interesses do estado acreditante. Assim, numa perspectiva extensa do
conceito de "interesse" do estado, e em circunstâncias determinadas, verifica-se
a utilização da diplomacia noutras missões relacionais, designadamente, na sua
dimensão instrumental, em processos de resolução pacífica de conflitos, perante o
dever do estado em contribuir para o apaziguamento internacional, de acordo
com o Art.o 2.°, n.O 3, e com o Art.O 33.° da Carta das Nações Unidas.
Neste sentido, as exigências impostas pelo ambiente relacional às actividades diplomáticas permitem verificar que o conteúdo conceptual, de certo
modo, abstracto, de "diplomacia pura" é de aplicação limitada, devendo ser
operacionalizado em relação à dinâmica globalizante da realidade internacional sem, no entanto, concluirmos, com Morgenthau, que a diplomacia inclui
"a formação e a execução da política externa a todos os níveis". Com efeito, o
facto de a diplomacia ter como "objectivo primário" a "promoção do interesse
nacional por meios pacíficos" (Morgenthau, 1993, 155, n.18; 361), implica
que "a formação e a execução" da política externa do estado transcendam as
funções e as capacidades instrumentais da diplomacia, na medida em que a
política externa pode incluir a utilização de meios violentos, ou seja, que se
situam fora do âmbito das actividades diplomáticas.
Para aquele autor, o "método de estabelecer as pré-condições para uma paz
permanente", é a "paz por acomodação", sendo a diplomacia o seu "instrumento" para a concretização desse objectivo. Neste contexto, na abordagem realista
da "política de poder", caracterizada por Morgenthau, a diplomacia enquanto
instrumento da política externa do estado ao serviço da "promoção do interesse
nacional por meio pacíficos", desempenha quatro funções fundamentais:
"determina os seus objectivos perante o poder actual e potencialmente
disponível para a concretização desses objectivos (. .. ), avalia os objectivos dos outros estados e o poder actual e potencialmente disponível
para a concretização desses objectivos ( ... ), determina em que medida estes diferentes objectivos são compatíveis uns com os outros ( ... )
[e] emprega os meios adequados à concretização dos seus objectivos"
(Morgenthau, 1993,361-363).
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
o mesmo autor considera ainda que "a falha de qualquer destas funções"
pode pôr em risco o "sucesso da política externa" e, em consequência, pôr em
risco "a paz no mundo", reconhecendo que, tal como referido,
"a diplomacia que acaba na guerra falhou o seu primeiro objectivo: a
promoção do interesse nacional por meios pacíficos (. .. ) [porque] a
tarefa final de uma diplomacia inteligente, empenhada em preservar a
paz, é escolher os meios apropriados à prossecução dos seus objectivos"
(Morgenthau, 1993,361-363).
6.2.4. Os Desafios Globais da Diplomacia Contemporânea
A utilização simultânea da diplomacia e da força violenta, as "formas substantivas" da "diplomacia do dólar" ou da "diplomacia nuclear", entre outras,
a extensão e a diversidade sectorial das novas missões não convencionadas,
mas desempenhadas pelos agentes diplomáticos, são complementadas com a
prática de actividades diplomáticas exercidas por funcionários internacionais
ou atribuídas a responsáveis políticos de outros enquadramentos departamentais, e mesmo por personalidades e entidades privadas. As formas diversificadas que adquirem expressão através desta dinâmica evolutiva
"constituem apenas algumas das modificações instrumentais objectivas
da diplomacia, derivadas, entre outros factores, das 'invasões' de novas
problemáticas e questões temáticas, sociais e globais, algumas das quais
altamente técnicas, que a diplomacia tem, actualmente, de enfrentar e
gerir" (Santos, 2009, 223; Marshall, 1999, 10-11).
Perante estas transformações substantivas da actividade diplomática, acentua-se a dificuldade em
"manter a distinção entre uma 'diplomacia pura' que pertenceria aos
diplomatas, e os contactos directos entre dirigentes políticos. São realidades entre as quais não há fronteiras e nada permite definir onde
acaba uma e começa outra (... ) Na realidade tudo se passa como se,
para além das categorias tradicionais de diplomatas, tivessem surgido
novas categorias de agentes do Estado nas suas relações exteriores (... ).
Por outro lado, a distinção entre o que é político e o que é diplomático
é também esbatida na parte que respeita à definição e orientação da
política externa"(Gomes, 1990,72-73).
224
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
tas funções"
lcia, pôr em
tivo: a
que] a
~rvar a
. "
CtlVOS
:ormas subs~ntre outras,
Tencionadas,
.tadas com a
ternacionais
iepartamens diversifica-
ectivas
novas
.s quais
entar e
!
nática, acen-
:ria aos
São reIr onde
,mo se,
;urgido
'es (... ).
'mático
lção da
Neste contexto, em termos de conceptual idade operatória, a distinção que
poderemos estabelecer entre a diplomacia tradicional e a "diplomacia moderna" identificada por Barston, situa-se,
"não tanto em relação à respectiva essência ou utilidade intrínseca, mas
antes pelas novas formas que assume e pelas competências de desempenho que as novas funcionalidades exigem" (Santos, 2009, 224; Gomes,
1990,72-73).
A complexificação da sociedade internacional, através do aumento do número de centros de decisão e dos níveis e sectores de relacionamento interactuantes, a velocidade e a globalização dos transportes e das comunicações,
entre outros efeitos da evolução tecnológica, determinou, a par da intensificação das interdependências e das evidentes limitações dos estados soberanos
perante as problemáticas comuns, um consequente aumento das missões diplomáticas junto dos governos estrangeiros .
Ao mesmo tempo, e para além do recurso crescente à representação multilateral permanente, verifica-se a intensidade crescente dos contactos gradualmente concretizados através de reuniões periódicas, conferências regulares,
frequentemente instituídas no âmbito de convenções e organizações internacionais.
O processo evolutivo das actividades e funções diplomáticas terá sido potenciado na sua génese, pelas novas concepções de relacionamento inerentes à
implementação da nova ordem internacional decorrente das resoluções e decisões adoptadas entre 1941 e 1945, com o fim da segunda guerra mundial.
O sistema da ONU e a prática generalizada de uma diplomacia de conferência, os direitos dos povos à autodeterminação e à independência, bem como
os consequentes processos de descolonização, originaram novas exigências de
resposta a uma comunidade internacional em mudança evolutiva, profunda e
acelerada, implicando a negociação de numerosos acordos com os novos estados saídos da descolonização, implicando extensões adaptadas dos conceitos
de autonomia, democracia e diplomacia.
Neste contexto, as "invasões" que induzem, actualmente, a transformação da
"velha" diplomacia numa "nova" actividade multifacetada e polivalente, na qual
adquirem relevância factores externos à esfera política, designadamente, à concepção, elaboração e condução da política externa, podem ser identificados em
vários sectores de interacção. Assim, o aprofundamento gradual das interdependências decorrentes da nova estrutura relacional, conferindo relevância às questões económicas, acentuaram a importância da chamada diplomacia económica, um conceito que, não sendo recente, adquire pertinência e actualidade
225
;o
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
(Santos, 2009a). Trata-se, com efeito, da articulação inevitável entre, por um
lado, a concretização optimizada de interesses económicos privados e públicos,
e, por outro lado, as sinergias inter-sectoriais público-privadas, e a indução exógena de factores de mudança, actuando em "linkage", sobre a formulação e a
implementação das políticas externas dos estados.
Ao mesmo tempo, a atenção acrescida da sociedade civil, designadamente,
de movimentos sociais, ONGs, grupos de pressão, comunidades epistémicas
e discursivas, etc., aos factos, acções, decisões e processos de desenvolvimento
das políticas externas, traduzindo-se numa participação activa em termos de
responsabilização dos dirigentes políticos, implica a exigência de uma maior
atenção à imagem dos aparelhos e das actividades diplomáticas perante as
opiniões públicas, no sentido da preservação da legitimidade política subjacente às acções empreendidas, originando a conceptualização de uma diplo-
macia pública.
O acesso das opiniões públicas e dos eleitorados a um conhecimento
mais profundo e diversificado, potenciado pela aplicação generalizada de
novas tecnologias de comunicação e de informação, permitem o acompanhamento permanente dessa actividade implicando, também, capacidades
acrescidas e diversificadas, perante as novas problemáticas emergentes. Este
facto evidencia a relevância do relacionamento do aparelho diplomático
com públicos diversificados, onde se situam os referidos eleitores que, em
última análise, legitimam os governos e as acções dos dirigentes políticos,
em todos os sectores da vida política dos estados, incluindo a política externa. Neste contexto, identificam-se as exigências da referida diplomacia pública que, superando o carácter da propaganda, originalmente atribuída à
expressão, desde os anos 1960, tende a desenvolver instrumentos e mecanismos inovadores de "relações públicas", adaptados à sociedade da informação em termos de esclarecimento de factos e situações em tempo real, sem
por isso deixar de ser estrategicamente utilizada como veículo de promoção
objectiva dos estados e dos valores e ideais subjacentes às respectivas políticas externas.
Com efeito, as "novas questões" globais perspectivadas através das novas
tecnologias da informação, originam novas "linguagens" e conceitos aumentando, ao mesmo tempo, a capacidade de acesso à informação em tempo real,
determinando novas formas de abordagem e tratamento dos conteúdos e influenciando estrategicamente as percepções dos "públicos atentos". Neste
contexto, a diplomacia é confrontada com novas exigências de resposta pública a problemáticas muito diversificadas, que vão desde as referidas questões
globais, até aos direitos humanos, com implicações políticas e humanitárias
cruciais, como as que derivam da ingerência humanitária.
226
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
tre, por um
; e públicos,
ndução exómulação e a
nadamente,
epistémicas
lvolvimento
!1 termos de
uma maior
; perante as
lítica subjauma diplonhecimento
~ralizada de
o acompacapacidades
gentes. Este
iiplomático
res que, em
es políticos,
)lítica exter-
lo macia púatribuída à
se mecanisda informaJO real, sem
e promoção
:tivas polítiés das novas
:itos aumenI tempo real,
lteúdos e inltos". Neste
oposta públidas questões
lumanitárias
Entre as primeiras, poderemos referir as questões ambientais, ecológicas e
climáticas, as catástrofes naturais e as pandemias. Entre as segundas identificam-se as catástrofes provocadas, como os atentados terroristas, os tráficos
ilegais, as problemáticas populacionais, demográficas, dos refugiados, da pobreza, da fome, da educação, do saneamento básico, da discriminação social
baseada em pressupostos, étnicos, religiosos, nacionais ou de género, do acesso aos recursos básicos, entre muitos outros.
Neste contexto a "questão social", do desenvolvimento e da qualidade de
vida, adquire relevância decisiva no plano de elaboração das políticas e dos
programas de governo, com incidência inequívoca e inevitável na condução
das políticas externas e, consequentemente, nas exigências de capacidade de
resposta por parte das instâncias diplomáticas e dos seus agentes (Marshall,
1999, 10-11: Webber, Smith et all., 2002, 21-45).
As transformações ocorridas no ambiente relacional, e a consequente evolução adaptativa dos aparelhos e das práticas diplomáticas anteriormente referidas, reflectindo-se na complexificação das agendas políticas e diplomáticas, têm
originado formas de contacto e de relacionamento que se podem considerar,
pela sua natureza, articuladas ou afins, da diplomacia. Assim, para além da referida diplomacia colectiva, multilateral ou de conferência, assiste-se, actualmente, ao desenvolvimento de uma "diplomacia associativa" entre organizações internacionais, designadamente, de âmbito regional; identifica-se também uma
"diplomacia catalítica", envolvendo actores estatais e não estatais, designadamente, empresas multinacionais e ONGs.
Poderemos considerar ainda uma "paradiplomacia", "diplomacia transgovernametal" ou "transdepartamental", que se processa através dos canais de contacto directos entre departamentos estatais diversificados ou homólogos, entre
países diferentes. Continua a verificar-se o desenvolvimento de uma "diplomacia paralela" que adquire expressão através dos contactos informais entre sectores políticos, frequentemente, entre as oposições políticas de países diferentes,
bem como uma "diplomacia parlamentar" desenvolvida entre os membros dos
parlamentos e respectivos órgãos.
Acresce a toda esta diversidade de canais de contacto, uma "diplomacia
oficiosa" ou "privada", desenvolvida por entidades privadas, à margem dos estados, mas também, e frequentemente, por delegação oficiosa dos respectivos governos, em cujo contexto se verificam os referidos actos concertados não-convencionais, designadamente, a chamada da "track two diplomacy "ou a "multi-track
diplomacy", e a "shuttle diplomacy" desenvolvida através de contactos oficiais ou
oficiosos mas indirectos, entre estados adversários, envolvendo uma terceira entidade mediadora. Deveremos reconhecer, também, a génese e a dinâmica desenvolvida por uma "diplomacia dos cidadãos", originada nas interacções e na
227
ELEMENTOS DE ANÁLISE
~E
POLÍTICA ExTERNA
capacidade de intervenção de grupos, movimentos, redes sociais e outros actores
da sociedade civil, (Santos, 2009, 225; Jõnsson, 2002, 216).
Finalmente, deveremos acentuar a importância da chamada "diplomacia
dos media" que, não correspondendo ao resultado de um processo de actualização adaptativa da propaganda, se insere entre as práticas diplomáticas inerentes à diplomacia pública, anteriormente referida. A exploração dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos aplicados às novas dimensões
interactivas da informação e da comunicação utilizadas pelos media e pelos
aparelhos diplomáticos potenciam, assim, as dinâmicas e as sinergias resultantes da multiplicidade dos canais de contacto, colocados ao serviço dos objectivos da política externa, identificados como de interesse nacional (Santos,
2009,225).
6.3. - A Propaganda
A implementação da política externa desenvolve-se de acordo com lógicas
processuais e decisórias, subjacente às quais se reconhece a estratégia adoptada
de condução de linhas de acção política e de concretização de objectivos determinados. Na condução da política externa tornou-se frequente a utilização
articulada e complementar de métodos e instrumentos de exercício de influência directa pelos aparelhos de decisão de um estado, sobre as populações de
outro ou de outros estados.
Com efeito, todos os estados dispõem de meios que lhes permitem conhecer, relativamente aos outros estados que são seus parceiros negociais, o grau
de suporte ou rejeição das populações perante as acções externas dos seus governos, o que lhes permite modular ou alterar as suas estratégias no plano relecional das negociações, ou complementá-lo com acções directas de influência sobre as populações que, por sua vez pressionarão os seus respectivos
governos.
Este processo verifica-se, quer através da participação activa na organização
de movimentos e de forças de pressão no plano doméstico do outro país, quer
através do apelo directo veiculado, entre outras formas, pelos meios de comunicação social, conferindo conteúdo operacional e expressão instrumental ao
conceito de propaganda.
Trata-se de acções conjugadas em prazos diferenciados, geralmente longos,
mas por vezes mais curtos, ainda que não directamente ligadas a uma situação
específica e nem sempre aplicáveis, já que a alteração dos objectivos no médio
prazo e a reorientação táctica das acções, por vezes a muito curto prazo, podem tornar-se incompatíveis com o longo prazo inerente a algumas acções de
fundo da estratégia instrumental da propaganda, podendo mesmo verificar-se
228
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
ros actores
liplomacia
de actual iáticas ineios desendimensões
{ia e pelos
s resultandos objecti (Santos,
)m lógicas
l adoptada
:ctivos deutilização
) de influulações de
:m conhe:tis, o grau
)s seus goI plano rele influênespectivos
'ganização
país, quer
de comumental ao
lte longos,
a situação
no médio
Jrazo, poacções de
"erificar-se
efeitos contrários, imponderáveis e limitadores potenciais das consequências
das acções.
O exercício da propaganda articula-se directamente com a relevância crescente da opinião pública e dos eleitorados nos processos de decisão em política externa. No entanto, a importância da opinião pública na vida política é
um fenómeno relativamente recente. Decorre da respectiva capacidade de
exercício de influência e está directamente ligada à alfabetização gradual das
populações, à democratização progressiva dos regimes e à evolução das técnicas de comunicação de massas e das tecnologias da informação. A partir de
meados do século XIX, os governantes passam a considerar a opinião pública
como uma constante de análise elementar, ainda que não necessariamente
determinante, nos processos de tomada de decisão. Desde a guerra da Crimeia, em 1856, a opinião pública é confrontada, através da imprensa, com os
efeitos das decisões governamentais no âmbito da política externa, e as origens
do conflito Franco-Prussiano de 1870 confirmam o poder da imprensa no
plano da política internacional, através das reacções emocionais que provoca
e das atitudes de participação política activa que desencadeia entre as populações, bem como das reacções dos dirigentes políticos às inerentes expectativas.
N a transição para o século XX, as conferências da Haia, as duas guerras
mundiais e o desenvolvimento globalizante dos meios de comunicação vieram
conferir à opinião pública um poder efectivo de influência crescente e, por
vezes, decisiva na formulação e na execução das políticas. A diplomacia dos
media, anteriormente referida, evidencia as exigências de gestão política da
opinião pública.
O reconhecimento deste fenómeno permite afirmar que
"a capacidade de conseguir e manter o apoio da opinião pública para a
política externa que entende convir ao País é dos grandes desafios que
se põe a qualquer governo" (Barata, 1989, 17).
Sucede, também, que o alheamento generalizado das populações em relação às problemáticas da política externa, parece constituir um facto em todos
os regimes políticos, apesar de mais atenuado no caso dos regimes democráticos, devido à ausência de informação correcta e abrangente sobre as questões
em debate, bem como sobre a respectiva evolução e contextualização. Mas
este afastamento em relação às questões da política internacional pode constituir, também, segundo alguns autores, uma vantagem acrescida para o sucesso
do instrumento da propaganda.
Neste sentido, Walter Lippmann considerava, em meados da década de
1950, que a falta de conhecimento das massas populares relativamente à ava-
229
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
liação da política externa, designadamente, da guerra e da paz, constituía um
fenómeno natural porque
"[a]s decisões estratégicas e diplomáticas exigem um tipo de conhecimento ( ... ) que não pode ser conseguido através do folhear dos jornais,
de se ouvir comentários fragmentados na rádio, de se ver os políticos
exibirem-se na televisão, de se assistir a conferências ocasionai s e de se
ler livros" (Lippmann, apudRosenau, 1990, 146 e n. 10; ver tb., idem,
145-147 e n.s).
Perante este afastamento generalizado da sociedade em relação às problemáticas da política externa, a manipulação das massas populares e a persuasão
indutora das opiniões através das técnicas de propaganda, estaria facilitada
(Rosenau, 1990, 146; Santos, 2011, 292).
Dependendo, consideravelmente, do grau de desenvolvimento cultural das
populações (Almeida, 1990, 179-198) e das suas capacidades de acesso à informação, o fenómeno parece verificar-se
"porque os problemas da política externa são raramente de entendimento fácil para a maioria, por escaparem à experiência imediata
dos cidadãos, porque muitas vezes exigem prossecução de objectivos
segundo processos em que a transparência porá em causa a eficácia,
porque com frequência acarretam custos que não parecem proporcionados aos benefícios, porque facilmente as inevitáveis querelas
políticas internas entre o governo e os seus opositores levam a desvirtuar o sentido do que se está a fazer, porque a rotação ordinária
de funções faz mudar o pessoal político dirigente ... " (Barata, 1989,
17).
Derivada da inovação científica e tecnológica aplicada às áreas da informação e da comunicação, verifica-se, actualmente, uma evolução acentuada no sentido do aumento da atenção das populações às questões de política externa, designadamente, pela sua percepção sobre a influência que
os desenvolvimentos da política internacional têm sobre os seus interesses
e expectativas individuais, bem como pela consciencialização das suas capacidades de intervenção acrescidas pela dinâmica transnacional das interacções sociais. Apesar disso, regista-se ainda uma tendência manifesta das
populações para a desvalorização das questões de política externa, em termos da sua hierarquia de interesses culturais, políticos e mesmo socioeconómicos.
230
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
Instituía um
nheciJenais,
,líticos
e de se
idem,
o às proble. a persuasão
'ia facilitada
cultural das
;0 à informa-
entenlediata
~ctivos
icácia,
ropor.lerelas
a desfinária
1989,
~as da inforlção acentustões de poHuência que
us interesses
das suas canal das intelanifesta das
rna, em ter10 socioeco-
Esta hierarquia de prioridades condiciona o relacionamento entre governantes e governados actuando em permanência e em graus diferenciados, não
apenas em termos do debate democrático sobre a política externa de um estado, como sobre a sua extensão, limites e profundidade. Neste contexto, as
elites que em cada estado se ocupam, ou de algum modo se interessam, por
aquelas questões, funcionam, de facto, como referenciais de formação da opinião pública sobre a realidade internacional, condicionando o nível de percepção e determinando a perspectiva de abordagem das políticas externas,
quer do seu próprio estado, quer dos outros estados envolvidos no processo
relacional. Este facto, que conduz frequentemente à confusão entre opinião
pública e opinião publicada, permite orientar e controlar a percepção condicionada pela perspectiva contextualizante e pela acentuação diferenciada dos
factos, inserindo a opinião pública
"numa estratégia de legitimação e de contralegitimação (... ) como arma
de mobilização política C.. ), enaltecida e denegrida, exaltada como fonte de legitimidade e criticada como responsável pela manipulação da
própria vontade popular" (Rodrigues, 1986).
A característica fluidez evolutiva do fenómeno comportamental das populações, o grau acentuado de imprevisibilidade das suas reacções, a deficiente
informação generalizada e a consequentemente limitada capacidade de discernimento sobre questões de política externa, a espontaneidade de congregação
em torno de ideias-chave de fácil apreensão e a rapidez de adesão a movimentos circunstancialmente convertidos em forças de pressão organizada, conferem uma significativa efectividade à intervenção de grupos de interesse, de
movimentos e de redes sociais objectivamente constituídos e oportunamente
actuantes. No entanto, e ao mesmo tempo, a vulnerabilidade das populações
às influências exteriores inerentes à globalização das comunicações, tornam a
opinião pública, enquanto força de pressão transnacional não organizada,
numa realidade social estrategicamente influenciável e manipulável, a considerar em permanência no desenvolvimento dos processos decisórios e das acções de política externa.
Neste contexto, no plano da política externa, a opinião pública, enquanto
actor transnacional, representa, por um lado, uma força de pressão potencial,
cuja activação e desenvolvimento orientado pela propaganda, podem actuar
como catalisadores das atitudes e dos comportamentos das massas populares
e se podem traduzir em consideráveis alterações nos processos político-estratégicos. Mas, por outro lado, constitui um elemento indutor de potenciais
problemáticas específicas para as quais nem sempre existem soluções concre-
231
"
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA
ExrERNA
tas, e que exigem acções de intervenção política no sentido do exercício da
influência persuasiva ou indutiva. Quando este exercício tem por alvo a opinião pública, utiliza, entre outros, os instrumentos da propaganda, da diplomacia pública e da acção cultural que, em última análise, se articulam e identificam com as estratégias do "50ft power" e do "smart power", no sentido do
objectivo a que Walter Lippmann se referiu como a "fabricação do consentimento" (Lippmann, apudGore, 2007, 20, e n.10).
"A importância da propaganda como instrumento da política internacional está relacionada com a função da opinião pública mundial.
(... ) ... [O] mundo é cada vez mais uma unidade, mas o simples facto
de se ter tentado e podido mobilizar a opinião pública mostra que se
trata de alguma coisa que pode ser produzida, condicionada, manejada,
independentemente da sua correspondência a uma exacta informação
e valoração dos factos. (... ) A relação evidente entre a opinião pública mundial, o cumprimento das regras internacionais e o interesse do
Estado Nacional transformou a propaganda num sério problema de
governo. (... ) O problema da imagem dos povos é o ponto de referência
central desta problemática" (Moreira, 1970,36-38).
Estas afirmações, que estabelecem explicitamente uma relação entre opinião pública mundial e propaganda, como instrumento de política externa,
não incluem, no entanto, todas as virtualidades operacionais do conceito de
propaganda.
De facto, as populações visadas pela propaganda nem sempre se encontram além-fronteiras não podendo, portanto, ser consideradas colectivamente
como opinião pública "mundial" nem mesmo internacional e, por outro lado,
a noção de propaganda baseada nas técnicas referidas e efeitos objectivamente
produzidos sobre a opinião pública, limita a sua operacionalidade conceptual
na medida em que permite a confusão com noções como as de acção cultural,
de acção clandestina e de desinformação, entre outras. Se, a tudo isto juntarmos as problemáticas inerentes e interactivas da comunicação, da psicologia,
da semiótica, da simbologia e da imagem, tornar-se-á evidente a dificuldade
de estabelecer o conteúdo, ainda que simplesmente operacional, do conceito
e, talvez por isso, "as definições de propaganda são tão abundantes como os
livros e artigos que se escreveram sobre o assunto" (Holsti, 1974,212).
O termo propaganda utilizado num contexto político e, mais especificamente, no âmbito restrito da política externa, significa o conjunto de instrumentos e de técnicas, através do qual se difundem, publicitam ou divulgam
ideias, práticas ou intenções e objectivos, com a intenção deliberada de in-
232
INSTRUMENTOS DA POLiTICA ExrERNA
exercício da
r alvo a opi'a, da diplolIam e iden) sentido do
lo consenti-
intermdial.
, facto
que se
lejada,
mação
públisse do
ma de
'rência
entre opi:ica externa,
conceito de
J
'e se enconectivamente
, outro lado,
ectivamente
: conceptual
;:ão cultural,
isto juntarL psicologia,
dificuldade
do conceito
tes como os
212).
especificao de instruIU divulgam
:rada de in-
fluenciar os indivíduos visados, no sentido de os fazer conhecer e partilhar
essas ideias e, através de uma eventual alteração de percepções, promover a
respectiva aceitação ou, pelo menos, de evitar a obstrução àquelas práticas e de
compreender e colaborar, se possível, na prossecução dos objectivos do emissor, através da influência exercida pelos destinatários sobre os respectivos dirigentes políticos, aparelhos e processos decisionais.
Apesar das limitações referidas continua, no entanto, a ser possível incluir
no conteúdo operacional do conceito de propaganda o desenvolvimento de
práticas específicas, o controlo dos graus de intensidade e da veracidade da
informação, e de agressividade de meios e técnicas que, correspondendo também aos objectivos finais do instrumento propaganda, afastam a definição da
operacionalidade conceptual desejada.
Assim, se o contexto político visado é totalitário, a propaganda pode adquirir
aspectos de subversão ou de acção clandestina. Num contexto democrático poderemos, pelo contrário, equipará-la a qualquer outra forma de comunicação e, arriscando uma aproximação sensível à noção de publicidade, empenhada em vencer a
concorrência numa situação de competitividade intensificada, defini-la como
"um esforço deliberado no sentido de influenciar a opinião pública sobre questões controversas e em favor de uma dada preferência política"
(Melich, 1986),
ou ainda como
"uma tentativa dos governos, através dos diplomatas e dos propagandistas, para influenciarem as atitudes e os comportamentos de populações
estrangeiras, ou de grupos étnicos, de classe, religiosos, económicos ou
linguísticos específicos ( ... ), que por sua vez influenciem as atitudes e
as acções dos seus próprios governos" (Holsti, 1995, 152).
Assim, no contexto da política externa, a aplicação da propaganda
"consiste principalmente em esforços para alterar a imagem cognitiva e
emocional da realidade que alguns ou todos os membros do país 'alvo'
têm, para os fazer agir de acordo com os desejos dos governantes do
país propagandista" (Deutsch, 1978, 166).
5
A precisão possível dentro de uma desejável conceptualidade operatória de
propaganda, parece próxima da definição proposta por Terence H. Qualter
que considera propaganda como
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
"a tentativa deliberada de um indivíduo ou grupo para formar, controlar ou alterar as atitudes de outros grupos através da utilização de instrumentos de comunicação, com a intenção de, em qualquer situação,
a reacção dos indivíduos influenciados ser a desejada pelo propagandista ... Na fase de 'tentativa deliberada' reside a ideia chave de propaganda. É isto que diferencia a propaganda da não-propaganda... Parece,
pois, evidente, que qualquer acto de promoção pode ser propaganda
apenas e quando se tornar parte de uma campanha deliberada para
induzir acções através do controlo de atitudes" (Qualter, apud Holsti,
1974,212 e n.l).
Kimball Young acentua, por seu lado, a acção, considerando propaganda
como
"a utilização mais ou menos deliberada, planeada e sistemática de símbolos, principalmente através da sugestão e das técnicas psicológicas
relacionadas, com vista a alterar e controlar opiniões, ideias e valores
e, em última análise, converter as acções declaradamente assumidas segundo linhas predeterminadas" (Young, apudHolsti, 1974,212 e n.2).
Mas talvez a dificuldade de se encontrar um conteúdo conceptual operatório possa ser definitivamente ultrapassada se considerarmos que ela reside na
própria natureza da propaganda que, de acordo com as definições anteriores,
"envolve essencialmente um processo de persuasão" não podendo constituir
objecto de um "discurso lógico ou de investigação dialéctica", assentando antes
"em selecções de factos, explicações parciais e respostas predeterminadas. O conteúdo da propaganda é, por isso mesmo, raras vezes completamente 'verdadeiro', mas também não é totalmente falso, como
tão frequentemente se julga. O propagandista está empenhado em maximizar o poder de persuasão e não em respeitar procedimentos académicos padronizados ou em descobrir um facto novo. A tendência
comum de equacionar propaganda com falsidade pode, ela própria, ser
resultado da propaganda" (Holsti, 1974,212-213; idem, 1995, 154).
A aplicação do conceito de propaganda à área específica da política externa,
envolve uma acentuada diversidade de meios, bem como uma pluralidade
assinalável dos objectivos a alcançar e exige, por consequência, um alargamento operacional do conteúdo. Assim, se a formação, projecção e optimização da
234
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
ntroe insação,
.ndisaganuece,
;anda
para
lolsti,
imagem de um país, de um povo ou de um governante, a divulgação activa da
sua identidade, cultura e valores fundamentais, a mobilização e a manutenção
sustentada de apoios por parte a comunidade internacional, constituem interesses nacionais permanentes convertidos em objectivos concretos na formulação da sua da política externa e ao serviço dos quais se pode, eventualmente,
utilizar o instrumento propaganda, o principal objectivo desta será antes, o de
)ropaganda
e, se possível, para conseguir a sua colaboração.
Os meios de comunicação utilizáveis, designadamente, os media, bem
como as atitudes, opiniões e comportamentos a influenciar e a alterar dependem dos objectivos específicos da acção de propaganda, do contexto político
internacional em que ela se desenvolve e do tipo de audiência à qual a mensagem é dirigida.
símSgicas
alores
las se: n.2).
!
lal operatóla reside na
: anteriores,
:> constituir
:ntando an-
minacomcomo
nmas acaiência
"ia, ser
154).
:ica externa,
pluralidade
alargamenimização da
"influenciar numa determinada direcção os ambientes domésticos dos
decisores dos outros estados para reduzir a sua capacidade de oposição"
(Reynolds, 1980, 136)
"A efectividade da propaganda como instrumento para atingir objectivos depende, pois, da susceptibilidade do alvo e da disponibilidade de
meios técnicos apropriados para explorar essa susceptibilidade" (Reynolds, 1980, 136).
Os meios de comunicação utilizáveis não dependem apenas dos recursos
do país que desencadeia a acção, mas também da sua aplicabilidade condicionada, entre outros, por factores geográficos, alcance efectivo dos meios e tecnologias disponíveis no país receptor, grau de cultura das populações, designadamente, do estrato populacional visado, orientação sociológica específica
da mensagem, etc. Ao mesmo tempo, poderão ser utilizados actores, departamentos e organizações não estatais, no sentido de conferirem maior isenção,
credibilidade e independência à mensagem, e de estabelecerem mais facilmente articulações e interacções com grupos da sociedade civil da audiência doméstica dos outros estados e que, por sua vez, terão maior influência sobre os
seus próprios governos (Holsti, 1995, 153).
A acção de propaganda, em si mesma, pode ser uma acção de longo prazo
que tenha como finalidade suscitar da atenção da população alvo, a sua predisposição emocional, a criação de um sentimento de empatia de uma população, para o apoio tendencialmente tácito à política do propagandista, em
caso de necessidade, através da construção de uma imagem favorável do país
emissor (Holsti, 1995, 153); pode constituir uma campanha particular, de
235
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
médio ou curto prazo, para influenciar atitudes determinadas em relação a
uma conjuntura específica; pode desenvolver-se através da articulação entre
estas duas fases, na qual, a segunda surge como reforço circunstancial da primeira, perante situações determinadas. No entanto, os efeitos podem ser inesperados e mesmo adversos. A própria complementaridade processual pode
inverter o sentido da influência.
Esta verificada evidência da possibilidade concreta de resultados negativos
revela, na prática, que a propaganda, sendo um instrumento versátil pela diversidade técnica disponível e pelo vasto campo de aplicação e desenvolvimento, é
também extremamente subtil, sensível e vulnerável aos erros de percepção do
propagandista, derivados do respectivo desconhecimento sobre a realidade sociológica visada, podendo tornar-se súbita e inesperadamente frágil.
A dificuldade e, por vezes, a impossibilidade do controlo e da rectificação
da perversidade dos efeitos sugere, por consequência, que a utilização indiscriminada da propaganda pode constituir um risco elevado, devendo proceder-se
com as precauções inerentes à monitorização do desenvolvimento quotidiano
da realidade internacional e nacional do país alvo, no que concerne à verificação contínua da adequação dos meios, da orientação sociológica e da alteração
do grau de validade do teor da mensagem, na perspectiva da população destinatária, e de uma permanente avaliação interactiva dos resultados.
A população alvo é, por último, seleccionada segundo critérios múltiplos,
nomeadamente, a faixa etária, o estatuto político, o estrato social, a etnia, a
religião, a ideologia, a profissão, o sexo, a situação geográfica, etc., dependendo do objectivo específico de alteração de atitudes, opiniões ou comportamentos que, através da influência persuasiva, se pretende conseguir. Com
efeito, vários estudos de psicologia e sociologia sugerem ser mais fácil conseguir resultados de alteração de atitudes em pequenos grupos seleccionados
segundo critérios associativos ou de semelhança por identificação mútua, do
que em relação a toda a população de um país. Tal como referido, estes pequenos grupos de elite ou de "públicos atentos" poderão colaborar na divulgação posterior da mensagem, através dos formadores de opinião. A concretização do objectivo da propaganda torna-se, assim, mais efectivo se forem
seleccionados como alvo, grupos ou indivíduos que partilhem, "pelo menos
parcialmente", algumas semelhanças de atitude com o propagandista (Holsti,
1974,213-219; idem, 1995, 156). No entanto, em certos casos, "a propaganda parece ser mais efectiva quando dirigida às multidões", na medida em que,
"as atitudes e as crenças são mecanismos que satisfazem o ajustamento social"
(Holsti, 1995, 156).
Neste contexto, talvez o aspecto mais importante, em termos de população
alvo, seja o conhecimento aprofundado por parte do propagandista, sobre a
236
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
relação a
ação entre
:ial da prim ser ines5sual pode
realidade sociológica considerada, a aferição precisa do seu grau de desenvolvimento socioeconómico e expectativas inerentes, desenvolvimento cultural e
escolaridade, mentalidade, princípios éticos e religião, atitudes e hábitos comportamentais, crenças, aspirações e arquétipos legitimadores, como condição
prévia de qualquer tipo de acção de propaganda.
; negativos
pela divervimento, é
rcepção do
alidade so-
"U ma das maiores falhas de parte considerável da informação concebida para alterar as atitudes de audiências estrangeiras é a sua falta de
subtileza - ou a incapacidade do propagandista para perspectivar a realidade a partir do ponto de vista dos outros" (Holsti, 1974,236).
1
ectificação
io indiscri•roceder-se
luotidiano
: à verificaa alteração
ação destimúltiplos,
, a etnia, a
dependencomportaguir. Com
acil conse-
Este tipo de incapacidade, cuja superação se torna decisiva para a eficácia
instrumental da propaganda, aparece com frequência acentuada, embora em
graus diferenciados, no caso das acções de propaganda desenvolvidas pelas
superpotências .
Uma das tarefas do propagandista será, pois, a de
"encontrar os grupos-chave na sociedade e determinar que tipo de apeIo ou atracção determinará a resposta desejada por parte dos grupos
seleccionados" (Holsti, 1995, 155).
Uma vez seleccionado o universo sociológico alvo, a propaganda desenvolve-se através de estratégias de impacto dirigidas à concentração das atenções,
seguidas da aplicação de várias técnicas, não necessariamente específicas da
propaganda política, mas sócio-psicologicamente adaptadas às populações a
influenciar. Com efeito,
~ccionados
mútua, do
), estes per na divul'\ concreti) se forem
•elo menos
;ta (Holsti,
propaganda em que,
nto social"
população
ita, sobre a
"numa era em que as atitudes e os comportamentos populares podem
afectar de forma vital as relações diplomáticas entre os estados, a utilização de instrumentos de psicologia política tornar-se-á progressivamente
importante para criar o enquadramento de atitudes em que a predisposição de resposta aumente e onde o exercício da influência através de
punições e recompensas seja decisiva" (Holsti, 1974,238) .
No entanto, apesar da tendência para o crescente recurso à propaganda,
sem dúvida, determinada pela progressiva facilidade de acesso às populações
através dos meios de comunicação e do seu efeito globalizante, a sua eficácia,
enquanto instrumento da política externa especificamente destinado ao exercício da influência persuasiva dependerá sempre, e para além das problemáticas determinantes da comunicação e da percepção já referidas, do contexto
237
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
internacional, das circunstâncias específicas de condução da política externa e
da natureza intrínseca dos objectivos, ou do diferendo entre os estados envolvidos.
Os limites operacionais da propaganda evidenciam-se, pois, não apenas no
seu âmbito de aplicação possível, mas também no plano da sua capacidade
efectiva, condicionada pelo grau de instrumentalidade variável, traduzido em
termos do carácter aleatório da previsibilidade dos efeitos obtidos, nem sempre favoráveis aos objectivos definidos. Em última análise, o conhecimento
que o emissor possuir sobre a sociedade alvo, bem como a sua capacidade interactiva e de gestão estratégico-relacional, tornam-se factores processuais críticos e indicadores de previsão decisivos, permitindo aferir o grau de sucesso
expectável do exercício da inBuência através da propaganda.
6.4. - A Acção Económica
A utilização de instrumentos de carácter económico na condução da política externa decorre da dinâmica interactiva que se estabelece entre os processos políticos e os processos económicos. As sinergias decorrentes dessa interacção contribuem, por um lado, para a definição de uma hierarquia das potências
e, por outro lado, condicionam objectivamente os padrões de relacionamento
inerentes à gradual idade diferenciada da dependência efectiva.
Os fenómenos a que nos referimos articulam-se, entre outros, com os conceitos de cooperação e de interdependência. A cooperação, assumindo formas
diversificadas, desenvolve-se a través de um conjunto de acções articuladas em
sectores diferenciados, mas convergentes no objectivo central da concretização de objectivos definidos em termos de interesse nacional no plano da política externa do estado cooperante, através da respectiva participação no desenvolvimento de projectos específicos inseridos nos objectivos políticos do
estado com o qual se estabelece a relação de cooperação.
A implementação e o desenvolvimento de processos de cooperação, constituem uma opção política voluntária. Neste contexto, em termos gerais e de
princípio, esses processos devem proporcionar benefícios concretos a todas as
partes envolvidas, ainda que a respectiva distribuição não seja necessariamente equitativa. Com efeito, o cálculo dos benefícios absolutos depende das referências, expectativas, prioridades objectivas e hierarquias dos interesses nacionais de cada estado envolvido.
Contrariamente à cooperação, a interdependência caracteriza um contexto de
interacção relacional decorrente da inevitabilidade. Pode ser definida, na sua aplicação ao contexto internacional, como "as situações caracterizadas por efeitos recíprocos entre estados" (Keohane e Nye, Jr., 1989, 8). O fenómeno verifica-se e
238
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
externa e
ios envol-
l
apenas no
apacidade
luzido em
nem semlecimento
cidade in~ssuais críde sucesso
io da políos processa interac; potências
onamento
)m os condo formas
:uladas em
:oncretiza10 da políI no desen>líticos do
'tio, consti-
gerais e de
; a todas as
ssariamenlde das reeresses naontexto de
na sua aplir efeitos re{erifica-se e
desenvolve-se nwn contexto internacional caracterizado pela desigual distribuição
de recursos económicos o que, em termos analiticos globais, representa wna das
constantes que determinam a natureza e o grau das necessidades de wn estado.
A complexificação progressiva das interdependências, característica inequívoca da comunidade internacional, deverá, no entanto, ser perspectivado
através das suas inerentes implicações. Assim, mais do que dependência mútua, a interdependência constitui, necessariamente, uma restrição à autonomia
e à independência dos estados na medida em que envolve custos, traduzidos
na imperatividade de certos comportamentos. Por outro lado, a característica
da inevitabilidade, inerente ao conceito de interdependência, determina que,
se esses custos forem superiores aos benefícios conseguidos, se esteja perante
uma situação de interdependência assimétrica tendencialmente conducente
ao exercício eventual da força, em substituição do exercício da influência,
principalmente nos contextos em que as capacidades e a lógica do poder militar dominem sobre as outras capacidades e formas de exercício do poder
(Santos, 2009, Cap. 11).
Neste contexto, as situações de interdependência não significam garantia
de benefícios ou vantagens, identidade inevitável de interesses, ausência de
relações conflituais, nem mesmo de recurso à violência. Quando existem alternativas ao parceiro de relacionamento preferencial, a excessiva assimetria
das interdependências pode induzir uma alternância efectiva dos alinhamentos, cujos efeitos políticos, económicos e estratégicos transcendem, com frequência, os resultados dos exercícios prospectivos. Em casos extremos, e
quando as referidas alternativas não existem, as interdependências assimétricas podem conduzir a situações de dependência total (Santos, 2009, Cap. II).
Considerando, no entanto, as capacidades e as vulnerabilidades específicas
dos estados envolvidos,
"é impossível a priori, determinar se os benefícios de uma relação excederão os custos. Isso dependerá da hierarquização dos interesses determinada pela capacidade de intuição circunstancial dos valores por parte
dos actores envolvidos, bem como da natureza da relação. Nada garante que as relações que designamos por 'interdependências' sejam caracterizadas por benefícios mútuos" (Keohane e Nye, Jr., 1989,9-10).
Se assim fosse, poderíamos estar perante formas específicas de cooperação
voluntariamente assumidas, e não perante a gestão imperativa se situações
inevitáveis. Será conveniente acentuar, no entanto, que a resolução recíproca
das problemáticas inerentes às situações de interdependência, não pressupõe,
necessariamente atitudes nem processos de cooperação (Santos, 2009, 79).
239
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Neste contexto, a imperatividade de resolução das referidas problemáticas,
determina uma progressiva abertura do estado às influências exógenas de mudança, e a uma consequente e significativa restrição do seu grau de autonomia
de acção. Com efeito,
"[o]fenómeno da interdependência e a necessidade de atender a evigências de desenvolvimento económico e social, obrigou o estado a abrir-se
cada vez mais ao exterior, o que aumentou ainda mais a sua interdependência e restringiu a sua margem de manobra" (Arenal, 1990,32).
Este constrangimento resulta, por sua vez, em dificuldades acrescidas para
o estado, na concretização de objectivos no processo de alteração do ambiente
relacional, bem como "em termos de gestão e de exercício de influência sobre
a política internacional, designadamente, no plano da definição, elaboração,
decisão e condução da sua política externa" (Santos, 2009, 73).
No plano económico, as necessidades que não podem ser internamente
satisfeitas criam dependências do estado em relação ao exterior. A dependência económica constitui, assim, a causa e, ao mesmo tempo, a consequência de
outras dependências endémicas sustentadas, nomeadamente, em termos de
quadros qualificados, tecnologias, infraestruturas básicas, sociais, económicas,
industriais e de comunicação, administrativas, políticas e de acesso ao crédito
internacional.
Por outro lado, o recurso a instrumentos de acção económica pressupõe
capacidades próprias que apenas alguns estados, efectivamente, possuem. Por
exemplo, a posse de determinados recursos desigualmente distribuídos, ou a
localização geográfica de um território, representam fontes potenciais de exercício de influência política para os estados que os detêm, colocando "os recursos económicos entre as maiores capacidades que podem ser mobilizadas para
fins políticos" (Holsti, 1974, 241).
A ausência dessas capacidades é frequentemente compensada por um grau
acrescido de margem de manobra negocial, quer através da posse de recursos
económicos raros, quer através da orientação político-estratégica da dependência em relação a certos estados e em detrimento de outros, determinando,
assim, alinhamentos políticos, quer ainda pelo posicionamento estratégico
traduzido em poder funcional.
A versatilidade da utilização instrumental da acção económica transcende,
assim, o plano económico restrito, alargando-se também através da aplicabilidade interactiva, ou específica de uma linha de acção de política externa, ou estratégia determinada, mesmo quando não inserida no plano estrito da política
económica externa. No entanto, os instrumentos económicos só funcionarão se
as necessidades forem reais, de satisfação inevitável e não derivarem de uma
240
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
,lemáticas,
las de mu.utonomia
gênir-se
:rde32).
;cidas para
, ambiente
ncia sobre
laboração,
!rnamente
fependênluência de
termos de
onómicas,
ao crédito
pressupõe
suem. Por
ídos, ou a
is de exer" os recurzadas para
r um grau
le recursos
da depen'minando,
!stratégico
ranscende,
llicabilidal, ou estraia política
:ionarão se
TI de uma
hierarquização de objectivos políticos que, por não corresponderem a interesses
nacionais permanentes, possam ser diferidos ou alterados com vista a prevenir
ou a atenuar uma situação de dependência tendencial, ou a neutralizar directamente os efeitos da aplicação do instrumento de acção económica em questão.
Neste contexto, a necessária operacionalidade conceptual de instrumento
económico ou de acção económica, aplicada no âmbito da política externa de um
estado, exige que se estabeleçam vários tipos de distinções. Em primeiro lugar
convém, reconhecer a diferença entre os instrumentos de acção económica pacífica e de acção económica violenta; em segundo lugar deveremos diferenciar entre a política económica externa de um estado, e a utilização de instrumentos de
acção económica ao serviço de objectivos sectoriais da sua política externa geral.
Neste sentido, Morgenthau considera que
"quando, nos negócios internacionais, estão em discussão políticas
económicas, financeiras, territoriais ou militares, torna-se necessário
distinguir entre (... ) as políticas económicas que são empreendidas enquanto tal, e as políticas económicas que são instrumentos de acção
política de uma outra política (''politicai policy") - ou seja, uma política
cuja finalidade económica é apenas um meio para atingir o fim de controlar as políticas de outras nações" (Morgenthau, 1993,34).
Por último, e embora se possa verificar alguma interacção sinérgica entre
ambos, deveremos distinguir entre o comércio internacional privado, e o
comércio internacional desenvolvido por um estado com o objectivo da obtenção e concretização de vantagens económicas, ou do exercício de influência política. Esta forma de acção económica pode ser substituída ou complementada pela imposição de regulamentações restritivas à condução da
economia privada, de forma a obter resultados semelhantes, sem as articular
directamente com a política externa, e sem implicar o envolvimento explícito do estado. Neste caso, a operacionalidade do conceito de instrumento
dependerá do critério que prevaleceu no estabelecimento das restrições,
bem como dos objectivos que se pretendem alcançar através da sua aplicação prática.
A instrumentalidade da acção económica verificar-se-á sempre que o critério
determinante envolva objectivos políticos exteriores ao sector específico da
política económica externa. Quando a aplicação ocorre no âmbito desta, a
acção económica reveste-se de um carácter instrumental, se for utilizada na
prática conducente ao objectivo da política em referência, ou de um carácter
técnico se constituir um processo operacional no contexto da acção.
Os instrumentos de acção económica destinam-se a atingir objectivos específicos através da exploração das necessidades ou dependências, sendo fre-
241
•
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLíTICA ExTERNA
quentemente utilizados como tácticos (compensações/sanções) funcionando
a níveis diferenciados de promessa, oferta, compromisso ou atribuição efectiva de vantagens ou benefícios, ainda que condicionada ou restritiva.
Os objectivos a atingir são, geralmente, os da gestão integrada de interdependências sectoriais diversificadas, ou a introdução de componentes elementares de
condicionamento ou controlo das capacidades do estado dependente, potenciando-as ou atenuando-as através da exploração das suas vulnerabilidades traduzidas
em termos da satisfação inevitável de necessidades imperativas, conforme os interesses da política externa do estado em posição de vantagem na relação.
Nas suas formas violentas, os instrumentos de acção económica poderão
visar objectivos de neutralização forçada ou de satelitização, através da manutenção ou aumento de um determinado grau de dependência permanente,
conducente a modelos de "soberania limitada", ou à submissão política do
outro estado e à constituição de "esferas de influência" através da penetração
económica. Neste caso, estamos perante uma forma de intervenção económica
que, tal como a sanção económica, o boicote, o embargo, o bloqueio económico,
a guerra económica e as reparações ou indemnizações de guerra, constitui um
instrumento de acção económica violenta da política externa.
A táctica das "recompensas ou punições", frequentemente utilizada ao serviço
do exercício da influência, necessita de várias pré-condições para se tornar não só
efectiva, como para assegurar que o seu fracasso não comporta aspectos negativos
para o estado que aplica o instrumento de acção económica. Com efeito, e para
além do carácter de inevitabilidade de satisfação de uma necessidade determinada, já anteriormente referido, torna-se fundamental a verificação das hipóteses de
recurso a parceiros alternativos, por parte do estado dependente.
Uma decisão, por parte deste, para interromper a relação, representa sempre uma quebra de prestígio internacional para o estado que foi preterido, e
um aumento correspondente de prestígio internacional para o estado que
exerceu a sua capacidade de manobra ao seleccionar a nova orientação da sua
dependência externa, relativizando ou corrigindo, ao mesmo tempo, a imagem e o grau da sua dependência efectiva, e representando ainda, no plano
interno, um reforço de prestígio e, possivelmente, de apoio das populações ao
regime vigente que se "libertou" do "domínio" económico de outro estado.
Os instrumentos de acção económica pacífica mais utilizados são a ajuda económica externa, a concessão da "cláusula da nação mais favorecida", a concessão
de empréstimos, alguns a fundo perdido, e de linhas de créditos em condições
especiais, o exercício de influência qualificada interna a favor de terceiros junto
de instituições internacionais públicas e privadas de carácter financeiro ou económico, e as técnicas de "manipulação" monetária e cambial, do estabelecimento
de tarifas especiais e de quotas de importação/exportação que condicionem a viabi-
242
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
mcionando
tição efecti-
'a.
interdepennentares de
potencians traduzidas
.
.
orme os mlçãO.
ca poderão
s da manuermanente,
política do
. penetração
I económica
económico,
Institui um
aao serviço
Irnar não só
)s negativos
eito, e para
determinalÍpóteses de
:senta sem)reterido, e
estado que
Ição da sua
lpO, a imal, no plano
)ulações ao
'0 estado.
I ajuda ecoI concessão
l condições
:eiros junto
!iro ou ecodecimento
lem a viabi-
lidade da economia do outro país e, consequentemente, a sua estabilidade política e social, através da gestão do seu grau de dependência externa.
Entre os instrumentos de acção económica, adquire expressão e importância particulares, ajuda pública ao desenvolvimento (APD). O carácter controverso da ajuda económica externa, resultante de vários factores concorrentes
no plano da relação bilateral, reflecte, antes de tudo, a frequente atribuição
tácita de um significado restrito ao respectivo conteúdo operacional. Este
significado restrito condiciona a sua aplicabilidade e limita as potencialidades analíticas, na medida em que exclui a diversificação efectiva das acções
de ajuda externa. Em consequência, a questão do desenvolvimento diferenciado entre países dadores "ricos" e países recipientes "pobres", tacitamente
tomado como dado adquirido, subjacente e aceite como inerente a qualquer
acção de ajuda, ocupa tendencialmente o centro do debate desvirtuando a
isenção analítica .
Importa, pois, também neste caso, estabelecer um conteúdo operacional
que permita a aplicação objectiva do conceito de ajuda económica. Ao mesmo
tempo, a crescente tendência internacional evidenciada através do recurso
cada vez mais frequente a este tipo de acções, justifica a referência específica à
acção económica da APD no contexto política externa dos estados que a praticam, reflectindo e acentuando a diversidade potencial inerente.
Assim, poderemos definir ajuda como
fluxo de recursos patrocinado por um governo, concedido e colocado à disposição de governos estrangeiros, quer directamente numa base
bilateral, quer indirectamente através de organizações multilaterais"
(Wall, 1973,3).
"O
Considerando que a utilização instrumental da ajuda se insere no contexto
de execução de uma política e que esta visa objectivos determinados, o carácter
lato da definição permite, por um lado, a aplicação conceptual a um vasto campo de ajudas diversificadas mas, por outro lado, exige uma particularização casuística dos seus objectivos específicos.
A ajuda externa processa-se através de programas perspectivados segundo
os objectivos a atingir. Holsti classifica os programas de ajuda em quatro tipos
essenciais: programas de ajuda militar, de assistência técnica, de concessões e
importações de produtos de consumo e, finalmente, programas de desenvolvimento. Como veremos, também no caso da ajuda externa os objectivos
respectivos inerentes à própria classificação, constituem ponto de convergência e de aplicação complementar e simultânea de outros instrumentos de política externa, sendo faseados segundo uma temporalidade própria do ritmo
243
~
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
específico de condução da política, situando-se no curto, médio ou longo
prazo, em termos de obtenção de resultados.
Assim, os programas de ajuda militar destinam-se a reforçar alianças através
da manutenção ou acrescentamento do poder militar dos aliados, permitindo
em simultâneo, um certo grau de controlo técnico deste poder por parte do país
dador. Os programas de assistência técnica processam-se através da transferência controlada de tecnologia e de saber qualificado com o objectivo da viabilização de projectos internos do país recipiente, quer no sector público, quer no
sector privado. As concessões podem ser de carácter militar ou financeiro e traduzem-se, geralmente, por ajudas a fundo perdido, empréstimos a longo prazo,
facilidades de acesso a linhas de crédito a taxas negociadas e mediante condições
expressas, nomeadamente o acompanhamento das aplicações e a verificação faseada dos resultados. Os programas de importação garantem o escoamento de
produtos em quantidades determinadas e sujeitos a taxas de importação reduzidas Os programas de ajuda ao desenvolvimento consistem na transferência de
capitais, bens de consumo, instrumentos de produção, tecnologia e assistência
técnica, especificamente adaptados a cada caso e combinados de acordo com as
necessidades do recipiente (Holsti, 1974,259-260).
A utilização instrumental de um programa de ajuda económica pressupõe
um diferencial de capacidades e de grau de desenvolvimento, entre o país que
concede a ajuda e o país que a recebe. Partindo do princípio que o primeiro
está a desenvolver uma acção de aplicação da sua política externa, poderemos
concluir que a salvaguarda dos seus interesses e a satisfação dos seus objectivos
condicionam de forma determinante o carácter da ajuda, quer em termos
quantitativos quer em termos qualitativos. Por outro lado, a viabilidade e o
êxito da acção dependem, como referimos anteriormente, da inevitabilidade
do recipiente em satisfazer determinada necessidade e da sua limitada margem
de selecção em termos da proveniência da ajuda.
É exactamente nos casos em que essa ajuda económica se destina ao alegado desenvolvimento do recipiente, que a polémica se estabelece. Perspectivada como uma estratégia de acção económica dos países dadores, a APO tem
constituído um dos mais controversos elementos das relações entre os estados.
De facto, poderemos questionar, por um lado, até que ponto o desenvolvimento de um país ou grupo de países, concorre para a realização dos interesses
nacionais do país que atribui a ajuda, e concluir, por outro lado, que a condicionalidade e os limites estabelecidos para a ajuda decorrem dos interesses
deste, e não das necessidades objectivas de desenvolvimento dos primeiros.
Estaremos, pois, perante uma forma de potencial ingerência concretizada
através da criação e estabelecimento de um mecanismo internacional de controlo das atitudes e dos comportamentos internos e externos dos governos dos
244
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
ou longo
países recipientes, através de uma condicionalidade, imposta pela chamada
ajuda ligada, de modo a permitir a potenciação do seu grau de dependência
ças através
,ermitindo
Ite do país
rransferêna viabilizaJ, quer no
ceiro e trango prazo,
condições
ificação faamento de
;:ão reduzi:erência de
assistência
'do com as
pressupõe
o país que
) primeiro
)oderemos
objectivos
:m termos
lidade e o
itabilidade
lamargem
a ao alega~rspectiva­
APD tem
os estados.
lesenvolvi; interesses
Le a condiinteresses
imeiros.
ncretizada
Lal de convernos dos
dentro de limites estabelecidos pelos interesses específicos dos países dadores,
quer directamente, quer por intermédio das organizações de redistribuição
em cujo âmbito estes estados ocupam posições dominantes.
Os objectivos políticos são também potencialmente controversos. Com
efeito, se, por um lado, a manutenção da dependência em troca da manutenção da estabilidade política interna do recipiente pode constituir um objectivo
comum, um compromisso transitório entre os interesses dos dois países envolvidos na relação bilateral, por outro lado, o mesmo instrumento de ajuda
económica poderá ser utilizado pelo dador, não apenas para condicionar o
tipo e o nível de desenvolvimento, mas também para induzir orientações particulares nas políticas sectoriais internas e externas do recipiente e, em última
análise, para promover o grau de instabilidade social e económica interna
necessária à manutenção ou ao derrube do regime vigente.
Apesar de tudo, deveremos, também, reconhecer que a ajuda económica
enquanto instrumento ao serviço de uma política externa determinada, é frequentemente contrariada pelo ambiente de aplicação, traduzindo-se em consequências, por vezes, negativas para os países dadores. De facto,
"a gratidão não é uma emoção política [e] a caridade que exprime inferioridade num relacionamento é geralmente repudiada, em especial se
for, deliberada ou inconscientemente, utilizada para criar dependência"
(Reynolds, 1980, 144)
Por outro lado, se é certo que os países dadores podem explorar as necessidades dos países recipientes utilizando a ajuda económica em conjunto com outros instrumentos da sua política externa, verifica-se também que a existência de
alternativas potenciais quanto à origem da ajuda, confere ao país recipiente uma
determinada margem de manobra internacional. Como foi referido, a rejeição
de uma acção de ajuda por parte do país recipiente constitui, para o país dador,
um factor desprestigiante perante a comunidade internacional mas pode, para
além disso, significar uma alteração grave no posicionamento internacional, isto
é, no alinhamento do recipiente em relação ao dador.
"Como em qualquer transacção económica onde se dispõe de uma
oferta alternativa, a relação dador / recipiente pode ser explorada pelo
recipiente para os seus próprios propósitos. Há, portanto, limitações
inequívocas à utilização da ajuda económica como instrumento de
política externa destinado a alcançar vantagens políticas e militares de
curto prazo" (Holsti, 1974,268).
245
:ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Tal como acontece com os outros instrumentos de política externa, considerados os naturais limites da sua aplicabilidade específica, também relativamente à ajuda económica não existe nunca garantia absolura da sua eficácia
total. De facto, até em ambientes internacionais de pressão económica organizada e em condições de dependência efectiva, a capacidade de sacrifício de
uma população e de resistência interna de um país constituem variáveis de
referência aleatória e de problemática quantificação, que demonstram os limites da prospectiva sobre o cálculo dos "custos de tolerância" suportáveis, mesmo quando não existem mercados alternativos para a colocação dos produtos,
nem diversificação potencial das ofertas de ajuda.
Parece, pois, evidente que a
"controvérsia sobre a natureza e a extensão do controlo do dador sobre a
distribuição e a utilização da ajuda continuará enquanto existirem programas de ajuda, independentemente das suas formas ou arranjos institucionais: todos os fundos das ajudas provêm das colectas de impostos dos
países ricos, e os políticos desses países tentarão sempre assegurar-se de
que os dinheiros das ajudas são usados sensatamente - isto é, de acordo
com os interesses nacionais dos países dadores" (Wall, 1973,48).
A alteração tendencial das variáveis, derivada dos efeitos da globalização
económica, reflecte-se no plano dos critérios condicionantes e dos canais internacionais de atribuição das ajudas, sendo afectados, ao mesmo tempo, pelas restrições orçamentais dos países dadores. Neste contexto, os resultados
efectivos das políticas económicas, expressas em termos de evolução da balança de pagamentos e do défice externo, a evolução e o funcionamento mundializado dos mercados financeiros, bem como uma diversidade de factores que
influenciam directa ou indirectamente o seu desempenho, condicionam, de
forma crescente, as decisões de política externa sobre a orientação estratégica
das ajudas, bem como sobre os montantes atribuídos.
Por outro lado, o permanente desfasamento entre os quantitativos das ajudas
concedidas e os resultados efectivamente alcançados, revelando a discrepância
entre a condicionalidade estabelecida e os objectivos projectados, justificadores
da atribuição da ajuda, têm determinado o fenómeno crescente da "donor fatigue", como alegação expressa para uma ajuda ligada progressivamente restritiva,
bem como para a redução gradual dos volumes inerentes.
No entanto, parece razoável admitir que, no seu conjunto, o relacionamento internacional revela, actualmente, uma evidente tendência para a utilização gradualmente intensificada, diversificada e frequente, dos instrumentos de acção económica, designadamente, da APD, no plano do exercício da
influência e no contexto das políticas externas dos estados.
246
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
·na, consin relativala eficácia
nica orgacrifício de
lriáveis de
mos lirniLVeiS, rnesprodutos,
LEITURAS COMPLEMENTARES
- BARSTON, R.P., 2006, Modern Diplomacy, 3a ed., London, U.K., Longrnan.
Ire a
protitudos
e de
)rdo
)balização
canats m!rnpo, peresultados
da balan) rnundia:tores que
onam, de
~stratégica
das ajudas
;crepância
:ificadores
tono r fotirestritiva,
relaciona,ara a utilstrurnenercício da
- BERRIDGE, G. R., JAMES, AIlan, 2002, A Dietionary of
Diplomacy, 2 nd • ed., Houndrnills, Basingstoke, Hampshire,
U.K., New York, N.Y., Palgrave Macrnillan.
- BERCOVITCH, Jacob, 2003, Studies in International Mediation, Houndrnills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave Macrnillan.
- CARROLL, Eileen, MACKIE, Karl, 1999, lhe Art ofBusiness Diplomacy, Boston, MA., KIuwer Law International.
- COSTA, Carla Guapo, org., 2009 New Frontiersfor Eeonomie Diplomacy, Lisboa, ISCSP-UTL.
- CULL, Nicholas J. 2006, "Publie Diplomacy Before Gullion:
lhe Evolution ofa Phrase", U niversity Of Southern California Center on Public Diplornacy, in http://uscpublicdiplornacy.com/index.php/newsroorn/pdblog...detail/1682/.
- DEUTSCH, Monon, 2006, Handbook of Confliet Resolution: lheory and Praetiee, San Francisco, CA., Jossey-Bass,
John Wiley, 2006.
- FELDMAN, R.C, 1998, Diplomacy Handbook, New York,
N.Y., Pearson Longrnan.
- FREEMAN, Charles, 1997, Arts ofPower: Stateeraft anfDiplomacy, Washington, D.C, U.S. Institute ofPeace Press.
- GORE, AI, 2007, O Ataque à Razão, Lisboa, Esfera do Caos.
- HILL, Christopher, 2003, lhe Changing Polities of Foreign
Policy, Houndrnills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave Macrnillan.
247
ELEMENTOS DE ANÁLISE
D~
POLÍTICA ExrERNA
- JONSSON, Christer, HALL, Martin, 2005, Essence of Diplomacy, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave.
_ _ _ , LANGHORBE, Richard, ed., 2004, Diplomacy,
London, U.K., Sage.
- KAUFMANN, Johan, 1988, Conference Diplomacy. An Introductory Analysis, London, Kluwer Law International.
- MAGALHÃES, José Calvet de, 2005, A Diplomacia Pura,
2. a ed., Lisboa, Bizâncio.
___,2005, Manual Diplomático, Lisboa, Bizâncio.
- MELLISSEN, Ian, 2005, The New Public Diplomacy: 50ft
Power and International Relations, London, U.K., Palgrave.
_ _ _ , 1999, Innovation in Diplomatic Practice, London,
U.K., Palgrave.
- NEWSOM, David D., ed., 1986, The Diplomacy ofHuman
Rights, Lanham, MD., University Press of America, Washington, D.C, Georgetown University.
- NICOLSON, Harold, 1977, The Evolution of Diplomatic
Method, Westport, Connecticut, Greenwood Press.
_ _ _ , 1964, Diplomacy, 3 rd • ed., Oxford, D.K., Oxford
University Press.
- NOYA, Javier, 2007, Diplomacia Publica para el Siglo XXI,
Barcelona, ArieI.
- PALMA, Hugo de Melo, 2008, "Diplomacia Cultural ou
Diplomacia Pública? Reflexões sobre a Política Cultural
Externa de Portugal" Relatório de Estágio realizado no Instituto Camões. Lisboa, ISCSP-UTL. Texto Policopiado.
- RANA, Kishan S., 2006, The 21st Century Ambassador: Plenipotentiary to ChiefExecutive, Oxford, D.K., Oxford University Press.
_ _ _ , 2002, Bilateral Diplomacy, New Delhi, Manas Publications.
248
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
nce olDiLJ.K., Pal-
- SATOW, Sir Ernst, 1979, A Guide to Diplomatic Practice,
5th • ed., London, U.K., Longman.
)iplomacy,
- SHABO, Magedah, 2008, Techniques 01 Propaganda and
Persuasion, Cheswold, Delaware, Prestwick House.
cy. An InLtional.
'leia Pura,
- TAYLOR, Philip M., 2003, Munitions olthe Mind. A History 01 Propaganda from the Aneient World to the Present
Era, 3rd • ed., Manchester, U.K., Manchester University
Press.
leiO.
rnacy: Soft
, Palgrave.
, London,
alHuman
:rica, Wa)iplomatic
:ss .
., Oxford
Siglo XXI,
lltural ou
Cultural
io no 1ns:opiado.
'ador: PleFord Uni-
1anas Pu-
249
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
WEBOGRAFIA
www.foreignpolicy.com
www.foreignaffairs.com
http://www.publicdiplomacy.org/1.htm#defined
http://uscpublicdiplomacy.com/index. phpl newsrooml pdblog...detail/ 16821
250
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ExrERNA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ALMEIDA, Políbio Valente de, Do Poder do Pequeno Estado, Lisboa, ISCSP
- UTL, 1990.
- ANDERSON, M.S., 1993, The Rise of Modern Diplomacy, 1450-1919,
London, U.K., Longman, 1993, pp. 6-20.
il/1682/
- ARENAL, Celestino del, 1990, Introducción a las Relaciones Internacionales,
3. a ed., Madrid, Tecnos.
- ART, Robert]., ]ERVIS, Robert, eds., 1996, International Politics. Enduring
Concepts and Contemporary Issues, 4 th • ed., New York" N.Y., Harper Collins.
- BARATA, Óscar Soares, 1989, "Demografia e Poder", separata de Estudos
Políticos e Sociais, voI. XVII, n.Os 1-2, Lisboa, ISCSP-UTL, 1989.
- BERRIDGE, G. R., 2002, Diplomacy: Theory amd Practice, 2 nd • ed., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, U.K., Palgrave Macmillan.
- BOUTROS-GHALI, Bouuos, 1992, Agenda para a Paz. Diplomacia Preventiva, Restabelecimento e Manutenção da Paz, Nova Iorque, Organização
das Nações Unidas.
- CARLSNAES, Walter, RISSE, Thomas, SIMMONS, Beth A., eds., 20022003, Handbook ofInternational Relations, London, U.K., Sage.
- CLAUSEWITZ, Carl von, s.d., Da Cerra, Lisboa, Europa-América.
- COOPER, Robert, 2004, The Breaking of Nations. Order and Chas in the
Twenty First Century, London, U.K., Atlantic Books.
- DEUTSCH, Karl W., 1978, The Analysis oflnternational Relations, 2 nd ed.,
Englewood Cliffs, N.]., Prentice-HalI.
- GOMES, G. Santa Clara, 1990, "A Política Externa e a Diplomacia numa
Estratégia Nacional", in Nação e Defesa, n056, Lisboa, Instituto da Defesa
Nacional, Out.-Dez., 1990.
- HOLSTI, K. ]., 1995, International Politics. A Frame Work for Analysis, 7th
ed., Englewood Cliffs, N. ]., Prentice Hall International.
251
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
_ _ _ , 1974, International Politics. A Frame Work for Analysis, 2 nd • ed.,
Englewood Cliffs, N.]., Prentice Hall International.
- JONSSON, Christer, 2002, "Diplomacy, Bargaining and Negotiation", in
CARLSNAES, Walter, RISSE, Thomas, SIMMONS, Beth A., eds., 20022003, Handbook olInternational Refations, London, u.K., Sage, pp. 212234.
- KEOHANE, Robert O., NYE, Jr., Joseph S., 1989, Complex Interdependence, 2 nd • ed., Glenview, m., Scott, Foresman & Company.
- KISSINGER, Henry, 1994, Diplomacy, New York, N.Y., Simon and Schuster.
- KRASNER, Stephen D., 1999, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton,
N.J., Princeton University Press.
- - MACEDO, Jorge Borges de, 2006, História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas de Força. Estudo de Geopolítica, 2. a ed., Lisboa, Tribuna da
História.
- MAGALHÃES, Calvet de, 1982, A Diplomacia Pura, Lisboa, Associação
Portuguesa para o Estudo das Relações Internacionais.
- MARSHALL, Peter, 1999, Positive Diplomacy, London, U.K., Macmillan.
- MELICH, Anna, 1986, "Propaganda", in Enciclopédia Polis, Lisboa, Verbo.
- MOREIRA, Adriano, 2002, Teoria das Relações Internacionais, 4. a ed.,
Coimbra, Almedina.
_ _ _ , 1970, Política Internacional, Lisboa, ISCSPU.
_ _ _ , 1969,"A Marcha para a Unidade do Mundo: Internacionalismo e
Nacionalismo", in Estudos Políticos e Sociais, vol. VII, nO 4, Lisboa, ISCSPUTL pp. 839-851.
- MORGENTHAU, Hans J., 1993, Politics Among Nations. The Struggle for
Power and Peace, brief edition, New York, N.Y., McGraw-Hill.
- NORTHEDGE, F. S., ed., 1969, The Foreign Policies
York, N.Y., FrederickA. Praeger, Publishers.
01 the Powers, New
- REYNOLDS, P. A., 1980, An Introduction to International Refations, 2 nd •
ed., London, N.Y., Longman.
- RODRIGUES, Adriano Duarte, 1986, "Opinião Pública", in Enciclopédia
Polis, Lisboa, Verbo.
252
INST RUMENTOS DA POLÍTICA ExTERNA
is, 2 nd • ed.,
- SANTOS, Victor Marques dos, FERREIRA, Maria João Militão, 2012,
Sociedade Civil Transnacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
tiation", in
eds.,2002e, pp. 212-
- SANTOS, Victor Marques dos, 2009, Teoria das Relações Internacionais.
Cooperação e Conflito na Sociedade Internacional, Lisboa, ISCSP-UTL.
?rdependen-
_ _ _ , 2009a, "Diplomacy 'Old' and 'New: On the Concept 01 Economic
Diplomacy", in COSTA, Carla Guapo, org., 2009 New Frontiers for Economie Diplomacy, Lisboa, ISCSP-UTL.
and Schus-
_ _ _ , 2007, Introdução à Teoria das Relações Internacionais, Lisboa,
ISCSP-UTL
___,2006, Reflexões sobre a Coexistência Pacífica, Lisboa, ISCSP-UTL.
Princeton,
_ _ _ , 2002, Conhecimento e Mudança. Para uma Epistemologia da Globalização, Lisboa, ISCSP-UTL.
ruesa. ConsTribuna da
_ _ _ ,2001, "Reflexões sobre a Problemática da Avaliação de Resultados
em Política Externa", in Textos em Homenagem ao Prof Luís de Sá, Lisboa,
Universidade Aberta.
Associação
- SCHELLING, Thomas, 1980, The Strategy olConflict, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press.
,1acmillan.
_ _ _ , 1966, "The Diplomacy 01 Violence" , in ART, Robert]., JERVIS,
Robert, eds., 1996, International Politics. Enduring Concepts and Contemporary Issues, 4th • ed., New York, N.Y., Harper Collins, pp. 168-182.
)oa, Verbo.
'is,
4. a ed.,
- STERN, Geoffrey, 2000, The Structure olInternational Society, 2 nd • ed., London, U.K., Continuum, Frances Pinter Publishers.
lonalismo e
·oa,ISCSP-
- WEBBER, Mark, SMITH, Michael et ali., 2002, Foreign Policy in a Transformed World, Edinburgh Gate, Harlow, U.K., Pearson Education / Prentice Hall.
Struggle for
- W ALL, David, The Charity 01Nations. The Politicai Economy 01Foreign Aid,
London, U.K., Macmillan, 1973.
')wers, New
- ZORGBIBE, Charles, 1990, Dicionário de Política Internacional, Lisboa,
Publicações Dom Quixote.
lations, 2 nd •
?nciclopédia
253
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Objectivos do Capítulo
- Descrever os factores de enquadramento analítico essenciais à elaboração de matrizes e planos de análise de casos
e situações conjunturais em política externa.
- Assinalar a importância do conhecimento prévio sobre os
estados analisados, como fundamental ao processo analítico, e as fontes essenciais à recolha de informação.
- Reflectir sobre as diversas problemáticas interactivas e
convergentes nos processos de avaliação de resultados em
política externa, através da contextualização dos objectivos de gestão das conjunturas e do curto / médio prazo,
no interesse nacional permanente.
Síntese dos temas abordados
- As fases de análise estática e de análise dinâmica. A importância da gestão interactiva dos indicadores quantitativos
com os indicadores qualitativos.
- Os factores de enquadramento analítico e a sua convergência sinérgica em termos do conhecimento sobre os actores e as conjunturas analisados.
- As problemáticas da avaliação de resultados, inerentes à
interacção do investigador com o ambiente, e à interpretação estritamente conjuntural. Os métodos comparativos, quantitativos e qualitativos.
254
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS EM POLÍTICA ExTERNA
"Perhaps the most diflicult problem focing a Minister
when formulating an appropriate hierarchy 01 national interests
in a rapidly changing world
is that 01 reassessing and overhauling interests
in order to see that they accord with newly emerging realities. "
(Northedge, 1969, 19).
ico essene de casos
o sobre os
:sso analí:ão.
ractivas e
ltados em
tS objectifio prazo,
CAPÍTULO
VII
ANÁLISE E AVALIAçÃo DE RESULTADOS EM POLÍTICA EXTERNA
7.1. - Factores de Enquadramento Analítico
7.1.1. Sistematização dos Factores de Enquadramento
A impor.ntitativos
a converbre os aclerentes à
interpre)mparati-
A problemática analítica em política externa deriva, fundamentalmente,
da interacção e das sinergias verificadas entre os vários níveis de análise envolvidos. Ao mesmo tempo, a diversidade das abordagens, das características,
modalidades, atitudes e comportamentos relacionais entre estados de matrizes
histórico-culturais e socioeconómicas diferentes, bem como de enquadramento geoestratégico, de estrutura política interna e de capacidade de projecção
de poder no plano externo muito diferenciadas, acentuam a complexidade da
análise.
A todas estas dificuldades, acrescem ainda as limitações inerentes a qualquer investigação em ciências sociais. Em primeiro lugar, trata-se da condicionalidade da percepção do observador sobre a sua realidade nacional e, a partir
desse ponto de observação, da sua perspectiva específica sobre o ambiente
externo imediato, próximo e distante. Em segundo lugar, a inserção geocultural, social e ideológica do analista, determina uma mundivisão específica que
actua como uma restrição limitadora da isenção ou da neutralidade da investigação científica, condicionando a consistência do processo analítico, tanto
em termos de sensibilização às problemáticas alheias, como em termos do
255
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
conhecimento efectivo dos ambientes socioculturais dos decisores. Estas mesmas limitações verificam-se, também e consequentemente, no plano dos indicadores e dos critérios de avaliação adoptados.
Neste contexto, os factores de enquadramento analítico da política externa
pretendem contribuir para a superação ou atenuação de algumas daquelas limitações, na medida em que a sua pertinência metodológica se baseia na possibilidade de aplicação generalizada, sendo os resultados da análise, matricialmente transversais ao universo diversificado dos actores estatais analisados. A
sistematização destes factores de enquadramento analítico, prevalecentes ao
longo do processo adaptativo dos estados às situações decorrentes dos seu relacionamento externo, constitui um instrumento que permite identificar os
critérios de decisão, segundo uma avaliação ponderada e integrada de indicadores quantitativos e qualitativos, em relação a um estado contextualizado
num ambiente relacional específico, e numa conjuntura ou situação de interacção dinâmica bilateral ou multilateral. Neste sentido, poderemos identificar factores geográficos, histórico-culturais, sócio-demográficos e sócio-psicológicos,
económicos, científico-tecnológicos, de projecção externa e político-institucionais.
Os factores geográficos referem-se à localização, dimensão e características
físicas e orográficas do território, bem como à sua distribuição, que pode ser
continental, com ou sem acesso ao mar, insular, sendo importante a quantidade, distribuição e distância entre ilhas, ou de constituição mista, continental e insular. Todas estas características podem ser determinantes em termos
de facilidade de acessos e do tipo de fronteiras com os estados limítrofes tendo, entre outras, implicações geoestratégicas na segurança e na defesa.
Entre os factores histórico-culturais, deveremos incluir a língua, a vivência
histórica comum, a religião, a composição étnica e as relações inter-étnicas, a
nacionalidade ou outras pertenças, designadamente, transnacionais. Estas características constituem factores de agregação ou de fragmentação social. Também
a natureza das relações geo-históricas e geoculturais com povos e estados limítrofes, bem como com ourros estados, mesmo distantes, mas que partilham
uma herança histórico-cultural com elementos em comum, contribuem para a
sedimentação dos factores históricos-culturais, na medida em que consolidam o
enquadramento de percepção cognitiva sobre a reciprocidade das interacções.
Os factores sócio-demográficos incluem a quantidade e a distribuição geográfica da populaçáo, estrutura etária, coesáo social, qualidades cívicas, nível de
vida e graus de escolaridade, a capacidade técnica e a cultura científica, o tipo
de relacionamento entre os diversos estratos sociais e comunidades, designadamente, a relação entre governantes e governados, a confiança nas instituições, as relações inter-étnicas, confessionais ou outras, tanto no plano interno
como no plano transnacional.
256
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS EM POLÍTICA ExrERNA
Estas mes10 dos inditica externa
iaquelas li;eia na pos, matricialtalisados. A
lecentes ao
dos seu reentificar os
1 de indicaextualizado
:ão de inteos identifipsicológicos,
titucionais.
-acterísticas
ue pode ser
:e a quanti, continenem termos
ítrofes ten.
-esa.
, a vivência
:r-étnicas, a
Estas caracJ. Também
stados limí~ partilham
luem para a
nsolidam o
teracções.
ção geográas, nível de
ífica, o tipo
~s, designalas insti tuimo interno
o factor sócio-psicológico, interage com os factores sociais e demográficos, na
medida em que deriva e reforça o tipo de relacionamento estabelecido entre os
diversos estratos populacionais, bem como o vínculo psicológico que caracteriza a
referida relação entre elites governantes e as populações, designadamente, através
da confiança atribuída às instituições políticas e jurídicas, promovendo a capacidade sincrética de potencialização integrada de todos os componentes do poder
nacional. Finalmente, o factor sócio-psicológico constitui ainda um aspecto incontornável no contexto do nível de análise decisional, designadamente, na perspectiva do estudo das características de vivência e personalidade dos decisores, bem
como da articulação funcional dos mecanismos e aparelhos processuais da decisão.
Os factores económicos dependem da estrutura da economia interna. A sua
importância fundamental decorre de elementos básicos, tais como da organização e do regime político, da posse de recursos próprios, da capacidade de
acrescentamento de valor, das estratégias de atracção de investimento directo
estrangeiro (IDE), bem como de aspectos sócio-laborais, das relações entre
patronato, sindicatos e governo, da organização do trabalho, do grau de industrialização e da componente científico-tecnológica, entre outras capacidades da mão-de-obra qualificada e de outros recursos humanos. Estes factores
determinam, por sua vez, a forma como o estado participa e se insere no sistema de relações comerciais, económicas e financeiras internacionais, designadamente, o grau e os sectores de dependência externa, bem como os principais
parceiros económicos e mercados externos.
Os factores científico-tecnológicos articulam-se directamente com os factores
económicos e representam a capacidade de inovação e de incorporação de novas tecnologias, bem como o significado do R&D em termos económicos e
por sector de especialização. Estes factores estão dependentes das capacidades
económicas e financeiras próprias, da cultura científica e tecnológica das populações, em termos de recursos humanos com qualificação especializada,
bem como da integração e desenvolvimento activo de projectos em parcerias
e com instituições de investigação académica e científica internacionais
Os factores de projecção externa referem-se, em primeiro lugar, à qualidade
dos instrumentos da política externa, designadamente, da diplomacia, ou seja, à
capacidade do exercício de influência desenvolvida pelo aparelho diplomático,
designadamente, através da relevância concedida à imagem, à cultura e à economia. Outro factor de projecção externa é a capacidade estratégico-militar, nomeadamente, decorrente da participação em alianças e coligações internacionais. É
também um factor de projecção externa a qualidade da participação activa em
organizações internacionais, a integração em grupos de países segundo lógicas e
critérios de interesses recíprocos, e o desenvolvimento de políticas públicas em
parcerias internacionais.
257
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Neste âmbito, a imagem projectada depende, entre outros aspectos, da
atitude em relação aos grandes temas globais, resultando na capacidade de
influenciar a agenda internacional. A forma como os factores de projecção externa são utilizados e geridos, identificam as características gerais da política
das administrações no plano da política externa, em termos de orientação,
participação, identificação de interesses e objectivos comuns com outros estados, bem como em termos de atitudes diferenciadas e de relações específicas
em contextos bilateral, multilateral e perante a comunidade internacional. Ao
mesmo tempo, constituem elementos decisivos das estratégias e dos processos
de adaptação do estado à gestão das exigências da política internacional, bem
como das suas capacidades de moldagem do ambiente de relacionamento, no
sentido da concretização dos seus objectivos e da consequente realização dos
seus interesses nacionais.
Finalmente, os factores político-institucionais referem-se às características da
estrutura estatal e governamental de formulação e implementação da política
externa, ou seja, às instituições que operam a conversão dos interesses nacionais em objectivos políticos, definindo estratégias e linhas de acção política.
Neste contexto, o aparelho e o sistema político-jurídico da tomada de decisão,
de monitorização sustentada das acções e da avaliação da eficácia dos instrumentos utilizados em termos de resultados obtidos, torna-se determinante
para o processo decisional, do qual depende, em última análise a convergência
consequente dos factores, no plano da implementação das políticas. Os instrumentos políticos e jutídicos fundamentais definem, por sua vez, o enquadramento político-institucional e o estilo de actuação da actividade política e
do aparelho decisional.
No mesmo sentido, os compromissos assumidos no plano da política internacional através de actos unilaterais e de actos concertados não-convencionais, a elaboração e ratificação de tratados, a participação institucional em
organizações internacionais, etc., influenciam directamente a promoção, o
prestígio e a construção da imagem internacional e da credibilidade do estado
entre os seus parceiros internacionais. Destes factores dependerá, em grande
parte, a capacidade de projecção externa do estado na comunidade internacional, bem como a sua inerente participação activa e consequente na formação
das agendas da política internacional.
7.1.2. Desenvolvimento Analítico
Os factores de enquadramento analítico deverão ser considerados, também, como condicionantes, sendo por vezes determinantes, de uma prévia
identificação e definição do interesse nacional, no sentido da respectiva con-
258
ANÁLISE E AVALIAÇÃo DE RESULTADOS EM POLÍTICA ExTERNA
LSpectos, da
)acidade de
'rojecção exda política
orientação,
outros estai específicas
acional.Ao
)s processos
:ional, bem
amento, no
uização dos
terísticas da
, da política
esses nacioão política.
de decisão,
dos instru~terminante
mvergência
:as. Os insz, o enquale política e
política in"convencioucional em
'omoção, o
e do estado
em grande
internacioa formação
"ados, tamuma prévia
ectiva con-
versão em objectivos de política externa. Estes factores condicionantes projectam-se em termos de racionalização, no plano da formulação das políticas,
através do binómio capacidades / vulnerabilidades, e no plano da condução
ou implementação dessas mesmas políticas através binómio custo / benefício,
pressupondo uma hierarquização de interesses e uma prioritização contextualizada de objectivos que adquirem expressão através da implementação das
estratégias, no desenvolvimento de linhas de acção política.
Neste contexto, e tal como acentuado anteriormente, o estudo prévio e aprofundado dos estados envolvidos torna-se essencial para o processo de aquisição
dos conhecimentos necessários à percepção e à interpretação das situações e dos
desenvolvimentos processuais interactivos, baseadas nos enquadramentos políticos de referência, designadamente dos regimes, aparelhos e processos de decisão, bem como dos sub-actores intervenientes. A par destes dados básicos sobre
a realidade doméstica dos estados, adquire relevância a intensificação progressiva do CClinkage" relacional estabelecido entre os ambientes políticos internos ou
de formulação, e externos ou de implementação / condução, caracterizado pelas
inerentes situações de interdependência crescente, cuja exigência de gestão integrada demonstra a relevância das condicionantes exógenas na formulação e na
condução das políticas, tanto domésticas como externas.
Tendo em consideração as limitações inerentes à especificidade dos actores
e às condicionantes contextuais, a investigação deverá iniciar-se pelas fontes
primárias, designadamente, pelos documentos oficiais, além de outros considerados relevantes. Entre os primeiros identificam-se as constituições, os programas de governo, as grandes opções do plano, os memorandos, estudos,
pareceres e outros documentos elaborados no âmbito de órgãos de soberania
e que sejam, de algum modo, estruturantes da política externa. Entre os documentos considerados relevantes, situam-se as correspondências oficiais e
particulares, bem como outros documentos, as memórias, as biografias, os
"non-papers", certos memorandos oficiosos e notas privadas sobre actos concertados não convencionais, sobre contactos informais, etc.
Todos estes documentos convergem e articulam-se, por sua vez, com os instrumentos político-jurídicos anteriormente referidos, e que vinculam o estado
através de compromissos assumidos com a comunidade internacional, tais como
os resultantes de actos unilaterais, actos concertados não convencionais, tratados, convenções, obrigações decorrentes da participação em organizações internacionais, da observância das normas do direito internacional, etc.
Através da selecção sistematizada destes elementos de referência, adquirem
forma as abordagens de análise estática e de análise dinâmica. Assim, e numa
primeira fase, estes elementos permitirão uma abordagem de análise estática, a
qual compreenderá a identificação dos interesses nacionais através dos progra-
259
ELEMENTOS DE ANÁLISE
Di PoLÍTICA EXTERNA
mas de governo e das grandes opções do plano, bem como a sua conversão em
objectivos sectoriais, em termos da definição da política, das estratégias e das
linhas de acção política que permitirão concretizar esses objectivos, através das
capacidades de projecção externa do estado.
N uma segunda fase, fundamentada nos resultados da abordagem inicial,
procede-se a uma análise dinâmica, a qual compreenderá os relacionamentos bilaterais e multilaterais. No primeiro caso, trata-se das relações entre
estados, mas também com OIs, ONGs, empresas nacionais e multinacionais, outras entidades não-estatais, organizados por área regional, por área
de interesse ou por área sectorial. Neste contexto, os indicadores e critérios
específicos a observar deverão incluir os acordos celebrados, em termos
quantitativos e qualitativos por sector, a frequência de contactos diplomáticos, as negociações sectoriais, a intervenção de sub-actores transgovernamentais e transdepartamentais, os contactos informais, a diplomacia paralela, as visitas de estado, ou outras, etc .. No segundo caso, trata-se dos
contactos multilaterais com OIs, grupos informais e outras entidades, relativamente aos quais, os indicadores e critérios a observar deverão incluir a
participação nos órgãos estatutários ou outros da estrutura orgânica, política e administrativa das OIs, as moções de iniciativa própria apresentadas,
individuais ou colectivas, o apoio a moções, as votações (presenças, ausências, votações positivas, negativas, abstenções, consensos, etc.), no sentido
da avaliação do impacto respectivo nas áreas sectoriais inerentes.
Estabelecido o universo relacional e definido o enquadramento interno e
externo de referência, a percepção sobre a realidade específica de cada estado
decorre da identificação e da avaliação da interferência processual dos factores
de enquadramento analítico, bem como a respectiva conversão em termos de
capacidades, no sentido da sua aplicação concreta à situação em análise. Esta
realidade específica implica a ponderação e a racionalização dos efeitos da interactividade sinérgica desenvolvida, não apenas entre os vários factores, mas
também entre os vários níveis de abordagem analítica identificados para cada
caso (Santos, 2007, 99-104).
A conversão dos resultados obtidos pela análise dos factores de enquadramento, em termos de efeitos exercidos sobre as políticas sectoriais domésticas,
dependerá da definição dessas políticas, objectivos, estratégias e linhas de acção, constituindo objecto da análise das políticas públicas internas do estado.
De facto, as sinergias dos processos de acção e reacção verificados entre os
enquadramentos de formulação e de aplicação da política externa, bem como
a interacção das dinâmicas de influência reciprocamente originadas num dos
ambientes e actuando sobre o outro, conferindo expressão concreta ao referido fenómeno de "linkage", deverão ser analiticamente contextualizadas.
260
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE REsULTADOS EM POLÍTICA ExTERNA
mversão em
ltégias e das
, através das
gem inicial,
aClOnamenações entre
multinacioal, por área
s e critérios
em termos
diplomátimsgovernaacia parale:rata-se dos
dades, relaão incluir a
nica, políti)resen tadas,
lças, ausênno sentido
:0 interno e
cada estado
dos factores
n termos de
málise. Esta
'eitos da inlctores, mas
)s para cada
~
enquadradomésticas,
nhas de ac) do estado.
os entre os
bem como
as num dos
ta ao referizadas.
A esquemática elementar da abordagem possibilitará, assim, futuros esforços de eventual aprofundamento analítico, baseados em referências teóricas e
metodológicas conceptualmente articuladas. A aplicação do enquadramento
analítico aos estudos de caso permitirá, por sua vez, futuras análises de política externa comparada.
7.2. - Reflexões Sobre a Problemática da Avaliação
A avaliação da política externa pretende aferir os resultados alcançados em
termos dos objectivos definidos nos programas de govern03 • Neste sentido,
deveremos ter em atenção o grau de concretização de cada acção implementada ou executada, integrada na respectiva linha de acção política, e do seu
conjunto, no grau de realização do objectivo definido. Será relevante avaliar,
também, os efeitos transversais em termos de impacto verificado sobre outras
linhas de acção, objectivos e políticas sectoriais no âmbito da política externa.
O método comparativo permitirá avaliar os resultados do exercício em análise, em relação com os resultados obtidos em exercícios anteriores, no contexto
da mesma política sectorial e dos inerentes objectivos. A avaliação de resultados
comparáveis e relativos a legislaturas ou períodos anteriores deverá ser também
contextualizada em termos de análise da conjuntura ambiental externa e interna. Este tipo de análise permitirá avaliar o impacto das estratégias em termos de
eficácia e de eficiência, bem como a coerência e consistência das linhas de acção
e das consequências no plano da concretização dos objectivos.
Neste contexto, poderão ser elaboradas matrizes que permitam relacionar
de forma interactiva as variáveis, os indicadores e os critérios utilizados e considerados pertinentes para os objectivos analíticos. Neste sentido, deverão ser
identificadas as questões nucleares ou fundamentais ("core issues") e seleccionados os indicadores de desempenho ("key performance indicators"), ao nível
das políticas, das instituições e dos agentes, nomeadamente, diplomatas, governantes, presidente, parlamento, departamentos ministeriais, agências / institutos governamentais ligados à actividade externa do estado, entidades não
governamentais (''profit'' e "non-profii'), etc .. Finalmente, a quantificação das
acções poderá ser complementada por gráficos, tabelas e outros elementos
auxiliares que permitam integrar processualmente os resultados da avaliação
qualitativa do desempenho dos vários agentes envolvidos, através da atribuição de valores indicativos convencionados.
3 Algumas partes do texto deste sub-capÍtulo sáo adaptadas de Victor Marques dos Santos, 2000, "Reflexóes sobre a Problemática da Avaliaçáo de Resultados em Política Externa", in Discursos. Estudos (m
Mrmória do Prof Doutor Luís Sá, Lisboa, Universidade Aberta, 2000, pp. 93-109.
261
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Independentemente desta eventual complexidade analítica, as problemáticas inerentes ao exercício de avaliação de resultados em política externa decorrem das suas características próprias em relação a todo o conjunto das políticas sectoriais do estado, em cujo contexto, a política externa constitui o elo de
articulação política entre o estado e a comunidade internacional.
É através da política externa que o estado desenvolve uma parte significativa dos seus contactos com o exterior. É através do exercício das chamadas
competências da soberania externa que lhe são atribuídas e reconhecidas pela
comunidade internacional, que o estado influencia a evolução da política internacional e participa nas dinâmicas evolutivas do ambiente de relacionamento afirmando o seu estatuto de actor soberano.
Neste contexto, a política externa supera o âmbito restrito e objectivo das
políticas sectoriais, na medida em que resulta da transversalidade inerente a uma
realidade social, histórica, cultural e política de características específicas. É através da política externa que o estado intervém na moldagem da sociedade internacional através da sua mundivisão, da sua forma de estar no mundo e de perspectivar o ambiente relacional. Neste plano, a política externa de um estado
constitui um poderoso meio de comunicação internacional, que transmite a
imagem de uma identidade nacional própria e de uma capacidade estatal única,
entre a comunidade de estados. É também através da política externa que o estado veicula e defende, perante a comunidade internacional, os seus interesses
nacionais permanentes e conjunturais, por vezes de forma activa, mesmo agressiva, outras vezes de forma passiva, limitando-se a uma representação que lhe
assegura o reconhecimento e lhe faculta a coexistência em termos de igualdade
soberana de direito, outras vezes ainda, tendo ele próprio de se defender de agressões.
A política externa transcende, no entanto, o carácter instrumental. Com
efeito na transição entre a abordagem analítica dos contextos e a aplicação
operacional dos resultados, identificam-se sinergias e efeitos directos e indirectos potencialmente irreversíveis. Este facto suscita, por sua vez, a convergência generalizada das atenções da opinião pública interna sobre a fase de
condução da política externa que, sendo a mais visível, é também a que suscita maior atenção por parte dos "públicos atentos". Mas é também nesta fase,
que a opinião publicada procura a justificação circunstancial das acções, sem
permitir o debate sobre os princípios e dos interesses que lhes estão subjacentes e que as referidas acções permitem, frequentemente, questionar.
Verifica-se, com efeito, que, ao nível da execução, a prática política dos
decisores é geralmente influenciada pela imperatividade, pela oportunidade
transitória das acções e pela inevitabilidade das reacções. Em consequência, e
apesar dos elevados princípios subjacentes à identificação dos interesses nacio-
262
ANÁLISE E AVALIAÇÃo DE RESU LTADOS EM POLÍTICA ExTERNA
)roblemátierna decor) das políti.tui o elo de
: significatis chamadas
lecidas pela
política in! relacionaJjectivo das
rente a uma
icas. É atra~dade intero e de persum estado
transmite a
:itatal única,
l que o estaLS interesses
esmo agresção que lhe
.e igualdade
ler de agresentalo Com
a aplicação
:tos e indi~, a conver~e a fase de
a que suscil nesta fase,
lcções, sem
o subjacenr.
)olítica dos
ortunidade
equência, e
esses naclO-
nais permanentes e à formulação dos objectivos da política externa, é, em última análise, o carácter instrumental da mesma que se evidencia na plano da
condução, sendo o voluntarismo da acção proposta frequentemente justificado pela alegada inevitabilidade de resposta, sob a forma de uma reacção necessária, na qual o 'feedback" transforma o efeito em causa. Ao mesmo tempo, a
aceitação dos resultados negativos é facilitada pela oportuna demonstração da
necessidade imperativa da referida resposta, perante da existência de uma conjuntura externa desfavorável.
Esta permeabilidade à indução exógena da mudança, parece remeter os governos e os responsáveis directos pela condução da política externa, para uma situação de gestores do presente, de uma realidade condicionada, que lhes é imposta e
em cujo contexto têm de participar de forma inescapável e que, por consequência,
justifica a característica essencialmente reactiva das atitudes decisórias da gestão.
Quando a perspectiva do estado sobre a sua própria inserção no contexto
relacional, e o seu conceito de "national role" suscitam a admissão tácita deste
condicionalismo, considerando-o como variável independente ou mesmo como
constante analítica, o estado é conduzido à aceitação de uma lógica redutora das
suas potencialidades efectivas e das suas capacidades criativas e de geração inovadora de alternativas viáveis de participação. Neste contexto, o estado fundamenta os seus limites de intervenção na inerentemente justificada imperatividade de posicionamentos decorrentes na verificada evidência de uma identidade e
comunhão de valores e de interesses, geradora do consenso internacional e indutora da adesão imperativa a comportamentos e atitudes exogenamente determinados. A gestão do presente, como prioridade permanente e tacitamente
aceite, no contexto dos objectivos de política externa, processa-se frequentemente, em detrimento de eventuais soluções futuras e pode comprometer, em
definitivo, as perspectivas do interesse nacional no longo prazo.
Verifica-se, assim, com frequência, a prioridade incondicional concedida à
conjuntura, identificada como responsável pelo carácter reactivo das acções dirigidas à gestão e à resolução das problemáticas do quotidiano relacional. Este
facto descontextualiza também as acções da política externa em relação ao longo
prazo, marginalizando-a relativamente à verdadeira dimensão do projecto nacional. Neste sentido, a prevalência do imediato e do curto prazo como determinantes temporais da acção em política externa, origina processos de degradação
progressiva das capacidades de participação efectiva, bem como um correspondente aumento das vulnerabilidades do estado na comunidade internacional,
pela perda da noção sobre o seu "national role" e pela erosão da própria identidade nacional. Esta atitude conduz ao desgaste e à desvalorização da imagem e
da credibilidade internacional do estado afectando a respectiva capacidade de
projecção externa e de implementação da respectiva política.
263
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
Ao mesmo tempo, essa atitude deforma a perspectiva integradora das acções
específicas da política externa no âmbito da política geral do estado e reduz a
capacidade crítica dos eleitorados que, perante factos concretos, tendem a pronunciar-se no imediato, ignorando o conjunto de referências matriciais que
constitui o elemento fundamental de aferição de critérios de avaliação de resultados, correspondente à noção de interesses permanentes, nas sociedades politicamente organizadas. Os processos de decisão e de controlo da própria política
externa ficam, assim, acentuadamente desvirtuados pela instrumentalização decorrente da alteração de prioridades em favor da preservação de um status quo,
ou da procura de um compromisso alegadamente inevitável, mas potencialmente contrário à orientação política originalmente traçada.
As situações decorrentes de constrangimentos impostos pelo ambiente
externo, ou simplesmente perspectivadas com certo grau de previsibilidade
de ocorrência são, frequentemente, utilizadas pelos responsáveis políticos
para justificar determinadas acções no plano interno, ou para ilustrar condicionalismos impeditivos da execução de outras, devolvendo ao contexto internacional a responsabilidade pelos fracassos de certas políticas domésticas
e pelas inerentes consequências inequivocamente sentidas pelos eleitorados.
A tendência será, pois, para o desenvolvimento de um imaginário e de um
enquadramento da opinião pública, bem como para a construção social e
estratégica de uma realidade adaptada ao meio que se pretende gerir, promovendo uma perspectiva unívoca sobre o ambiente relacional de inserção,
e a consequente instalação de uma lógica de percepção condicionada por
essa realidade construída, que permite considerar, por exemplo, o adiamento de um malogro anunciado como um sucesso que importa potenciar no
presente. Neste contexto, as respostas às problemáticas do quotidiano, tal
como referido, frequentemente descontextualizadas de uma perspectiva
temporal de médio e longo prazo, bem como do papel que o estado se propõe desempenhar no seio da comunidade internacional, resultam na gestão
deficiente das vantagens potenciais, ou mesmo na ausência do seu reconhecimento, provocando efeitos negativos em termos de imagem e de prestígio
do estado no plano externo.
Uma das causas essenciais subjacentes a este tipo de comportamento político
deriva, naturalmente, do carácter transitório da passagem pelos cargos governativos, que a alternância democrática assegura, e pela consequentemente sentida
necessidade de apresentação de resultados em tempo útil para a legitimação de
novos mandatos. Por outro lado, a característica fluidez da percepção generalizada e a reduzida relevância atribuída pelos eleitorados à grande maioria das
questões de política externa, permite aos responsáveis pela respectiva condução,
apresentarem os resultados obtidos nessa área específica, como tendencialmente
264
ANÁLISE E AVALIAÇÃo DE RESULTADOS EM POLÍTICA ExrERNA
. das acções
) e reduz a
dem a protriciais que
io de resulades politi,ria política
uização destatus quo,
potencial, ambiente
'isibilidade
s políticos
trar condilfitexto iniomésticas
leitorados.
.0 e de um
ão social e
gerir, proe inserção,
onada por
) adiamenItenciar no
idiano, tal
)erspectiva
ldo se prol na gestão
u reconhee prestígio
lto político
)s governante sentida
timação de
lo generalinaioria das
condução,
ncialmente
conducentes aos objectivos programáticos fixados, mas que a alegada evolução
do ambiente externo não permitiu alcançar na sua plenitude.
Por isso mesmo, e apesar dos processos de participação democrática no
plano da identificação dos interesses, determinação dos objectivos e formulação das políticas, convém integrar o estudo das atitudes individuais no contexto analítico, articulando-o com o plano institucional decisório e com os
ambientes interno e externo, para reconhecer a influência da componente
psicológica e da personalidade em todo o processo.
Será, de facto, útil distinguirmos entre a idealização superior de um sentido de estado, própria dos homens de estado, da perspectiva operacional dos
políticos eventuais ou executantes, inevitavelmente condicionada no espaço
pelo contacto directo com a realidade da sua prática política, e limitada no
tempo pela característica transitória. A perspectiva imediatista característica
dos políticos eventuais mandatados para servir a comunidade no plano da
implementação e da condução das acções de política externa, só excepcionalmente, encontrará correspondência na visão elevada dos estadistas, evoluindo tendencialmente para uma política externa reactiva, na qual o estado
se aproxima da exiguidade soberana perdendo, gradualmente, a sua capacidade de intervenção proactiva no processo dinâmico estruturante do sistema internacional, e de moldagem do ambiente de relacionamento (Moreira,
2009).
Verifica-se, aliás, que os executantes limitam, geralmente, as suas próprias
exigências de percepção alargada no tempo e no espaço, às necessidades concretas da gestão do quotidiano e ao âmbito geográfico restrito das relações
circunstancialmente preferenciais, sendo esta dimensão que, em última análise, fornece as componentes e as variáveis determinantes na aferição dos critérios decisórios e na posterior avaliação dos resultados. Gera-se assim, uma
diferenciação sustentada, aleatória e de grau variável, ou mesmo uma clivagem, entre os objectivos programáticos de uma legislatura e os interesses nacionais que os transcendem, que já existiam e estavam identificados antes dela
se iniciar e que continuarão a existir após o seu termo.
A persistência continuada desta diferença de perspectivas se, por um lado,
não interfere necessariamente, no curto e no médio prazo, com a optimização
dos mecanismos relacionais nem com o desenvolvimento de solidariedades
conjunturais indutoras de resultados positivos na plano da política externa,
envolve, por outro lado, o risco efectivo de desvirtuar gravemente, através do
primado da componente tecnocrática instrumental, os princípios éticos e os
valores comunitários inerentes à actividade política, que devem permanecer
como matriz subjacente à sua formulação e condução, relegando-a para o nível funcional e técnico da necessária gestão executiva.
265
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
A avaliação de resultados em política externa não deverá, portanto, restringir-se ao plano analítico limitado no tempo pela periodicidade sequencial das
legislaturas e da alternância das administrações, sempre influenciadas pelas
contingência do factor humano, ou circunscrito no espaço e no tempo pelas
solidariedades conjunturais. Deveremos acentuar antes, o facto de as referidas
solidariedades serem sempre consideradas segundo uma lógica de identidade
de interesses transitoriamente partilhados, e nunca envolverem sentimentos
nem emoções, cuja natureza é elementarmente incompatível com a racionalidade objectiva exigida pela prática política dos estados, no plano do seu relacionamento internacional.
Torna-se, de facto, essencial, perspectivar a avaliação dos resultados obtidos no longo prazo político, e mesmo na longa duração histórica. Neste sentido, mantendo como constante analítica de que a ideia "chave" da política
externa é o interesse nacional, deveremos acentuar o facto de que, enquanto
referência permanente, o plano dos interesses nacionais fundamentais da unidade política considerada, permite reconhecer não apenas o seu carácter evolutivo e a sua hierarquização dinâmica, mas também a diferenciação entre os
interesses nacionais de afirmação transitória, distinguindo-os daqueles que se
revelam de permanência efectiva. Finalmente, o âmbito da extensão avaliativa
deverá ser alargado ao todo que constitui a realidade concreta da própria comunidade nacional que, nos casos considerados, origina e justifica o estado,
enquanto entidade estrutural que encontra a sua razão de ser no serviço que
lhe prestou no passado, que ainda se verifica no presente, e que deverá continuar a ser-lhe útil num futuro aferido a cada momento da governação.
Relativamente ao passado, torna-se imperativo considerar o seu carácter de
herança irrenunciável,
"que tem de ser assumido, relativizado, integrado e perspectivado na
sua totalidade e coerência próprias, que constituem a base da identidade nacional em termos histórico-culturais" (Santos, 1990, 169).
A densidade matricial consubstanciada e sedimentada por séculos de vivência comum deverá ser um elemento referencial permanente e de actuação
constante, desde o plano de formulação das políticas, ao plano de avaliação
integrada dos resultados. De facto, o passado
"não pode ser objecto de leituras de conveniência. Pesa na conjuntura sem qualquer possibilidade de alteração (... ) [devendo o seu estudo
constituir o] primeiro passo destinado ao entendimento das variáveis
actuando em cada época" (Moreira, 2007, 53).
266
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS EM POLÍTICA ExTERNA
'o, restrintencial das
adas pelas
mpo pelas
s referidas
dentidade
mimentos
racionali:> seu relaados obti\J" este senla política
enquanto
!is da uni'ácter evoo entre os
~les que se
avaliativa
rópria coo estado,
!rviço que
'erá conti;:ão.
:arácter de
) na
'ida-
Llos de vi! actuação
avaliação
ntuudo
lVeiS
Relativamente ao presente e ao futuro, a aplicação das modernas tecnologias da informação e da comunicação ao serviço da indução e do controlo dos
comportamentos sociais individuais e colectivos, tem permitido, por um lado,
a percepção alargada sobre a importância das acções de política externa no
quotidiano da vida das populações e, por outro lado, a evidência sobre a relevância dos fenómenos de interacção cultural, frequentemente expressos em
conflitualidades étnicas, religiosas, nacionais ou outras, mas que também adquirem expressão nos movimentos tansnacionais coordenados, nas sedes sociais e noutras manifestações de uma sociedade civil em processo de globalização.
Com efeito, à medida que as opiniões públicas e os eleitorados, adquirem
consciência de que estatuto de cidadania se projecta para além das fronteiras
políticas do estado a que pertencem, indo ao encontro de uma comunidade
humana global, intensifica-se a percepção de que, também no plano da política externa, os indivíduos têm o direito e o dever de exigir aos responsáveis
políticos, a observância dos compromissos. Esta percepção suscita a exigência
dos eleitorados sobre os governantes eleitos, que deverão assegurar que os
compromissos assumidos externamente sejam perspectivados no sentido da
integração dos interesses específicos das populações, através da formulação e
da implementação da política externa. Esta atitude decorrente da evolução
cultural introduz, por sua vez, um factor analiticamente relevante em termos
da influência exercida sobre os processos e aparelhos decisionais, recordando
que
"é o poder cultural, e não outro, que devidamente ajudado deve presidir aos esforços e acompanhar a evolução" (Moreira, 1981, 5I).
A gestão do presente, em termos de política externa deverá, pois, promover
uma articulação coerente e ponderada entre os tempos, os espaços e as vivências do todo que constitui a comunidade nacional, adaptando-os ao ambiente
relacional, inserindo o estado nos processos inerentes o fenómeno globalizante, orientando-se numa perspectiva de reforço sustentado da identidade cultural da comunidade politicamente organizada, que o estado representa no
plano internacional, através do seu estatuto soberano.
Poderemos, talvez, concluir que o processo analítico, os critérios de aferição correcta das acções e a avaliação objectiva dos resultados em política externa, exigirão sempre a consideração dos factores geoculturais anteriormente
referidos, bem como de princípios éticos, de especificidades culturais, de posicionamentos políticos e de imperativos estratégicos subjacentes à política
geral do estado, na qual a política externa se integra.
267
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExTERNA
Porém, tanto aquela perspectiva como este processo, deverão ser referenciados em relação à matriz valorativa da comunidade nacional que o estado
serve, situada no tempo e no espaço, e que se projecta externamente ao encontro da c01;lUnidade global na qual que se integra, através da respectiva política
externa. E esta política que define e identifica a comunidade politicamente
organizada, que lhe confere uma imagem e identidade próprias perante a comunidade internacional, através da participação consequente do estado soberano nos processos de gestão integrada das interdependências de complexidade crescente, das problemáticas e das soluções inerentes à mudança sistémica,
transformacional e acelerada dos processos globalizantes.
268
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS EM POLÍTICA ExrERNA
er referene o estado
ao enconva política
iticamente
rante a cotado sobeImplexidasistémica,
LEITURAS COMPLEMENTARES
- HERMANN, Charles, 2011, Continuity and Change in Foreign Policy Decision-Making: Sequential Decisions under
Adverse Feedback, London, U.K., Roudedge.
- HILL, Christopher, 2003, The Changing Politics 01 Foreign
Policy, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, u.K., Palgrave Macmillan.
269
ELEMENTOS DE ANÁLISE DE POLÍTICA ExrERNA
WEB O GRAFIA
www.foreignpolicy.com
www.foreignaffairs.com
www.time.com
270
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RES ULTADOS EM POLÍTICA ExrERNA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- MOREIRA, Adriano, 2009, A Circunstância do Estado Exíguo, Lisboa, Diário de Bordo.
___ , 2007, A Comunidade Internacional em Mudança, 3a. ed., Coimbra,
Almedina.
_ _ _ , 1981, "O Poder Cultural", in Nação e Defesa, nO 18, Lisboa, IDNMDN, Abril-Junho de 1981, pp. 41-51.
- SANTOS, Victor Marques dos, 2000, "Reflexões sobre a Problemática da
Avaliação de Resultados em Política Externa", in Discursos. Estudos em Memória do Prof Doutor Luís Sá, Lisboa, Universidade Aberta, 2000, pp.
93-109.
_ _ _ , 1993, "Ordem Mundial e Relações Internacionais", in Nação e
Defesa, nO 68, Lisboa, Instituto da Defesa Nacional, Out.-Dez., 1993, pp.
33-75.
- - - , 1990, "Cultura e Poder. Breves Reflexões sobre o Vector Cultural
do Poder Nacional", in Nação e Defesa, série Portugal - Anos 90, n01,
Agosto de 1990, pp. 165-178.
271
A Análise de Política Externa ("Foreign Policy Analysis" - F.P.A.)
constitui uma área de estudo sub-disciplinar específica, no contexto
disciplinar e académico das Relações Internacionais. O objectivo da
análise centra-se na génese e evolução do estado enquanto actor
das RI, na noção de interesse nacional, nos processos da respectiva
Identificação e consequente conversão em objectivos e linhas de
acção e formas de actuação em política externa, bem como nas formas interacção do estado com outros actores estatais e não estatais.
São analisados, neste contexto, os processos de elaboração e condução da política externa, os seus instrumentos próprios, bem como
a avaliação dos respectivos resultados.
Victor Marques dos Santos
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, concluiu estudos de Pós-Graduação em Política Externa
Portuguesa na mesma Faculdade, e em Formação Diplomática no
ISCSP-UTL. É Mestre em Relações Internacionais e Doutor em Ciências Sociais na Especialidade de Relações Internacionais pelo ISCSP-UTL, onde lecciona como Professor Associado com Agregação. Foi
Director do Centro de Estudos de História das Relações Internacionais
do Instituto de Relações Internacionais do ISCSP-UTL. É membro
fundador da Associação Portuguesa de Ciência Política, e colaborador do Instituto da Defesa Nacional-MDN, do Instituto Diplomático-MNE, da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Academia da Força
Aérea, da Escola Naval e da Comissão Portuguesa do Atlantico.